
Jornaleiro.
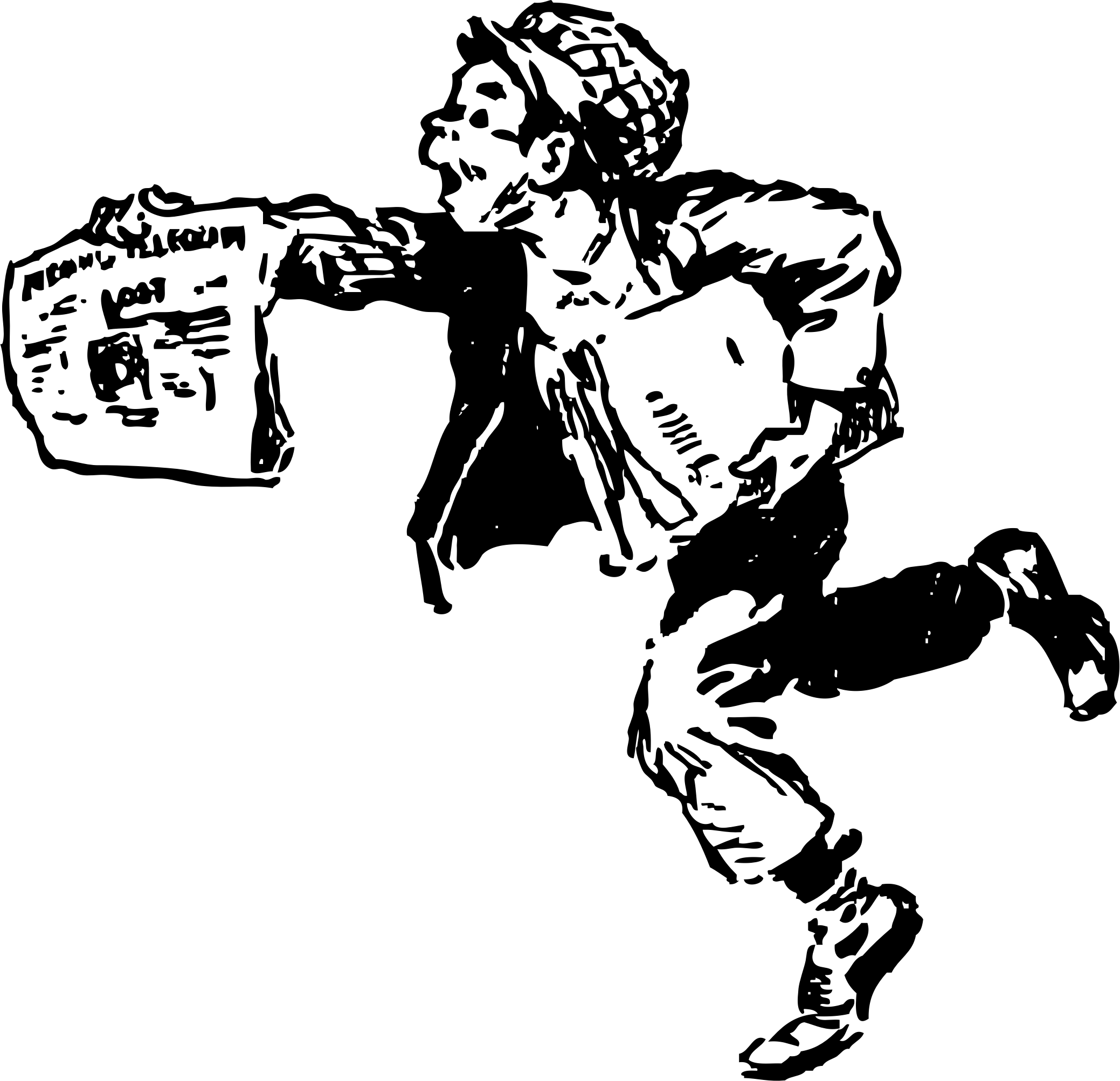 Começo meu “hebdô” com um post-scriptum ao da semana que passou. Se os meus cinco leitores (número mínimo de leitores que Machado de Assis reivindicava para seu Brás Cubas) ainda se lembram, na semana passada eu comentava com “a pena da galhofa” (como diria ainda Machado) o envio, para uma carceragem de São Paulo, de uma mãe que havia acabado de dar à luz depois de ser presa acusada do crime de tráfico de drogas. Foram ela e o bebê. (O que, pensando bem, não deixou de ser uma medida que preservou um mínimo de humanidade nessa história toda: já pensaram no sofrimento muito maior dessa mãe voltando sozinha para a cadeia e pensando no seu bebê entregue aos cuidados de estranhos?…) Ocorre que, no decorrer da semana, o Supremo Tribunal Federal, motivado pelo escândalo que foi a foto dessa mulher junto com seu bebê numa cela, retomou um julgamento pendente e estabeleceu jurisprudência no sentido de que presas grávidas ou mães de crianças com até 12 anos, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça, devem ser “presas” em casa (sim, hoje em dia isso é tecnologicamente possível). Bravo! Daí o post-scriptum: meu comentário desabusado feito há uma semana como que ficou devendo alguma coisa. Feito isso, passo a algumas reflexões supervenientes.
Começo meu “hebdô” com um post-scriptum ao da semana que passou. Se os meus cinco leitores (número mínimo de leitores que Machado de Assis reivindicava para seu Brás Cubas) ainda se lembram, na semana passada eu comentava com “a pena da galhofa” (como diria ainda Machado) o envio, para uma carceragem de São Paulo, de uma mãe que havia acabado de dar à luz depois de ser presa acusada do crime de tráfico de drogas. Foram ela e o bebê. (O que, pensando bem, não deixou de ser uma medida que preservou um mínimo de humanidade nessa história toda: já pensaram no sofrimento muito maior dessa mãe voltando sozinha para a cadeia e pensando no seu bebê entregue aos cuidados de estranhos?…) Ocorre que, no decorrer da semana, o Supremo Tribunal Federal, motivado pelo escândalo que foi a foto dessa mulher junto com seu bebê numa cela, retomou um julgamento pendente e estabeleceu jurisprudência no sentido de que presas grávidas ou mães de crianças com até 12 anos, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça, devem ser “presas” em casa (sim, hoje em dia isso é tecnologicamente possível). Bravo! Daí o post-scriptum: meu comentário desabusado feito há uma semana como que ficou devendo alguma coisa. Feito isso, passo a algumas reflexões supervenientes.
O julgamento no Supremo foi obviamente influenciado por esse caso, mas também por outro já velho de alguns meses. Foram dois casos emblemáticos da realidade brasileira, onde apareceram à luz do dia os tais “dois pesos e duas medidas” tão incrustados nas nossas práticas punitivas. Um deles, o mais antigo, foi a concessão da prisão domiciliar a Adriana Ancelmo (branca, advogada prestigiada, frequentadora de restaurantes franceses caros na época fastigiosa de esposa de Sérgio Cabral), beneficiada pela medida por ser mãe de um filho adolescente de 11 anos; o outro, foi o caso dessa suposta mãe-traficante (mulata, pobre, uma dessas pessoas que consomem na sua dieta de vida o pão que o diabo amassou), enviada de volta a uma enxovia da polícia com um recém-nascido pendurado no peito. No caso de Adriana Ancelmo, é razoável supor que funcionou o que chamaria de uma simpatia de classe; no caso de Jéssica Monteiro (é esse o nome da “mãe-traficante”), é igualmente razoável supor que funcionou o que chamaria de uma indiferença de classe. Ou seja: quero crer (ou prefiro crer) que o juiz que reenviou Jéssica para a cadeia não agiu motivado por um sentimento de crueldade consciente. Acho razoável supor que ele sequer pensou, no sentido forte do termo, no que estava fazendo… Suponho que era, entre tantos, mais um processo na sua mesa, e ele, enfastiado e lembrando-se vagamente do que diz a lei, deu um despacho. É assim que age no mundo moderno a burocracia, que Hannah Arendt qualificou certa vez como a “pior forma de tirana”, porque é “a tirania de ninguém”. É daí que vem o conceito arendtiano de “banalidade do mal”. Ele foi pensado, é verdade, no contexto do julgamento de Eichmann, que no fim das contas não teria sido senão um diligente funcionário do estado alemão designado para organizar um sistema de transporte de judeus para um lugar chamado Auschwitz… Claro, não estou comparando as duas coisas. O inferno, afinal, tem vários círculos, e procuro não confundi-los. Estou apenas chamando a atenção para o fato de que, nas duas situações, parece-me estarmos diante do que Arendt chamou de “banalidade”, e que eu chamei de indiferença – de raça, no caso de Eichmann; de classe, no caso do juiz paulista. A brutal desigualdade no tratamento dado a Adriana Ancelmo e a Jéssica Monteiro, de uma solaridade impossível de tapar com qualquer peneira, levou os ministros do Supremo a uma decisão que já se fazia esperar faz tempo. Ou seja, como Deus, a democracia, às vezes, também escreve certo por linhas tortas.
***
Mas… Ai! ai! Mal termino de desenvolver a tese do benefício da dúvida em relação ao despacho do juiz de São Paulo (ele não teria agido com crueldade, mas com indiferença), um amigo me informa que uma juíza federal daqui de Pernambuco, pelas “redes sociais”, andou tirando sarro da decisão do Supremo, dizendo que daqui pra frente as chamadas visitas íntimas vão “bombar”… Waaal! Essa juíza pensa!
O seu comentário me perturba. Primeiro por se tratar de uma juíza federal valendo-se de uma linguagem de adolescente nas tais “redes”, pântano que não frequento porque, pelo que me dizem, só dá para entrar com galocha até o joelho, sob pena de se contrair alguma leptospirose moral. Segundo, pela desumanidade do comentário. Ele escancara uma visão de mundo típica de classe dominante num país onde as diferenças de classe clamam aos céus; atesta uma deficiência na capacidade tão humana da compaixão. Essa senhora, certamente, não nasceu onde nasceu Jéssica; não cresceu no meio dos esgotos a céu aberto da periferia; não teve, em algum momento da vida (aqui, óbvio, estou emitindo hipóteses ad argumentandum, como gostam de dizer os juristas), de escolher entre, por exemplo, ser empregada doméstica, tornar-se obreira da Igreja Universal ou vender trouxas de maconha que vão ser consumidas por nossos filhos, netos, sobrinhos etc. etc. Mas também filhos, netos, sobrinhos etc. etc. de juízes, procuradores, desembargadores, ministros etc. etc. E paro por aqui, porque essa história de maconha (droga que já experimentei algumas vezes, mas de que nunca gostei) já está me causando uma ligeira indisposição…
***
Em tempo (antes que tenha de começar o próximo “hebdô” com um post-scriptum a este): fui, e continuo sendo, favorável à decisão de mandar Adriana Ancelmo para casa cuidar dos filhos.















comentários recentes