Foi o imortal Marcos Vinícios Vilaça, então presidente da Academia Brasileira de Letras, que me fez a provocação: participar de um Seminário naquela instituição e falar sobre a Feira de Caruaru, numa comparação com a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Da primeira, onde fui poucas vezes, todos conheciam sua fama e sua diversidade.
Na feira de São Cristóvão, lá estive muitas vezes, nos quase sete anos que morei no Rio. Mas, apenas buscando alguns produtos típicos do Nordeste, tais como queijo de manteiga, carne de sol, manteiga de garrafa, seriguelas e outros mais. Uma mistura de saudosismo com fidelidade ao chão natal.
Aceitei o convite de Vilaça. que havia chamado para conduzir o seminário o também acadêmico, Marco Maciel, já sem mandato, pois havia perdido a disputa pelo Senado em Pernambuco. E, sem que soubéssemos, com os primeiros sintomas do Alzheimer, conduzindo com muita dificuldade o evento.
Comecei lembrando o poema “Feira de Vender”, do saudoso poeta pernambucano Marcus Accioly, cujos versos são os seguintes:
O povo vindo/ Na cambiteira, caminhões, cavalos/
O sol-manhã de dia-de-domingo/O buranhem soltando seus estalos/
Raparigas, soldados de polícia/O jogo, o fumo, a carne, o mulatinho/
A rapadura, o querosene, as chitas/os meninos vendendo passarinhos/
O espelho-luz de lâmina das facas/o dia entrando pelos candeeiros/
A bicada esfriando nas garrafas/a prosa simples dos raros encontros/
E um cego ponteando o dia inteiro/ uma viola com dois olhos brancos.
Essa seria uma descrição sentimental e erudita da Feira de Caruaru, instituição que desde o dia 06 de dezembro de 2006 se tornou patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro. Título concedido pelo Ministério da Cultura, através do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. A mesma feira que Luiz Gonzaga imortalizou, cantando os versos simples e despojados de Onildo Almeida, segundo quem “a feira de Caruaru faz gosto a gente ver/de tudo que há no mundo/nela tem prá vender”.
É uma pena que o ceguinho de Marcus Accioly, com sua viola e seus olhos brancos não consiga ver as feiras que se misturam e se confundem – todas elas objeto de estudos e admiração de personalidades como Luís da Câmara Cascudo e Gilberto Freyre; instituições que salpicaram gotas de inspiração na criação do Movimento Armorial por Ariano Suassuna.
Aliás, foi a Feira de Caruaru que revelou a arte melódica do pífano e a coreografia dos bacamarteiros, e que fez do chapéu de couro um dos ícones que representam a figura do caboclo do Sertão.
Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, abrigada no Pavilhão de São Cristóvão, outra feira famosa resistia. Era mais nova e mais “bem-produzida” do que aquela outra – embora ambas tenham surgido de geração quase espontânea, sem regras e sem imposições, para crescer pela vontade da sabedoria popular, que dita os rumos e os caminhos do mundo. E ambas lá estão, até agora. Não dá pra saber se são comércio ou laboratório – mas se sabe que nelas se vende e se compra quase tudo, da mesma forma que se ensina e se aprende muitas lições de vida.
Um estudo da pesquisadora Lúcia Gaspar, da Fundação Joaquim Nabuco, afirma que a Feira de Caruaru nasceu há mais de 200 anos. A sua origem se confunde com a história do povoamento do Agreste pernambucano. O local era ponto de parada para os tropeiros que traziam gado desde o Sertão até o Litoral; e dos mascates que faziam o percurso inverso. Ali, naquela confluência, se comprava, se vendia e se trocava – reinava o escambo quando escasseava a moeda. O pequeno povoado, que mais tarde daria origem à cidade de Caruaru, foi crescendo e com ele se foi solidificando aquele comércio empírico.
Já a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, a coisa é bem mais nova. Nasceu no final de Segunda Guerra, quando retirantes nordestinos chegavam à capital federal em busca de parentes e de trabalho. Transportados em “paus-de-arara”, eram “descarregados” no Campo de São Cristóvão, sendo recebidos por parentes e amigos, com os pratos e as músicas típicas do Nordeste. Depois de uma viagem estafante, era chegada a hora do reencontro, com uma boa carne-de-sol, uma dose de cachaça, um sarapatel e uma buchada de carneiro. E isso começou a despertar, também, a curiosidade dos cariocas e a atração de outros nordestinos que já estavam no Rio há bem mais tempo. E a feira de São Cristóvão foi se consolidando.
Na minha longa caminhada como repórter, estive, muitas vezes, por dever de ofício, em muitas feiras e mercados famosos – desde Manaus, no extremo-norte; até Porto Alegre, no extremo-sul. O Mercado Público de Manaus, por exemplo, é um microcosmo do Mundo Amazônico, com suas ervas medicinais, seus peixes salgados, suas serpentes venenosas conservadas em formal dentro de uma garrafa transparente, com que finalidade eu não descobri, e mais cocares indígenas, arcos, flechas, mel de abelha nativo e o que mais se possa imaginar, com cheiro e gosto do vasto mundo amazônico. Já o Ver-o-Peso, em Belém, onde se vendem e se compram as mais variadas espécies de peixes frescos e de frutas amazônicas, paira no ar um doce cheiro de alecrim. E quem quiser saber dos mistérios profundos da Bahia, que procure o Mercado Modelo, sob a proteção de todos os orixás e de suas mães-de-santo, cujas bênçãos protegeram muitas cabeças coroadas. Do outro lado, em Porto Alegre, nas proximidades da Rua da Praia, o mais famoso mercado público do Rio Grande do Sul é pródigo na comercialização de erva-mate e carne seca, de arreios e bombachas, de cuias de chimarrão e facas de trinchar churrasco. São mercados diferentes, mas mercados, cada um refletindo os costumes de cada povo. Diferentes das feiras livres, os mercados remontam à época medieval, mas perpetuam a cultura da compra, da venda, do escambo e da pechincha. Nem sempre tão higiênicos, mas, assim como as feiras, nenhum programa do mundo digital, pelo menos até agora, ameaçou sua sobrevivência. E nessas feiras eu vi coisas interessantes.
Em Belém, acompanhei um “descarrego” de peixes que saiam direto do ancoradouro para as barracas do Ver-o-Peso. O dono do barco era um patriota, naquele tempo de AI-5 e de muito medo acumulado. Nesse pequeno barco, o proprietário hasteou uma “bandeira” brasileira, que a sua própria mulher havia confeccionado. As cores, meio desbotadas, eram as que se conhece. O problema foi colocar ali o “Ordem e Progresso”. Por falta de tecido ou de espaço, a patriótica costureira não pensou duas vezes: Costurou e colou o “Ordem”, mas como o tecido acabou, ela não “titubeou” : no lugar de “Progresso”, a bandeira ganhou apenas um “Prog.”com um ponto depois do “g” e ninguém contestou o seu patriotismo.
Foi na feira de Caruaru que vi em camelô de muito estilo oferecendo aos passantes “o legítimo óleo do peixe-elétrico” que, segundo ele, servia de Instrumento de cura para reumatismo e dor na coluna; esporão e dor de ouvido; artrose e artrite; bursite, espinhela caída, contusões de todos os tipos e feitios. De lado, numa barraca improvisada, era possível comprar couro de cobra curtido, arreios, chicotes, selim, gibão de couro e outros apetrechos que não se encontram em nenhum outro lugar neste mundo de Deus.
Também não se pode esquecer que a Feira de Caruaru deu visibilidade ao grande Mestre Vitalino, ceramista popular e bom tocador de pífano, pai e inspirador de todos os ceramistas do Nordeste. Vitalino nasceu em 1909 no distrito de Ribeira dos Campos, morava no Alto do Moura e vendeu suas primeiras peças justamente na famosa feira: o Violeiro; Enterro na Rede; Cavalo Marinho; Casal no Boi; Noivos a Cavalo; o Caçador de Onças e outras mais. E um detalhe: Vitalino não queria ser ceramista: seu sonho era ser soldado da Polícia Militar, falar grosso para os desordeiros e prender os bêbados que perturbavam a paz. Grande Virgolino! Hoje a Feira de Caruaru continua – e nela só não se encontra pra vender as esperanças antigas do pai de todos os ceramistas nordestinos.










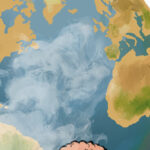



comentários recentes