Acordo no meio da noite e, desobedecendo a orientação da minha nutricionista, preparo um copo de leite com Nescau. Começo a sorvê-lo lenta e deliciosamente com um prazer infantil de quem faz uma trela…. às memórias vêm aos borbotões, como se o inconsciente estivesse de ressaca, vomitando em golfadas os afetos e lembranças recalcados da infância.
Alguém grita:
— Primeiro!!
Outro,
— Segundo!
Mais um,
— Eu já disse segundo antes de você.
— Mas ninguém ouviu, prove!
Estávamos em um dos quartos da Casa da Fazenda Vazante, a mais próxima de Caruaru, onde toda a família, junto com primos e amigos, passavam a invernada das férias de julho. A gritaria, neste quarto amplo e cheio de camas e beliches, ocorria todos os dias às cinco horas da manhã. O motivo? Ser o primeiro na fila do leite das vacas ordenhadas por José Valentão que, às 4:30 já estava na labuta separando os bezerros das vacas.
Nossas mães preparavam os copos com porções de Toddy e saíamos em fila indiana, alguns vestidos ainda de pijama de flanela, em direção à vacaria: Mimosa, Pretinha, Malhada e muitas outras. Zé Valentão as chamava pelos nomes e elas o obedeciam numa cumplicidade mágica para mim. O clima frio, o marmeleiro ainda com o orvalho cobrindo suas folhas, as cocheiras e os currais cheios de gado, o leite ainda quente, que vinha espumando devido aos jatos das tetas manuseadas com maestria por Zé Valentão, — nem precisava mexer com a colher— era bebido com a mesma avidez com que bebíamos a vida na infância.
O indefectível e maravilhoso cheiro de bosta de boi coroava o cenário.
O dia estava apenas começando. As aventuras trançavam o tempo em momentos de excitação e prazer, como a caça ao preá. O cachorro que pertencia a um dos moradores, era rápido e certeiro e, por engenhosidade de alguém, deram-lhe o nome mais adequado que se poderia imaginar para um cão de caça: Vai. E Vai ia. A gente gritando vai Vai! vai Vai! (no meio do capim elefante), correndo com dificuldades para alcançá-lo na beira do Rio Ipojuca. Vai pulava e desaparecia pelo meio daquele emaranhado e quase sempre saia com um preá na boca.
Outra forma de caçar o delicioso rato do mato – sim, o comíamos assado no sal e brasa na casa de Seu Ireno, que sempre tinha paciência para nos receber e fazer o fogo com a lenha apanhada no terreiro — era preparar as aratacas, armadilhas rústicas, engenhosamente preparadas por nós. Trançadas com pequenos gravetos, fazíamos as tampas em formato retangular; depois saíamos, qual Sherlocks Holmes a investigar milimetricamente uma vasta área do cercado até identificar o caminho que as pequenas criaturas deixavam no seu vai e vem para se alimentar e caçar. Era possível identificar os rastros pelas marcas dos pezinhos, e deixávamos, à noite, as armadilhas prontas para a captura, cavando um buraco no meio das minúsculas trilhas. Um graveto apoiava a tampa aberta tendo, na outra extremidade, uma base de pedra; os preás, confiantes na segurança das suas trilhas, quando saiam à noite para se alimentarem, quase todos apressadinhos, batiam no pau que suportava a tampa e caiam no buraco, não muito profundo, mas suficiente para, com a tampa presa por cima, aprisioná-los. No outro dia fazíamos a coleta, metendo a mão na cumbuca e, rapidamente, torcendo-lhes o pescoço, para matá-los.
***
O Rio Ipojuca, que no inverno era uma beleza, serpenteando toda a extensão da Vazante, vinha lá das bandas de São Caetano e seguia atravessando toda a cidade. A pescaria tinha sempre um ritual, para muitos, nojento, que era apanhar as minhocas no leeiro de Zé Damião. Havia uma arte em enfiar a minhoca no anzol e, quase sempre, a paciência e o trabalho eram recompensados pelas piabas, traíras e acarás que pescávamos. Se déssemos sorte, podíamos pescar um muçum, espécie de enguia preta que vivia nas margens do rio. Assado no toicinho e servido com farinha, comíamos com sofreguidão, aos punhados.
Zé Damião tinha uma casa no extremo norte dos limites da Vazante e plantava coentro, alface, cebolinho, quiabo e tomate para vender na feira. Passava, com a regularidade de um relógio, montado em sua burrinha, coitada, espremida pelo peso dele que era gordo e careca e tinha um caso, soube depois, com Maria Dadá, minha babá. Pois bem, a jumenta com seu passo pinicado parecia os ponteiros de um relógio, com sua passada constante, levando Zé Damião para cidade de manhã e o trazendo a tardezinha, quase anoitecendo.
É muito viva em mim esta volta, por que era a Hora do Ângelus na Rádio Difusora, declamada em tom lacrimosamente solene por Alziro Zarur. Esta era também a hora do coaxar dos sapos; do cheiro de café feito por Dadá no velho coador de pano, que se espalhava e me alcançava na rede da varanda. Na frente da casa, um único poste de luz amarela e fraca preparava o cenário para a burrinha de Zé Damião passar. E lá vinha a dupla, ele com os pés quase arrastando no chão, a barriga enorme e a burrinha firme e forte sem alterar o ritmo do seu trote. Cumprimentava-nos à moda antiga, tirando o chapéu de palha, e seguia estrada adentro. Nesta estrada, 400 metros depois da Casa da Fazenda, tinha uma cova com uma cruz sinalizando que alguém morrera de morte matada. Todos respeitavam e se benziam quando passavam por lá, principalmente à noite.
Não lembro bem do texto da oração do Ângelus, sei que começava com a Ave Maria, mas sentia uma angústia gratuita de tanta culpa e perdão que se falava. Era como se fosse pecado existir e ser feliz. Isto me acompanhou até a vida adulta. Não podia ouvir aquela oração que uma tristeza inexplicável me invadia.
Lá em cima, a Vazante ficava num vale, passavam os caminhões de carga na pista (era como chamávamos a BR232), fazendo com que o barulho característico de seus motores, ampliados pelo eco do vale, nos envolvesse. Dormíamos embalados ao som destes motores ecoando pelo vale, que vinha bem baixinho das bandas do sertão, ia subindo, subindo, subindo… para depois, baixar, baixar, baixar… e desaparecer rumo a cidade. Após curto intervalo de um silêncio total, outro caminhão pegava o bastão, como se tivessem combinado, e começava tudo de novo.
***
Foi lá que aprendi, sozinho, a andar de bicicleta. Pegava a velha bicicleta Hércules de meu pai, subia empurrando ladeira acima, aprumava um dos pedais num degrau da casa de um morador que não lembro o nome. (Só me lembro que lá comia feijão em punhados com farinha, misturado com coentro, cebolinha e um pouquinho de pimenta. Tudo amassado com a mão e com a mão comíamos.) Meu método de aprender a andar de bicicleta era bastante eficaz, porém muito doloroso. A ladeira era um estreito corredor com cercas de arame farpado e aveloz, que ia dar na entrada da Casa da Fazenda. Munido de coragem e do desejo enorme de aprender a andar na magrela, impulsionava a bicicleta e me lançava ladeira abaixo. Só tinha duas opções: acertar no equilíbrio e ir direto até a entrada da fazenda; ou … Obviamente foram necessárias duas ou três tardes da segunda opção, caindo, levantando e empurrando a bicicleta ladeira acima até que, no terceiro dia, entrei triunfalmente, todo lanhado, sob o olhar animado dos moradores, no pátio da Vazante.
A vida, mais tarde, me mostraria que as quedas e recomeços não eram privilégio da infância.
Julho, 2014
DITOS & ESCRITOS
João Rego
joaorego.com




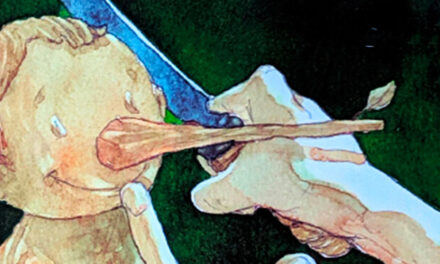










Foi na fazenda Vazante, que eu pesquei o primeiro peixe de minha vida um “Carito” apesar da pouca idade, lembro perfeitamente,a casa,os móveis toda vez que eu passava na “Pista”(BR 232)me vinha na mente um “trailer” dessas doces lembranças, certo dia ao passar na “Pista” num ponto alto da estrada onde se tem uma bela vista da Vazante, parei para fotografar esse lugar que tanto marcou positivamente a minha vida, aí sim me veio em mente,ao invés do “trailer” (das minhas passagens por lá em velocidade) me veio o filme completo dos belos e inesquecíveis momentos, de minha infância, fotografei a Vazante,e correu uma lágrima no rosto(creio que foi um cisco) respirei fundo entrei no carro, era um sábado ensolarado, acionei o motor e segui, com a alma renovada, com a sensação boa de quem assistiu um belo filme, abração João Rego!!!
“A vida, mais tarde, me mostraria que as quedas e recomeços não eram privilégio da infância”.
Vou contar isso pros meus filhos e netos!
Também ‘fui do interior’, Nazaré da Mata, e sei exatamente como identificar em micros segundos ‘O indefectível e maravilhoso cheiro de bosta de boi’. Também já comi preá e tanajura. A vida no interior persiste em todo interior da minha vida!e se um dia ela me abandonar vou pedir teu cachorro emprestado e vou atras de vai…vai…vai!!!
Grande abraço João
Caros Fávio e Ronaldo:
O sentido de uma crônica como esta é não só dar conta do que foi vivido mas, acima de tudo, compartilhar isto com o outro. Se neste gesto, o outro se identifica e se emociona é o maior prêmio para quem escreve.
Um forte abraço,
João Rego
Prezado João Rego, sempre fui menino urbano. Minha rara experiência rural deu-se no Engenho Quanduz, em Vitória de St. Antão. Gleba de seu Otavio, primo de meu pai. Lá passei férias pra saber o que era a vida bucólica do campo. Tomei água de quartinha. Vi tirar leite de vaca. Cavalguei terras e paisagens. Cavalgadas de morrotes e vales, semelhantes àquelas que, como você, eu não imaginava cavalgar.
Ô João. Isso que você escreveu é, na verdade, mais poesia que crônica! Filho da mãe, marejei os olhos quando li. As quedas e recomeços continuam até aos meus 86 anos bem vividos. Um dias desses, uma pessoa me perguntou se eu tinha mestrado ou doutorado e respondi-lhe na bucha: “Eu tenho VIVERADO!” Deus nos abençõe por essa maravilhosa evocação, meu caro João.
“Não foram, não, os anos,
que me envelheceram,
longos, lentos, sem frutos,
foram alguns minutos”…
(Cassiano Ricardo)