A mãe de Jânio tinha um olho de vidro. Todas as vezes que ia brincar com ele em sua casa, ficava meio arredio quando ela se aproximava de mim. A casa ficava dentro da Vazante em um lugar privilegiado, um ponto elevado olhando a curva do Rio Ipojuca, tendo ao lado um frondoso pé de umbu cajá, de um tipo raro de umbu, meio rugoso, de forma irregular, porém doce e ácido ao mesmo tempo — assim como as pessoas e a vida.
Seu pai —embora venha sua imagem perfeita em minha memória, é impossível recordar seu nome — era um tipo de xamã do agreste, um curador-de-cobra, a quem todos chamavam quando mordidos ou para ajudar a lidar com as bichas, quando encontradas. Uma vez, eu estava com papai na Olaria da Vazante. Ele havia ido transportar um “carrego” de tijolos na camionete cinza Willys e estávamos esperando o pessoal carregá-la, quando um deles encontrou duas cobras enroscadas brigando — lembro que eram enormes e uma delas era preta. Chama-se correndo o pai de Jânio.
Lá vem ele, baixo, moreno, tinha um biotipo — destaco agora— muito parecido com um indiano. Aliás, toda a família era muito parecida com os indianos: a mãe, Jânio e as irmãs. Se transportássemos todos para o interior da Índia, numa daquelas vilas a beira do Ganges, ninguém iria notar que eram do agreste de Pernambuco. Ele chega com naturalidade e total confiança em seu poder sobrenatural— diz-se que são imunes a qualquer tipo de veneno de cobra— mete a mão no meio dos tijolos e pega as duas cobras, ainda enroscadas uma na outra, em feroz embate. Separa uma delas, e a outra, pegando pelo rabo e, rodando no ar— zum, zum, zum — estoura sua cabeça em uma pedra. A primeira, deixara ir, explicando que era cobra do bem, sem veneno, portanto sem possibilidade de fazer mal a um homem ou animal. Para minha surpresa, comecei a entender que a dicotomia entre bem e mal existia, aos olhos do sábio xamã, também na natureza e não apenas entre os homens.
Aos sábados, quando o pai de Jânio ia para a cidade receber seus proventos, ficava sentado num banco de madeira na frente do escritório de meu pai. Sempre tranquilo e contido no falar, levava consigo uma pequena e venenosa cobra coral que ficava carinhosamente enroscada em seu braço. De vez em quando alisava a sua colorida cabeça, aí era que a bichinha se aninhava nele, como se estivesse pedindo mais carinho.
Seu Natalício!!! Era esse seu nome! Finalmente, depois de tanto remexer nas minhas memórias com este texto, o nome me veio à mente.
Foi Jânio, seu filho, quem me ensinou que em nossas caçadas de baleadeiras podíamos matar todos os passarinhos, menos dois: um, porque era impuro; outro, porque era sagrado. O primeiro, o Anu-preto, pássaro de médio porte, que comia os carrapatos nos lombos dos bois, aranha e tudo que era bicho peçonhento. Por isso, era considerado impuro para o consumo humano. O outro era a Lavadeira, um passarinho branco com listras pretas nas asas e que, como se alimentava de pequenos peixes, vivia sempre na beira do rio, entre as baronesas. Jânio, que tinha a minha idade, me dizia com seriedade e a convicção ingênua e bela daqueles que têm fé:
— Elas estão sempre nos rios ou nos lagos por que estão lavando o manto sagrado de Nossa Senhora, mãe de Jesus.
Me esforçava para ver aquilo que ele dizia, talvez até sentir, mas em vão, não conseguia ver além de um simples pássaro na beira do rio. Este é o destino dos céticos, uma natureza nua e crua sem fé nem fantasias.
Julho, 2014
DITOS & ESCRITOS
João Rego
joaorego.com


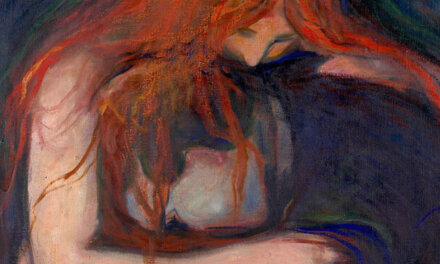













João muito bom continue com suas crônicas pois voltamos a exercitar as nossas lembranças de nossa infância. Um muito obrigado e braço.
entre cobras e passarinhos. uns merecem desaparecer porque fazem tudo de ruim outros preservados porque equilibram a natureza.
reportando-me ao que vivemos hoje o perigo é eminente.
existem cobras e cobras, passarinhos voam e são baleados.
o que fazer?
Li sem interromper o texto, parecia não perceber os pontos e as vírgulas. Um breve tempo de sutileza nesta manhã, um dia antes da eleição. Benditas sejam as memórias de todos os meninos que tiveram uma cidade do interior em seu caminho. Desconfio de que Seu Natalício ainda cuida do manto de Nossa Senhora. Que nos abençoem e às lavadeiras. Abs.
Linda crônica, lavadeira lembrei da minha infância na fazenda do Pai Amaro (meu avô), lá tb tinha uma empregada que era “curada” de cobra! Parabéns João Rego!
Pois é, eram os dois que eu livrava também. A Lavadeira pelo mesmo motivo, mas o Anu-preto nem sabia o motivo. O resto is pro borná!
Meu caro João,
Suas crônicas evocativas continuam despertando interesse em todos os que tiveram vivências parecidas. Homenageio-o com dois comentários.
1) As “lavandeiras” passavam mesmo por abençoadas de N. Senhora, e ninguém as molestava. Mas os anuns – pretos ou brancos – deviam ser poupados não porque seriam impuros, mas porque são úteis: comem os carrapatos dos bichos, e as lagartas de coqueiro, aliás como também os bentevis.
2) Sem deslustre para o seu “xamã” caboclo, as cobras não se enrolam para brigar, mas para copular, é o mais provável que estivessem fazendo. E se fossem pretas, seriam provavelmente muçuranas, inofensivas e até úteis: comem as venenosas (há uma foto famosa no Instituto Butantã, de uma muçurana engolindo uma cascavel, que vi reproduzida num livro do meu pai, agrônomo e pequeno fazendeiro). E a coral que o xamã levava consigo devia ser da variedade não-venenosa, quase igual à outra, cujo veneno é terrível.
Explicação para a minha familiaridade com ofídios: meu pai, vez por outra, trazia cobrinhas inofensivas (verdes, “corre-campo”, etc) para que eu e meus irmãos brincássemos com elas…
Fiz uma viajem a infância vivida nas fazendas, lembrei-me bem das lavadeiras de nossa senhora a margens dos açudes.
Parabéns.
João,
Acordei hoje precisando ler uma história bonita para ficar um pouco mais na cama já que a neblina lá fora, aqui na Covilhã, não permite enxergar sequer a igreja vizinha, muito menos ir ao café.
Foi então que achei esse seu texto tão bonito na coluna de opções aleatórias. Apesar das ponderações pertinentes de Clemente – proficiente nas coisas da cidade e do campo -, a história é boa.
Abraço,
FD
Caro Fernando
Como diria Orson Welles, foi tudo verdade.Vais ficar muito tempo em Portugal?
Abraços
João,
A veracidade – tão cara a Helga – salta aos olhos. Lembra uma cena de Ébano – do já aludido polonês Kapuscinsky – que está no relato “O coração da cobra”. Ambos são primores de tensão.
Quanto à versão de Clemenete, de que estariam copulando, me ocorreu que uma coisa não invalida a outra. Especialmente aos olhos de uma criança. Copulando ou brigando são duas faces da mesma moeda.
Sim, estou mais perto da volta do que da chegada, amigo. E às suas ordens por aqui para o que quiseres. Desde um livro de Pessoa a uma guitarra portuguesa – já que és seresteiro.
Abraço,
FD
Que beleza Fernando. A guitarra portuguesa é um dos mais belos instrumentos de corda, mas assim como uma bela e misteriosa mulher, é preciso conhecê-la a fundo, sob pena de nos enredarmos em suas cordas. De qualquer maneira fico agradecido pela sua boa vontade.
Abraços
João,
Agora entendo porque eles dizem que os bons guitarristas estão em virtual extinção. E que os virtuoses morrem cedo.
Abraço,
FD