
O Astrônomo (Vermeer).
Em meus primeiros anos no Recife, início da década de 1960, costumava ouvir, em programas radiofônicos, matéria promocional dos usineiros de açúcar, que repetia o bordão: “Quarenta e seis usinas representam a própria economia do Estado”. E era verdade. Hoje, passado mais de meio século, quando restam ativas menos da metade dessas usinas, e o açúcar deixou de ser o primeiro produto de exportação do Estado, a realidade é bem outra.
Também nas regiões do Agreste e do Sertão, os grandes latifúndios de criação extensiva de gado têm perdido importância. Uma pecuária mais racional começa a prevalecer, a agricultura irrigada ganha espaço onde é viável, outras formas de atividade econômica empregadora de mão de obra vão surgindo. Entre estas, o turismo bucólico, religioso ou de aventuras: Gravatá, Taquaritinga, Triunfo, o Brejo Paraibano, Nova Jerusalém, a Pedra da Boca, a Serra Negra, o Vale do Catimbau, os sítios arqueológicos do Piauí. Mas o caso emblemático é mesmo o do Lajedo do Pai Mateus, do município de Cabaceiras, na sub-região mais seca do Nordeste, o Cariri Paraibano, que se converteu em centro de produção cinematográfica.
Vale lembrar que o perfil de usineiros e grandes fazendeiros não diferia muito. Ambos eram “senhores de baraço e cutelo”, pouco valendo o matiz de industriais dos primeiros. Os fornecedores de cana, então, antigos donos de engenho decaídos, eram ainda mais reacionários. As reivindicações dos camponeses consistiam, basicamente, no fim do “cambão” (dia de trabalho gratuito para o dono da terra) e da “meia” (entrega ao patrão de metade da colheita). As dos trabalhadores agrícolas da Zona da Mata, o simples cumprimento da legislação trabalhista, então recentemente estendida ao campo. Para isso, multidões se deslocavam para fazendas ou cidades, retirando-se ao final do dia, famintas e extenuadas.
Foi diante desse quadro que o velho PCB formulou a sua linha política: a fase da “revolução brasileira” era “anti-imperialista e antifeudal”. Só vencida essa etapa, em que tínhamos a “burguesia nacional” como aliada, é que se poderia lutar pelo socialismo.
Passados tantos anos, que cenário se nos apresenta? Falar em imperialismo saiu de moda, seja porque nossos governos já não são tão subservientes ao “império”, seja porque crescemos industrialmente e temos também as nossas multinacionais, seja enfim porque capitalistas nacionais e estrangeiros não mais se diferenciam. Casos típicos de empresários brasileiros em confronto com americanos, como os de José Ermírio de Morais e Herberto Ramos, já não se verificam. Por outro lado, as relações feudais no campo parecem extintas, e o poder político de usineiros e “terratenientes” está em franco declínio. Temos ali agora uma liderança mais civilizada.
Vivemos, portanto, um novo capítulo da história das relações entre cidade e campo. Este agora, num contexto de modernização, se nos apresenta com duas faces: o agronegócio e a agricultura familiar. Embora ainda ocorram conflitos, nem os “terratenientes” nordestinos têm mais a antiga truculência, nem os camponeses têm o mesmo perfil de antes. Em lugar das faces encovadas, dos chapéus rotos de palha dos que varavam o dia, sem comer, em caminhadas de protesto, vemos gente robusta, em trajes urbanos, devidamente abastecida por um razoável sistema de logística, invadindo terras supostamente improdutivas, ou então – o que é lamentável – destruindo imóveis públicos e laboratórios de pesquisa.
Não é nosso propósito apresentar aqui fórmulas de gestão desses conflitos. Uma coisa é certa: como não parece razoável ter-se como meta uma produção agrícola nacional totalmente apoiada em culturas de subsistência, deverá haver espaço para ambas as alternativas: o agronegócio e a agricultura familiar.
Nosso ponto é apenas o seguinte: o “coronelismo” conservador e arbitrário do nosso mundo rural é coisa do passado.




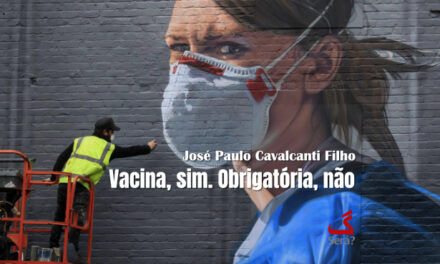










comentários recentes