
Dona Benta e Tia Anastácia – Personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo.
Este pequeno ensaio nasceu a partir de um debate recente que tive com um velho amigo[1] a respeito do racismo de Monteiro Lobato. Foi um debate pequeno, íntimo e um tanto extemporâneo, pois debate mesmo, de âmbito nacional, houve pelos idos de 2010, quando a questão do racismo do autor tão querido do Sítio do Picapau Amarelo (inclusive por mim) apareceu aos olhos do até então desinformado grande público (inclusive eu) depois que militantes do Movimento Negro levantaram a lebre ao denunciar o racismo explícito do autor em passagens como aquela existente no livro Caçadas de Pedrinho, em que Tia Nastácia, a agregada negra do sítio, é descrita como “uma macaca de carvão” ao trepar num mastro. O caso, bastante midiatizado, é suficientemente conhecido para que nele me detenha. E talvez porque a questão do racismo nunca tenha figurado entre os meus temas de pesquisa, acompanhei-o com interesse, certo, mas a uma certa distância – apenas como um “espectador engajado”, como se definiu certa feita o pensador liberal francês Raymond Aron. Recentemente, contudo, encurtei a distância e me interessei mais pelo assunto a partir do debate que se instalou entre mim e o meu amigo.
Ele nunca tinha lido Lobato, me disse. E sua iniciação, devo reconhecer, foi pelo que de pior pode haver no autor: o romance O Presidente Negro, que eu tinha lido na minha longínqua juventude e do qual sequer me lembrava. Sua leitura não foi motivada pelo debate de dez anos atrás, mas por uma razão bem casual: interessado, como pesquisador em direito constitucional, na emergência e chegada ao poder mediante processos eleitorais de movimentos políticos fundamentalistas (fenômeno de que a eleição de Donald Trump na mais longeva democracia do mundo ocidental tornou-se um exemplo paradigmático), andou lendo autores que tinham ficcionalizado essa situação, a exemplo de Philip Roth que em Complô contra a América trata da eleição de um candidato simpático ao nazismo nas eleições americanas de 1940, e de Michel Houellebecq que em Submissão trata da eleição de um presidente muçulmano na França nas eleições futuras de 2022. Navegando pela blogosfera, tomou conhecimento do livro do autor brasileiro, o primeiro que havia previsto a eleição de um negro ao cargo mais importante do mundo – o que de fato veio a ocorrer com a eleição de Barak Obama, em 2008. Foi lê-lo. Por conta do debate de 2010. ele também já tinha alguma notícia a respeito do racismo de Monteiro Lobato, mas ficou horrorizado. Por essa razão, fui relê-lo[2], e também levei um susto! Para quem não conhece o livro, lembro rapidamente que se trata de uma science fiction à maneira de H. G. Welles, celebrado autor de A Máquina do Tempo. Um Lobato ambicioso e autoconfiante sonhou em repetir o seu sucesso, apostando alto. Escrevendo no ano de 1926, projetou sua imaginação mais de trezentos anos à frente e ficcionalizou a vitória de um presidente negro nas eleições americanas de 2228. O narrador brasileiro do livro, cujo tempo “real” se passa três séculos antes dessa eleição, “vê” os acontecimentos que descreve através de um “porviroscópio”, engenhoca inventada por um amalucado cientista de Nova Friburgo. A trama descrita no livro vai aqui rapidamente sumariada.
Em 2228, o “choque das raças” (subtítulo do livro por sinal) entre negros e brancos nos EUA chega a um momento crucial com as próximas eleições presidenciais. Os primeiros, graças a uma taxa de fertilidade bem maior, tinham praticamente chegado a compor metade da população. Um programa governamental de despigmentação já existente de longa data, ao qual os negros aderiam de boa vontade, tinha praticamente embranquecido a população inteira. Mas os novos brancos eram vistos com desdém pelos seus compatriotas como “baratas descascadas”. Além do mais, o cabelo permanecia a carapinha que sempre fora; os lábios, grossos; e o nariz, achatado. A clivagem racial era visível e permanecia. Os ódios, também. Em 2228, o eleitorado branco está dividido entre o partido dos homens e o partido das mulheres, e o eleitorado negro, votando em bloco, se torna majoritário e ganha as eleições! Antes da posse, entretanto, homens e mulheres se reconciliam numa “Suprema Convenção da Raça Branca” e arquitetam um plano para solucionar o problema. Ainda no poder, o presidente branco lança pelo país inteiro uma campanha de alisamento dos cabelos da população negra, através da aplicação de uns miraculosos “raios Ômega”. Seria mais um “estágio” no processo de “aperfeiçoamento físico da raça”. Os negros fazem fila nos “Postos Desencaparinhantes” para receber o tratamento, de modo que em poucos dias mais nenhum deles traz consigo os dois traços mais salientes do “estigma de Caim” supostamente decretado na Bíblia: a pele escura e o cabelo pixaim. Na véspera da posse do candidato vitorioso, o presidente branco derrotado vai visitá-lo para lhe comunicar a notícia terrível do fim do seu povo: os negros estavam condenados à extinção porque os “raios Ômega”, ao mesmo tempo que alisavam o cabelo, esterilizavam os que recebiam o tratamento! Abalado, o candidato eleito desaba morto. Novas eleições são realizadas e o presidente branco é reeleito. Os “raios Ômega” eram realmente eficazes: menos de um ano após sua aplicação, “as estatísticas só registravam 132 negrinhos novos”. Os brancos tinham posto um “ponto final” no problema racial americano.
Ao fim da leitura, partilhava com meu amigo, num primeiro momento sem nenhuma restrição, o sentimento de que Lobato era um autor racista e mesmo um supremacista branco. O Presidente Negro, concluí, era realmente um livro horroroso, na forma e no conteúdo. Na forma porque, como um típico “romance de tese”, derrapava facilmente no maior perigo desse tipo de produção: a artificialidade. Nesse gênero, os personagens se comportam como títeres de idéias, geralmente em confronto, que o autor pretende discutir, mas para defender uma delas, que ao final, et pour cause, se apresenta vitoriosa. Empresas desse tipo costumam falhar na qualidade literária no texto e na verossimilhança nos tipos humanos, já que funcionam como simples porta-vozes das idéias em confronto. No caso, os personagens-títeres são Ayrton Lobo e Miss Jane. O primeiro é um brasileiro entusiasmado com a solução nacional para o problema do “choque das raças”, a miscigenação, reverberando uma tese muito em voga na época:
A nossa solução foi admirável. Dentro de cem ou duzentos anos terá desaparecido por completo o nosso negro em virtude de cruzamentos sucessivos com o branco. Não acha que fomos felicíssimos na nossa solução?
Miss Jane é filha do inventor do “porviroscópio” e tem uma visão discordante:
Não acho – disse ela. – A nossa solução foi medíocre. Estragou as duas raças, fundindo-as. O negro perdeu as suas admiráveis qualidades físicas de selvagem, e o branco sofreu a inevitável piora de caráter, consequente a todos os cruzamentos entre raças díspares.
Ayrton objeta:
Quer dizer que prefere a solução americana, que não foi solução de coisa nenhuma, já que deixou as duas raças se desenvolverem paralelas dentro do mesmo território separadas por uma barreira de ódio?
Miss Jane retruca:
Esse ódio, ou melhor, esse orgulho […] foi a mais fecunda das profilaxias. Impediu que uma raça desnaturasse, descristalizasse a outra e conservou ambas em estado de relativa pureza. […] Não há mal nem bem no jogo das forças cósmicas. O ódio desabrocha tantas maravilhas quanto o amor. O amor matou no Brasil a possibilidade de uma suprema expressão biológica. O ódio criou na América a glória do eugenismo humano…
Vêem-se nesse diálogo algumas das questões que mobilizavam boa parte dos pensadores brasileiros da época, espremidos entre o paradigma racialista de origem européia então em voga e aqui recepcionado – segundo o qual a superioridade da raça branca passava por um axioma –, e sua condição de intelectuais engajados em discutir o futuro de um país altamente miscigenado e, portanto, segundo a tese da degenerescência causada pela miscigenação, destinado a um porvir muito pouco promissor. De Silvio Romero, escrevendo desde os anos 1870, a Oliveira Vianna, escrevendo nos anos 1920, passando por Euclides da Cunha – ainda que n´Os Sertões não hesite em qualificar como “crime” o extermínio da “sub-raça” dos jagunços de Canudos –, a questão da raça é um tema que obseda a nossa melhor intelligentsia. Era o “ar do tempo”, e que não se circunscrevia ao ambiente dos jornais, dos livros e das academias. Noutro ambiente – alimentado pelo anterior –, o das decisões de governo, a política de imigração de uma mão-de-obra branca de origem européia – alemã e italiana sobretudo –, iniciada já no 2º reinado e continuada pela república, atendia, entre outros desideratos, a um projeto de branqueamento da população do país.
Esse “ar do tempo”, quase todo mundo respirava.[3] Faço a observação para prevenir contra as facilidades do “anacronismo” que costuma tentar nossa boa consciência de intelectuais do século XXI prevenidos contra a estupidez do racialismo e a desumanidade do racismo que dele brota. Mas, como quer que seja, a verdade é que o livro de Lobato acrescenta um plus a esse “ar” já em si intoxicado ao ir bem além do que qualquer proposta de branqueamento do nosso povo teria ousado ir – e é isso que torna o seu conteúdo especialmente horroroso: a eliminação pura e simples da raça negra! Como vimos, no “romance de tese” que escreveu, a vencedora foi Miss Jane, defendendo uma tese francamente protonazista, pois o “choque das raças” se resolve pelo extermínio de uma delas, exatamente como a demência hitlerista empenhou-se em fazer uma década e meia mais tarde – ainda que, no “nosso” caso (“nosso” porque a solução é americana, mas a ficção é de um brasileiro…), a solução seja indolor: ao invés de fuzilamentos em massa e fornos crematórios, “Postos Desencaparinhantes” semelhantes a simpáticos postos de vacinação!
Ora, foi justamente pensando no fato de que a trama descrita no livro é uma tramoia, que em algum momento do debate com meu amigo cheguei a especular sobre a pertinência de uma leitura d´O Presidente Negro não como apologia de uma “solução final” avant la lettre para o “choque das raças” nos Estados Unidos ou alhures, mas, ao contrário (não riam…), como uma denúncia de tal enormidade![4] Meu modelo foi um panfleto satírico do irlandês Jonathan Swift publicado em 1729 – numa época em que a Irlanda era um dos países mais miseráveis da Europa –, Uma Proposta Modesta, no qual o célebre escritor propõe uma solução original “para evitar que as crianças da Irlanda sejam um fardo para os seus pais ou para o seu país”, como diz o complemento do título principal do panfleto.[5] A proposta é simples: assim que os bebês pobres chegarem à idade de um ano, as mães poderão vendê-los a “pessoas de qualidades e posses” para serem abatidos e servidos à mesa. Assados ou cozidos, eles são um petisco “delicioso e salutar”. É recomendável que no último mês de cria eles sejam bem amamentados, de modo que fiquem “bem cheinhos”. Um bebê bem fornido é suficiente para um bom jantar entre amigos…
O texto de Swift é uma sátira às propostas moralizantes das classes abastadas do seu país para resolver o problema do pauperismo. Valendo-se de uma ironia devastadora, o autor lança mão do grotesco como recurso estilístico para fins críticos. É como se o autor dissesse: “Vocês não querem acabar com a pobreza? Pois então vamos acabar com os pobres!” A “proposta” é de tal forma absurda que não pode ser levada a sério. Ao mesmo tempo, e por isso mesmo, põe a nu a desumanidade da situação que denuncia. Voltando ao livro de Lobato, pus-me a pensar na hipótese de que ele poderia, por analogia, exemplificar uma sátira à la Swift aplicada à obsessão americana pela pureza racial. É como se o autor dissesse: “Vocês não querem resolver o problema das duas raças? Pois então vamos acabar com uma delas!” Uma proposta dessas é mesmo para ser levada a sério? Afinal, qualquer leitor medianamente dotado de sanidade moral é capaz de considerar absurda a tese do ódio como um sentimento criador de “tantas maravilhas” como queria Miss Jane. Não?
Note o leitor que o argumento acima sustentando a pertinência de uma leitura de O Presidente Negro como uma sátira leva em conta, apenas e tão somente, o texto do livro, abstraindo-se como irrelevante a questão de sua autoria. Nessas condições, creio mesmo que a hipótese de tal leitura seria capaz de passar pelo teste da validação empírica. A pergunta que me faço é que julgamento faria um leitor como somos eu e o meu amigo, para quem o racismo é uma ideologia insuportável, de um texto como o de Lobato se o lesse numa condição análoga à de um blind reviewer de revista científica. De minha parte, já que me considero um leitor dotado de algum bom gosto, não tenho dúvidas de que continuaria achando-o estilisticamente horroroso. Mas seria capaz de apostar algumas fichas na hipótese de que, em relação ao conteúdo, veríamos nele, pela enormidade das propostas, antes uma sátira a delírios racistas do que uma apologia a um racismo sem medo de ir às últimas consequências. Mais: da mesma maneira que a leitura da Proposta de Swift nunca nos levou a supor que o seu autor fosse um teórico do infanticídio de pobres, também a leitura do Presidentenão nos levaria a supor que o seu autor fosse um teórico do genocídio de negros. Mas, pelo menos no que diz respeito a nós dois, esse experimento nunca poderia ter lugar. Tanto no caso dele como no meu, a leitura do livro havia sido precedida por alguma informação a respeito do racismo do autor obtida por ocasião do debate que houvera em 2010, de modo que seria impossível fazermos uma leitura “às cegas”.
Mas se de um lado, de acordo com o exercício de especulação que fiz acima, continuo achando que o texto “nu” de O Presidente Negro dá margem a uma interpretação não necessariamente racista do livro, o acesso a maiores informações que vieram a público e que andei buscando sobre o autor não deixavam margem a qualquer dúvida: Monteiro Lobato cultivava idéias racistas! A partir daí, já não se tornava possível o benefício da dúvida sobre o racismo do livro… As informações, abundantes, não permitiam tapar o sol com a peneira. A partir da celeuma de 2010, começaram a vir a público cartas do escritor em que suas posições racistas eram expostas sem retenção ou pudor. A propósito do fracasso em encontrar editor para o livro nos Estados Unidos, onde exercia o cargo de adido comercial em Washington (sonhando tornar-se famoso naquele país e ganhar dólares “à beça”, fizera traduzi-lo para o inglês), Lobato desabafa com o escritor Godofredo Rangel, seu amigo e correspondente de longa data:
Meu romance não encontra editor. […]. Acham-no ofensivo à dignidade americana, visto admitir que depois de tantos séculos de progresso moral possa este povo, coletivamente, cometer a sangue frio o belo crime que sugeri. Errei vindo cá tão verde. Devia ter vindo no tempo em que eles linchavam os negros” (itálicos meus).[6]
Na mesma ocasião, em carta a outro amigo eugenista, o médico Arthur Neiva, Lobato lamenta não termos entre nós uma organização como aquela: “País de mestiços, onde o branco não tem força para organizar uma Klux-Klan, é país perdido para os altos destinos. (…). Um dia se fará justiça ao Klu-Klux-Klan”, escrevia Lobato, desejoso de que houvesse por aqui uma instituição que, como lá, “mantém o negro no seu lugar”[7]. Foi chocante e, pela imagem simpática que tinha de Lobato, decepcionante ler isso.
Nesse momento, estávamos eu e meu amigo em completo acordo sobre o racismo de Lobato. A divergência surgiu quando ele, fazendo um balanço de sua leitura do escritor, que não foi extensa, publicou um artigo em que dizia: “Somente agora, em 2020, é que li um conto chamado ‘Negrinha’ e ‘O Presidente Negro’. Então formei opinião que Lobato era mesmo racista”. Não gostei e abri uma nova divergência. Acontece que na minha juventude também tinha lido o conto Negrinha. E, curiosamente – ou significativamente? –, lembrava-me bem dessa leitura, diferentemente do que ocorria no caso do romance, de cuja existência tinha até esquecido. E me lembrava porque o conto ficou gravado na minha memória como um poderoso libelo justamente contra… o racismo! Por conta dessa divergência, da mesma maneira que havia feito com o romance, fiz com o conto: fui relê-lo. Minha memória não tinha me traído. Solidifiquei minha impressão de que ver fumos de racismo em Negrinha resultava de uma contaminação do meu debatedor pela péssima impressão sobre o seu autor que a leitura de um livro como O Presidente Negro imprimira no seu espírito. Além do mais, e diferentemente do romance, o conto era ótimo.
Numa seleção d´Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século, feita por Ítalo Moriconi (Objetiva, 2001), Negrinhaaparece na seção dedicada aos anos 1900-1930. A lista contém apenas nove títulos. Aí, Lobato aparece ao lado de pesos-pesados como Machado de Assis, Lima Barreto, Marques Rebelo etc. A inclusão do autor nesse time confortou minha impressão de que Negrinha é uma das joias da contística nacional; reforçou minha convicção de que se O Presidente Negro é um romance para ser esquecido – ou ser lembrado como exemplo do que não se deve fazer em literatura –, Negrinha é um conto para não ser esquecido. Foi publicado num livro de contos de Lobato com o mesmo título em 1920 – anos antes, portanto, do projeto acalentado pelo escritor de se tornar um best-seller nos Estados Unidos, que deu com os burros n´água – bem feito! Não sei se o leitor o conhece. Assim, da mesma maneira que procedi com o romance, vou sumariá-lo rapidamente.
A ação se passa depois do 13 de Maio. Negrinha, a personagem central, não tem nome, só apelidos. Filha de mãe escrava, ficou órfã aos quatro anos. Aos sete, é livre, mas, sem ter para onde ir, “por ali ficou, feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão.” Sua patroa, dona Inácia, é uma “excelente senhora”:
gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. […] Ótima, a dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não a calejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vagia, longe, na cozinha, a triste criança, gritava logo nervosa: — Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno?
Era Negrinha, claro. E lá vinha pancada. O 13 de Maio tirou das mãos de d. Inácia “o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo: — Ai! Como alivia a gente uma boa roda de cocres[8] bem fincados!…”.
O conto, curto, desfia padecimentos sem fim infligidos à pobre criatura. Mas o autor tem a mão de escritor e, como se percebe nos trechos acima, evita a esparrela de descrever os castigos em linguagem naturalista, recriando-os numa linguagem alegórica onde a ironia tem lugar de destaque. Uma ironia que por vezes não poupa nem a infeliz criança. Como disse, Negrinha não tinha nome, só apelidos: “pata-choca”, “pinto-gorado”, “mosca morta”, eram alguns dos mimos que lhe faziam. Num momento em que a peste bubônica era a novidade na boca de todo mundo, ei-la devidamente rebatizada: Bubônica passou a ser o novo apelido. “Por sinal – informa ironicamente o autor – que achou linda a palavra”. Resultado: “perceberam-no e suprimiram-na da lista.” Em momentos como esse, o humor-negro de Lobato alcança níveis do “humour machadiano”, na clássica definição do crítico Alcides Maya. Também se esmera no uso de coloquialismos, que chega a inserir com graça na descrição das crueldades, como no trecho em que fornece a receita para “uma boa roda de cocres” que tanto aliviava as tensões de dona Inácia: “mão fechada com raiva e nós de dedos que cantam no coco do paciente.” Mas como não vou contar o conto todo, resumo-lhe o desfecho.
Negrinha conheceu a felicidade apenas uma vez no que foi sua curta vida. Foi quando desembarcaram na casa de dona Inácia, numas férias de dezembro, duas sobrinhas suas, “pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas”. As duas traziam na bagagem um brinquedo que Negrinha nunca tinha visto: uma boneca! – “uma criancinha de cabelos amarelos… que falava mamã… que dormia…” O êxtase veio quando as duas meninas lhe disseram: “Pegue!” Negrinha pegou-a “muito sem jeito, como quem pega o Senhor menino”. E as três começaram a brincar. Foram surpreendidas pela chegada de dona Inácia. Negrinha, acostumada às pancadas por ação ou omissão, tremeu. Mas “era tal a alegria das hóspedes […] e tão grande a força irradiante da felicidade” de Negrinha, que a patroa pela primeira vez apiedou-se: “Vão todas brincar no jardim, e vá você também, mas veja lá, hein?” Negrinha viveu um mês de felicidade. Mas dezembro acabou, as meninas foram embora levando a boneca, e Negrinha caiu numa tristeza sem fim. “Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu trevas adentro do seu doloroso inferno, envenenara-a.” Definhou, definhou e morreu. “Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. […] Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira – uma miséria, trinta quilos mal pesados…” Dela só restaram no mundo duas impressões: “Uma cômica, na memória das meninas ricas”, que lembravam a “bobinha da titia” que nunca vira uma boneca. A outra, de “saudade, no nó dos dedos de dona Inácia. – “Como era boa para um cocre!…”
Entre as cartas comprometedoras de Lobato que foram desenterradas e vieram estofar a tese do racismo do autor, figura com destaque uma que escreveu a Godofredo Rangel confessando uma das missões que atribuía à sua obra: “É um processo indireto de fazer eugenia, e os processos indiretos, no Brasil, ‘work’ [funcionam] muito mais eficientemente”.[9]Uma confissão do próprio punho, feita espontaneamente a um amigo junto a quem nos sentimos à vontade para dizer coisas que devem ficar entre nós, como se diz, é uma prova irrefutável: Monteiro Lobato era um eugenista e fazia do eugenismo uma bandeira. (Pelo menos uma delas, porque havia outras: o petróleo, o livro, a industrialização, o saneamento…) Se, como tantos outros, também faço menção a essa carta é para dizer que se essa foi sua intenção ao escrever Negrinha, chutou na arquibancada! Se, em relação a O Presidente Negro, argumentei que uma leitura “às cegas” poderia concluir que se trata de um livro não-racista (no limite, antirracista, porque é o relato de uma perfídia praticada pelos brancos contra os negros), em relação a Negrinha, invertendo a mão, não vejo como uma leitura igualmente “às cegas” poderia concluir que se trata de um conto racista! – mesmo que o seu autor tenha usado os tais “processos indiretos”, que no nosso país “work” muito bem, para passar sua mensagem sub-repticiamente… Isso num plano objetivo. Num plano subjetivo, o meu, retomo o que disse no início quando me referi à minha primeira leitura do conto cerca de meio século atrás, e à impressão que ele então me causou: a de ser um libelo contra o racismo. Nunca me esqueceu – como diria Machado – aquele final, agora relido com o mesmo sentimento de compaixão por aquela carnezinha de terceira que a terra papou com indiferença, quando li pela segunda vez que a única saudade que Negrinha deixou no mundo foi no nó dos dedos de dona Inácia: “Como era boa para um cocre!…”
Ninguém nasce racista ou antirracista. Como certa feita escrevi noutro lugar, “é só depois que estamos no mundo, enredados na teia de sua complexidade e submetidos às mais diversas influências e experiências, que adquirimos nossas convicções. No meio desse caos fantástico de acontecimentos que constitui a vida de uma pessoa, como distinguir aquilo que releva da emoção daquilo que releva da razão? Em que instante, e por que motivo, nascem as convicções? Sequer sabemos se esse instante, enquanto instante, existe, ou se ele é vagarosamente elaborado por incontáveis pequenos e imperceptíveis eventos que vão se inscrevendo naquilo que chamamos nossa personalidade, de modo que um dia, confrontados com um assunto qualquer, nos surpreendemos adotando esta ou aquela posição, sem saber direito como a ela chegamos.”[10] Eu, por exemplo, não sei em que momento da vida formei minhas convicções – que são a um só tempo intelectuais e morais – antirracistas. Mas, sem que possa demonstrar, provavelmente a leitura do conto de Lobato, que fiz na juventude, foi um entre tantos “incontáveis pequenos e imperceptíveis eventos” que contribuíram para formar meu horror frente às iniquidades do mundo.
***
Estranhamente, no debate de que aqui dei conta não tratamos da obra mais conhecida de Lobato, O Sítio do Picapau Amarelo. Ausência tanto mais estranha porque foi a partir justamente de um livro da saga, Caçadas de Pedrinho – onde figura a imagem da “macaca de carvão” para designar Tia Nastácia –, que a denúncia do racismo lobatiano surgiu e deu largada ao debate de 2010. Mas o motivo da ausência é simples: o debate entre mim e o meu amigo se deu a partir da leitura, por ele, de apenas dois textos de Lobato: o romance e o conto. Logo, nossa troca de opiniões esteve de saída limitada e designada por um e outro, curiosamente talvez os dois textos mais extremados e antípodas do autor: o romance, escandalosamente[11] racista; o conto, veementemente antirracista – no meu modo de ver, claro. Do Sítio, ele nada havia lido, como reconheceu. Por isso as aventuras de Narizinho, Pedrinho e Emília, mas também de Dona Benta e Tia Nastácia, não deram o ar da graça na nossa discussão. Apenas uma vez, num argumento que usei para discordar da tese segundo a qual a obra infantil de Lobato seria tão racista quanto o seu autor, disse (não lembro mais se nesses termos) que a tese era tão despropositada quanto aquela outra, de livre curso nos campi de letras nos Estados Unidos, segundo a qual As Aventuras de Huck Finn de Mark Twain, publicado em 1884, era também um livro racista porque o autor usava sem nenhum cuidado a palavra “nigger”, um termo pejorativo, para se referir aos negros do Mississipi. Mas, diabo!, era assim que no deep south da época de Twain os negros eram tratados, não?
O argumento ficou sem resposta, e devo ter ficado satisfeito com minha estocada. Pois bem, confesso agora que o argumento era um blefe! Ele passava a impressão de que eu era um conhecedor da saga do Sítio, e que, portanto, o meu “lugar de fala”, como se diz hoje, era um lugar de autoridade. Nada disso. Eu também nunca tinha lido nenhum volume d´O Sítio do Picapau Amarelo! Por que, não saberia ao certo dizê-lo. No meu período de formação de leitor, li muito; li As 1001 Noites (uma edição para crianças…), li Júlio Verne, li Alexandre Dumas (dessa vez adaptado para adolescentes…) etc., mas nunca li Lobato. Minto. Li, sim, mas apenas O Presidente Negro e Negrinha, como disse. Conhecia, claro, os personagens do Sítio, meio como muita gente, que terminou conhecendo a obra infantil de Lobato através do seriado da Rede Globo que tantas temporadas mereceu. Já era adulto, mas, como deve ter acontecido com muito marmanjo, vi muitos episódios da primeira temporada com autêntico prazer, indo para a frente da televisão quando escutava as primeiras notas da graciosa música de Gilberto Gil que abria o programa.
Marmelada de banana
Bananada de goiaba
Goiabada de marmelo
Sítio do Picapau amarelo…
Mas um dia desses calhou que me lembrei de que tinha em casa o livro Reinações de Narizinho, que é exatamente o primeiro da saga, adquirido há alguns anos um tanto distraidamente numa “troca de livros”. Encerrado o debate, abri-o. Fiquei encantado com a graciosa simplicidade da abertura, que transcrevo.
Numa casinha branca, lá no Sítio do Picapau Amarelo, mora uma velha de mais de sessenta anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando:
– Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto…
Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós […].
E por aí vai. Lobato tem um enorme talento para recriar o universo infantil, descrevendo cenas que são um primor de imaginação e simplicidade, e que mimetizam o que as crianças realmente fazem quando se põem a reproduzir situações do mundo adulto com os objetos miúdos da sua vida de faz-de-conta – como quando, ainda na primeira página do livro, descreve o ritual de Narizinho indo dormir com a boneca Emília, não “sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeira”, como faria uma mãe com sua filhinha. Achei comovente. Mas, como fui lê-lo atento à questão do racismo, meu olho não teve dificuldade em detectar, em menos de cinquenta páginas, pelo menos três menções aos lábios grossos de Tia Nastácia em termos que hoje soam insuportavelmente racistas: “negra beiçuda”, “beiçaria inteira” e “a negra pendurou o beiço”. Observo que as falas desse teor não são apenas dos personagens, o que seria perfeitamente natural naquele tempo e lugar, mas também do narrador. O que dizer? Meu senso estético me diz que não há nada a dizer no sentido de que não há nenhum reparo a fazer; que a fala do narrador, reportando-se a uma realidade do começo do século XX no “Brasil profundo”, é também perfeitamente natural, porque uma obra de arte constitui um todo coerente; e, por fim, que o narrador não se confunde com o autor – duas instâncias esteticamente diferentes.
Mas isso sou eu que estou falando. Um intelectual branco confortavelmente instalado no seu “bom gosto”. Outra é a situação de um pai negro, ou uma mãe negra, lendo Reinações de Narizinho para seu ou sua filha na hora de pô-lo ou pô-la na cama. Nada posso dizer do sentimento que esse pai ou essa mãe pode experimentar no momento em que se depara com uma expressão como “negra beiçuda”. Como nada posso dizer sobre como essa criança registrará isso. Será, ou não, mais um dos “incontáveis pequenos e imperceptíveis eventos” que formam a personalidade de cada um de nós. No momento em que concluo este breve ensaio – que já vai se tornando longo –, vem-me à lembrança uma frase que Martin Luther King teria escrito a respeito da socialização das crianças negras no Alabama do seu tempo de menino: “cedo, as nuvens da inferioridade começam a se formar no pequenino céu da sua inteligência”. Creio que a li no momento do seu assassinato. Como é coisa bem antiga e cito de memória, não sei mais se foi exatamente isso que li. Mas foi o que me ficou na lembrança, e é isso que importa.
[1] O professor aposentado Afonso Nascimento, do Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe, a quem o ensaio é dedicado.
[2] Nessa releitura, vali-me de uma nova edição do livro, publicada em 2019 pela Editora Lafonte (São Paulo), de onde extraí frases e expressões aqui utilizadas.
[3] Com notáveis exceções, como é o caso de Manoel Bonfim, que no seu A América Latina: males de origem, publicado em 1905, insurgiu-se contra o paradigma racialista de explicação do nosso atraso. Valendo-se do conceito de “parasitismo”, atribuiu-o ao modelo de colonização adotado pelas coroas ibéricas nas terras do novo mundo. Sobre esse autor, remeto ao livro de Ronaldo Conde Aguiar, O Rebelde Esquecido: tempo, vida e obra de Manoel Bonfim, Topbooks, 2000.
[4] Meu amigo não ficou sabendo desse exercício de especulação.
[5] As informações sobre o texto de Swift foram obtidas no Google.
[6] Trecho da carta publicado no artigo da escritora Ana Maria Gonçalves, “Lobato: não é sobre você que devemos falar”, postado na revista eletrônica Geledés, postado em 20/11/2010.
[7] Trecho da carta publicada no artigo da historiadora Lucilene Reginaldo, “Obra Infantil de Monteiro Lobato é tão Racista quanto o Autor”, publicado na “Ilustríssima” da Folha de S. Paulo em 10/02/19.
[8] Palavra caída em desuso, “cocre” significa cascudo. Na minha infância, passada numa pequena cidade do estado de Sergipe, usava-se uma variação: “croque”.
[9] Citado por Ana Maria Gonçalves, no artigo referido.
[10] No livro A Vergonha do Carrasco: uma reflexão sobre a pena de morte, Recife, Mestrado em Ciência Política – UFPE, 2000.
[11] Tão escandaloso que dediquei três parágrafos acima a um exercício de desmontagem do racismo explícito da obra, aventando a hipótese de ela poder ser lida como uma sátira antirracista…


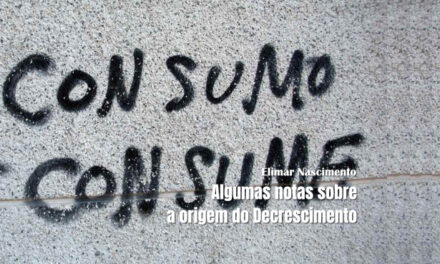
![O Chile de Allende: Uma Releitura [1]](https://revistasera.info/wp-content/uploads/2023/11/05-440x264.jpg)










Prezado Luciano Oliveira, li seu texto e concordo em muito com o senhor. Permita-me apenas alguns comentários.
“O choque das raças” é o título principal do livro, seguido por “ou O presidente negro”. O Subtítulo é “Romance americano do ano 2228”.
Nesta ficção científica, o incremento da população negra não se deve a uma taxa de fertilidade maior, mas a outros fatores relacionados, inclusive, a leis criadas pelo governo fictício dos futurísticos EUA para o controle populacional em geral. Vale a pena se deter mais sobre esta questão no livro, pois nela se encontra um dos primeiros indícios de que as pessoas da etnia negra são apresentadas pelo autor como geneticamente superiores às da etnia branca.
Há outros pontos de sua análise de “O choque das raças” que eu poderia comentar, mas já o fiz em “Entre metafísica, distopia e mecenato”, livro que acabei de publicar pela editora Os Caipiras. Conforme o título desta revista da qual o senhor é fundador e de cujo conselho editorial faz parte permite concluir, o senhor se encontra aberto a diferentes perspectivas e duvida de certezas estabelecidas. Acho, então, que a leitura de minha análise poderia lhe interessar. Abraços cordiais, Vanete Santana-Dezmann.