
Enterro de João Pessoa.
O lançamento do livro da historiadora Ana Maria César, recentemente promovido em conjunto pela Academia Paraibana de Letras e pelo Instituto Histórico da Paraíba, constituiu uma boa oportunidade de congraçamento também para outras entidades culturais, como a Academia de Letras de Cajazeiras, o Instituto Histórico de Campina Grande e a Academia Pernambucana de Letras. (Embora nascida em Pernambuco, a autora tem fortes raízes paraibanas e sertanejas). E a mim, particularmente, permitiu rever a ex-presidente da Academia Pernambucana, minha amiga Margarida Cantarelli e o atual presidente, Lourival Vilanova, companheiro do Seminário de Tropicologia da Fundação Joaquim Nabuco, de que ambos participamos, como membros efetivos.
O livro tem como título “Três Homens Chamados João – Uma Tragédia em 1930”, e nele respaldo a minha paráfrase a Garcia Marquez: estas são mortes não anunciadas, mas, ao contrário, revividas. E a mim parece saudável revivê-las, remoê-las, sempre num esforço de compreensão, de empatia em relação aos seus personagens. Pois, como lembrava mestre Ariano, “essas coisas ainda são muito fortes na Paraíba”. Ele mesmo não conseguiu exorcizá-las e morreu sem perdoar os assassinos do seu pai (ver “Ariano – o Perdão que não Veio”, Correio das Artes, setembro de 2021).
A autora foge ao padrão dos historiadores ortodoxos, romanceando o relato, sem se prender apenas aos acontecimentos, mas perquirindo a alma dos personagens, sobretudo das vítimas inocentes, como João Suassuna, Augusto Moreira Caldas e Anayde Beiriz. E não vejo nisso nada censurável. Jules Michelet, o grande historiador francês, ao retratar as motivações das massas que avançaram sobre a Bastilha, nos primórdios da Revolução Francesa, não teve atitude diferente.
Muitos são os novos documentos históricos trazidos ao nosso conhecimento: cartas de Anayde, o inquérito policial sobre a sua dolorosa morte, o mais virulento dos artigos de João Dantas contra João Pessoa, que não chegou a ser publicado, cartas de João Suassuna à família, prevendo sua provável morte e rejeitando qualquer veleidade de vingança, detalhes da conflagração no Recife, ao eclodir a revolução que o presidente morto repudiava, e involuntariamente fez brotar, com seu destino trágico.
Quanto às versões da morte dos dois prisioneiros, controversas por algum tempo, já não admitem polêmica, embora detalhes permaneçam obscuros. O historiador José Joffily, em seu livro “Revolta e Revolução – Cinquenta Anos Depois”, adotou a alternativa do suicídio, e o filme de Tizuka Yamazaki, idealizado por seu colega, também cineasta, José Joffily Filho, quase chega a acolhê-la. O roteiro foi modificado, à última hora, por interferência de Ariano Suassuna, que recebeu Tizuka em sua casa e, entre outros argumentos, lhe mostrou uma foto do rosto de João Dantas edemaciado pelas pancadas recebidas dos que o mataram (por isso a foto ”oficial” da ocorrência esconde o rosto da vítima atrás da cama onde estaria deitado). A foto foi cedida à família Suassuna com pedido de absoluto segredo pelo fotógrafo Louis Piereck, e eu também a vi, nas mãos de Ariano.
Outra revelação surpreendente é o depoimento premonitório da desgraça deixado por Humberto de Campos, em sua passagem pelo porto de Cabedelo, a caminho do Maranhão, dois dias após a posse do presidente da Paraíba, em conversas com personalidades locais. Está no capítulo XXVIII do livro póstumo do famoso escritor, “Um Sonho de Pobre”, editado em 1935. Em seu enérgico discurso de posse, o novo governante, encarando barões feudais protetores de cangaceiros, anunciara perseguição implacável, não só aos malfeitores, como também aos seus coiteiros. Os “coronéis” se retiraram contrafeitos para o interior, sem despedidas, e a impressão deixada ao intelectual maranhense e seus companheiros de viagem foi de que “aquilo não acabaria bem”. De fato, acabou com tiros e sangue. E ficou para o grande cronista a lição de que, mesmo reconhecidas as nobres motivações do novo governante, lhe teriam faltado prudência, serenidade e moderação. Para concluir que “a política é uma ciência muito mais complicada do que se supõe”.
Enfim, o livro é uma valiosa contribuição à revisita do grande drama que marcou, e ainda marca, a história da Paraíba, sobretudo pela atitude compassiva em relação a todos os seus atores, sem atribuir culpas nem endossar condenações. Merece a leitura de todos os nossos conterrâneos. E como prova da minha leitura atenta, e para não me limitar à simples louvação à autora, cujos méritos são incontestes, aponto, ao final deste comentário, alguns lapsos de informação, que podem ser corrigidos numa segunda edição, aliás bem provável, pois a obra já mereceu uma reimpressão, menos de dois anos após lançada. A saber:
Em primeiro lugar, a autoria das belas epígrafes deveria ficar abaixo delas, nunca em um anexo, onde muito do seu efeito é reduzido.
Na página 39, a referência correta é ao porto de SANHAUÁ. Na página 60, o trem para Cabedelo não se tomava no Ponto de Cem Réis, mas na Cidade Baixa, como até hoje. Na página 87, a morada de João Pessoa em Recife era na casa do tio, Antônio Pessoa, equivocadamente referido como seu irmão. Na página 157, o navio que transportou o cadáver de João Pessoa chamava-se RODRIGUES ALVES. Na página 206, o nome do delegado da cidade de Teixeira, Ascendino Feitosa, aparece corretamente, mas não na página 208, logo adiante. Na página 217, a menção à família de industriais Lundgren é equivocada: eles eram de origem sueca, não alemã. Na página 218, Agildo Barata, no momento da Revolução de 1930, servia na capital da Paraíba, não em Recife. E finalmente, o civil que se incorporou aos “18 do Forte”, na revolta de 1922, chamava-se Otávio Correia. Como se vê, deslizes que podem comprometer o trabalho, e cuja correção se impõe.
E para encerrar, minhas reverências à Academia Paraibana de Letras e ao Instituto Histórico, pela realização do proveitoso encontro.




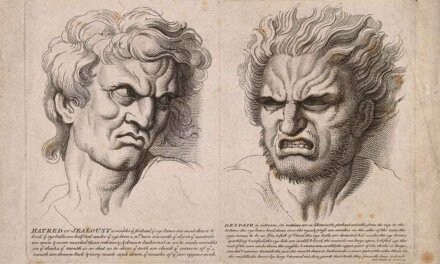










comentários recentes