Quando a tempestade ficou para trás, a rotina na cidade engrenou. Vichy é um desses lugares a que eu não pretendo voltar nunca mais. Achei-a asséptica e austera. Feita para quem procura alívio para a artrose, cálculos biliares e afins, é uma das poucas desse porte da França onde a pessoa tem que garimpar para achar um bar para tomar vinho. Às duas da tarde, os restaurantes já estão de portas fechadas e à noite a atitude para quem chega sem reserva é de franca hostilidade. É como se conseguir uma mesa num bistrô fosse um feito lotérico, fruto da boa vontade do patron. A opção mais evidente durante minha temporada por lá sempre foi a do café do cassino, mas então quem não morria de simpatias pelo endereço era eu que, decididamente, não gosto de ambientes de jogo, embora os comensais ficassem longe das mesas de feltro verde.
Meu retiro europeu ia bem no geral, mas, se pensar bem, talvez nem tanto. Separado desde novembro do ano anterior, os dias em Vichy assinalavam um ensaio geral da volta ao Brasil, visto que há quase 3 meses eu rodava pela Europa, com apenas um retorno a São Paulo para resolver o inadiável. Era evidente, contudo, que se passasse a elucubrar muito sobre a organização da vida aos 62 anos naquelas circunstâncias, o prazer de desfrutar do momento resultaria prejudicado. Uma coisa era certa: aproveitaria a vibe da cidade sanatório para caminhar, comer pouco, me hidratar com suas águas milagrosas e voltar para o Brasil mais sadio do que saíra. Admitia que as extravagâncias sucessivas pareciam querer me mandar um recado cujo teor eu não conseguira até então captar. As caminhadas talvez o dissessem. Não eram elas belas ocasiões para olhar para dentro?
Os ventos vinham e iam embora. Os caipiras do Massif Central me divertiam com “sheu shotaque cheio de chons achim”, um pouco à la Valéry Giscard d ?Estaing; e depois, a gastronomia estava longe de decepcionante, apesar da onipresença das lentilhas do Puy-de-Dôme e das pastilhas mentoladas Vichy, que estavam em toda parte em imensas bombonnières e, se duvidar, até na arquitetura fascistóide dos prédios municipais de fachada branca. No jornal La Montagne, havia notícias sobre as forças vivas locais que pleiteavam dissociar o nome da cidade do colaboracionismo e do Marechal Pétain. Ironicamente, foi naquelas alamedas arborizadas ao longo do rio Allier que comecei a ler “Mazal Tov” para valer, como queria há vários dias. A tempestade fizera pequenos estragos na paisagem, mas antecipara a floração das cerejeiras, que não eram poucas ali.
Embora resista a fazer isso na maioria das vezes, eu tivera a curiosidade de dar uma olhada no perfil da jornalista Margot Vanderstraeten, autora do livro, para entender o dilema clássico que assomava de cara: como uma não judia ousava escrever um livro de quase 400 páginas sobre judeus, quando isso está tão flagrantemente fora do seu lugar de fala – para usar uma expressão nefanda, que só encontra ressonância em guetos pouco arejados e na boca de ativistas raivosos? Bonita, na faixa dos 55 anos, ela já escrevera alguns livros e estivera à frente de reportagens instigantes que tiveram grande repercussão na Bélgica. Com “Mazal Tov”, pela primeira vez, ela se viu traduzida em várias línguas e, ao seu modo, se tornara uma escritora best seller. Se isso não era determinante na minha motivação, mal também não fazia.
Eu estava gostando da primeira parte do livro. Contratada como professora particular das crianças para lhes dar aulas de idiomas, a entrada dela naquela casa de judeus religiosos não se deu sem sopapos. Aos olhos do patriarca, como se explicava que ela nutrisse simpatias pelos palestinos, por Arafat em especial, se tudo o que saía no noticiário era enviesado e anti-Israel? Baseada em que ela se metia a julgar uma situação tão complexa? A esse respeito, pensei, ela deveria ter mesmo uma didática muito especial e um jeito único de levar as crianças. Caso contrário, o que faria com que os pais tolerassem que ela vivesse com um iraniano, que, além de tudo, era muçulmano? Tem horas em que a literatura já cumpre bem sua finalidade se for desopilante e surpreendente. E o livro vinha sendo tudo aquilo. Nem só de Kafka vivem homens e mulheres.
Para ser sincero, eu só não contava receber uma visita naqueles dias. Sabendo que eu estava só e instalado num apartamento espaçoso, uma amiga italiana quis vir passar uns dias. Tinha vezes que ela era uma companhia inigualável. Outras tantas, os 40 anos de amizade pesavam e nós nos estranhávamos como duas pessoas que estivessem convivendo pela primeira vez. “Imagino que você esteja escrevendo, curtindo sua solitude. Eu também estou muito ocupada. Mas se você me der pousada, te prometo que vou ficar quietinha, que não vou te chamar para caminhar e que vamos comer uma bela pasta sempre que você quiser. Mais do que isso, sei que seria pedir muito.” Moradora de Roma, muito ligada às coisas da saúde, a depender do estado de alma, ela seria ótima companhia, conselheira e nutricionista. O resto ficaria ao sabor da temporada.
A França vivia uma trégua de um movimento nefando. Os “gilets jaunes”, ou coletes amarelos, tinham paralisado o país para absolutamente nada. Na longa temporada de outono que eu tivera em Estrasburgo, pude ver de perto a formação dessa patologia sem pé nem cabeça que se eleva a grande esporte nacional. Depois de tantos anos de familiaridade com a língua, aprendi que “manifester” é um verbo que para alguns não precisam de complemento. Os “gilets jaunes” tinham seus esquadrões de “casseurs”, uma categoria de vândalos que se incorporava aos protestos com o papel único de quebrar vitrines e pontos de luz, com a mesma legitimidade que existe a ala de baianas nas escolas de samba. Medidos em bilhões de euros, os prejuízos eram encarados com imensa ligeireza pelos líderes dos movimentos. Em Vichy, o bom livro me consolava.
Dos quatro filhos da Família Schneider – Simon, Jacó, Elzira e Sara -, a tutora Margot ficara especialmente próxima do segundo menino e da primogênita. Com ele, eram impagáveis os embates intelectuais. Embora dependente dela para ter um bom desempenho nas aulas de holandês, Jacó não se cansava de louvar as virtudes linguísticas dos judeus que alternam, segundo o tema, o iídiche, o hebraico, o francês e o inglês. Cedendo, pedagogicamente, ao que lhe parecia o lado bufão do seu preferido, ela entrava no jogo para mantê-lo por perto. E se divertia com o rapaz que, arrebatado pelo temperamento, fugia dos programas escolares para passear pelos distritos boêmios de Amsterdam. Com Elzira, a cumplicidade era mais ampla e se soldou a partir do dia em que ela a convidou para um jantar de Shabat, a que a tutora veio com o marido muçulmano.
Enquanto o mundo especulava sobre o coronavírus em Wuhan, eu conversava com Giovanna sobre as idiossincrasias constantes da narrativa. Era justo que Margot fizesse tantas perguntas sobre o destino dos judeus na Segunda Guerra Mundial, quando vários membros da família já tinham dito que preferiam silenciar sobre isso? Era admissível que, até para uma estranha ao universo judaico, o patriarca preferisse silenciar? O que teria mudado daquela época para cá? Será que os ortodoxos dos anos 80 eram mais flexíveis do que os de hoje? Em que medida a influência política que eles passaram a exercer em Israel tornou o diálogo mais crispado até entre os próprios judeus? O estranhamento dela aos mandamentos da dieta kasher – do pão de chocolate à Coca Cola de Bnei Brak – se suavizariam com o tempo?
A prova candente da confiança que a família tinha na preceptora foi dada quando Elzira começou a oscilar entre os bons partidos que lhe foram apresentados pela casamenteira. Por genuinamente arcaico que fosse aquele sistema, Margot não se furtou a ajudar sua jovem protegida a pensar com praticidade sobre o que deveria ser pesado na hora de optar por um ou outro. Esse complemento entre a tradição e o empurrãozinho de uma figura ascendente, está na raiz de uma amizade que foi forjada nas esplanadas das docas de Antuérpia, na companhia de um cachorrinho que os Schneider houveram por bem comprar para a filha, a conselho da mentora. Tem, portanto, sua beleza o olhar que ela tem sobre Moriel Schneider, a elegante matriarca que não usava peruca de matrona e cujo olhar sabia ser crítico e acolhedor ao mesmo tempo.
Chegando à segunda parte do livro, quando eu pretendia dedicar todo um sábado para acelerar a leitura, acordei com muita dor lombar. Giovanna acompanhou aquela agonia, mas cismou que se tratava de um mal oportunista, forjado para escapar à noitada que ela programara para a noite dos Namorados, que lá se comemora em fevereiro. “Quando você não está com o nariz enfiado nesse maldito livro, você se vale de qualquer pretexto para sabotar um programa que eu organizei com carinho. Não que eu ache que sejamos namorados, mas como duas pessoas cúmplices e próximas, você poderia ter um mínimo de consideração para quem passa o dia te ouvindo falar desses Schneider e dessa moça que foi ensinar às crianças deles. J´en ai assez. Desde que a romena falou que haveria um livro importante na sua vida, você busca sinais dele onde não há.”
No dia seguinte, eu não poderia levá-la à estação de trem. Mas, terminado o café da manhã e feitas as despedidas, fui até a pequena varanda para vê-la embarcar no táxi e para acenar de longe. Que fizesse uma boa viagem! Fazia um dia bonito e ela estava muito elegante. Por um momento, lamentei que não tivesse sido mais enfático em declarar meu interesse por aquela mulher que transformava as coisas fáceis em grandes dilemas. O taxista ajudou-a a colocar as coisas no porta-malas. Com a mão na maçaneta, ela acenou para mim. No ombro, a bolsa. Na mão, porém, carregava alguma coisa que me era vagamente familiar. Com o carro em movimento, ela gritou: “Já que você só falou dessa belga, fiquei mal-acostumada. Quem não fica sem ela agora sou eu. Compre outro livro para você que agora chegou minha vez. Ciao.” Fiquei lívido. Que vingança!
Podia haver crueldade maior do que essa? Se eu quisesse terminar de ler “Mazal Tov”, eu precisava comprar outro. Primeiro houvera aquele da livraria “L´écume des pages”, que minha amiga deixou cair no rio Sena. Depois veio o exemplar com que Madame Levy me presenteou, para meu grande alívio. Ocorre que aquele mesmo ficaria no trem como presente para Madame Dahan, a judia de Clermont-Ferrand que se encantara pelo meu relato geral da história que eu ainda não lera. Depois de comprar outro exemplar na “À la page”, eis que agora ele voaria de Lyon para Roma, na bolsa Fendi da vingativa Giovanna que, àquela altura, eu odiava. Tomei o analgésico e resolvi que era chegada a hora de ir ao centro da cidade para comprar mais um exemplar de “Mazal Tov”. Nessa pisada, a autora ficaria rica e eu empobreceria velozmente.
Foi o que fiz.











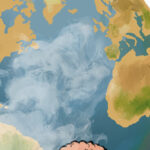



sua história em tão curto intervalo de tempo.
Os judeus são um povo único por sua incrível tenacidade em manter-se vivo e unido diante das mais terríveis ameaças à sua sobrevivência ao longo da história. Eles conseguiram preservar suas memórias e aspirações por milhares de anos de perseguições e apresentaram uma força de espírito inigualável para sobrepujar séculos de adversidades. Além disso, os judeus têm uma incrível capacidade de se reinventar e reerguer a cada tragédia. O judaísmo europeu foi quase eliminado, mas em poucos anos, conseguiram criar o estado de Israel, algo que nenhum outro povo conseguiu fazer em um curto intervalo de tempo.