Quando o lendário maestro alemão Otto Klemperer gravou A Paixão Segundo São Mateus de Bach, estava com mais de setenta anos e ficava mais lento; de fato, seus andamentos eram tão lentos que os solistas tinham dificuldade em manter o fôlego. Numa pausa para o café, eles concordaram em que um deles tinha que falar. Dietrich Fischer-Dieskau, um dos maiores barítonos do século XX, se incumbiu da difícil tarefa.
“Dr. Klemperer”, aventurou-se o respeitoso cantor.
“Ja, Fischer?”, suspirou o não tão simpático Dirigent.
“Dr. Klemperer, eu tive um sonho esta noite, e nele Johann Sebastian Bach me agradeceu por cantar sua Paixão, mas perguntou: ‘Por que tão lento?’”
Klemperer, com seus quase dois metros de altura, fez uma careta, bateu na estante e continuou o ensaio, agora duas vezes mais devagar. Os cantores estavam quase sem oxigênio quando ele disparou:
“Fischer?”
“Sim, Dr. Klemperer.”
“Eu também tive um sonho esta noite. E, no meu sonho, Johann Sebastian Bach agradeceu-me por reger sua Paixão, mas perguntou: ‘Diga-me, Dr. Klemperer: quem é esse tal de Fischer?’”
Lenta ela ficou, mas nunca Bach soou com segurança tão monumental, executada num estilo arcaico e imperioso que ecoa a versão de Felix Mendelssohn quando este reavivou a reputação adormecida de Bach, em 1830. Dentro da grandiosa magnificência da narrativa, há uma flexibilidade sutil na pulsação de Klemperer, permitindo constantes surpresas e desafios na escultura das frases musicais. Anatematizando da rapidez dos arautos da música antiga, a execução parece fiel, num sentido espiritual, às intenções do compositor.
Episódios como este, e tantos outros envolvendo lendas da regência, mostram a dimensão heroica, mitológica desses seres – os maestros – que não tocam nenhum instrumento, não produzem nenhum ruído, e, no entanto, transmitem uma imagem de produção de música crível o bastante para lhe permitir tomar as recompensas do aplauso daqueles que criaram o som.
Em termos musicais, o polêmico musicólogo Hans Keller afirmou certa feita1 que “a existência do regente é, essencialmente supérflua, e é preciso alcançar um elevado grau de imbecilidade musical para achar que observar a batida, ou, para esse fim, o semblante inane do regente torna mais fácil saber quando e como tocar do que simplesmente ouvir a música”. Essa heresia, expressa em termos menos polidos, pode ser ouvida onde quer que músicos de orquestra se reúnam para afogar suas muitíssimas mágoas. “Boa parte desses sujeitos são mestres da encenação”, resmungou Sir James Galway, ex-flautista da filarmônica de Berlim. Um mau regente é a maldição da vida cotidiana de um músico; e um bom regente não é muito melhor. Ele dá ordens que são redundantes e ofensivas, exige um nível de obediência desconhecido fora do exército e pode ganhar num concerto tanto quanto o resto de sua orquestra.
No entanto, quando é preciso trabalhar e organizar uma temporada, são os próprios músicos que escolhem regentes e os inventam. O mito, segundo o crítico inglês Norman Lebrecht2, começa com a muda submissão deles próprios. Músicos de orquestra são uma espécie calejada que se derrete ao brandir de uma varinha de condão. Dizia-se que bastava Arthur Nikisch entrar na sala para uma orquestra tocar melhor. Os músicos falavam dessa “coisa mágica” que diferenciava Arturo Toscanini e Wilhelm Furtwängler do comum dos mortais. Leonard Bernstein, certa vez, admitiu, “me faz lembrar por que eu quis me tornar um músico”. Por meio de um impulso silencioso, um regente excepcional seria capaz de mudar a química humana em sua orquestra e audiência. O filósofo Elias Canetti, Nobel de Literatura de 1981, viu nisso a manifestação de uma autoridade quase divina:
“Seus olhos prendem a orquestra inteira. Cada músico tem a impressão de que o regente o vê pessoalmente, mais, que o ouve […] Ele está dentro da cabeça de cada músico. Sabe não só o que cada um deveria estar fazendo, mas o que está fazendo. É a corporificação viva da lei, tanto positiva quanto negativa. Suas mãos decretam e proíbem […] E uma vez que durante a execução é como se nada existisse exceto esse trabalho, enquanto ela dura o regente é o soberano do mundo.3”
Observou ainda Canetti que “não há expressão mais óbvia do poder que o desempenho de um regente. Cada detalhe de seu comportamento público lança luz sobre a natureza do poder. Alguém que nada soubesse sobre poder poderia descobrir todos os seus atributos, um após outro, mediante a atenta observação de um regente”.
Figuras poderosas tornaram-se fãs devotados. Margaret Thatcher, primeira-ministra da Grã-Bretanha, por exemplo, invejava abertamente o absolutismo do austríaco Herbert von Karajan, que regia de olhos fechados. Eis um vídeo de um dos seus extenuantes e intermináveis ensaios, em que parecia jamais se satisfazer com o desempenho dos seus “súditos” – por mais que habitassem o Olimpo de uma filarmônica de Berlim ou de Viena:
1 KELLER, H. Criticism. Londres: Faber & Faber, 1987.
2 LEBRECHT, N. The maestro myth: great conductors in pursuit of power. London: Simon & Schuster, 1991.
3 CANETTI, E. Crowds and power. Londres: Penguin Books, 1973.










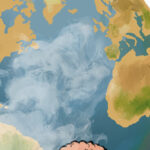



Que bom ter Frederico Toscano de novo na “Será?”. Trata de música, mas este é também um ensaio sobre “mandões” e o autoritarismo: mandar e ser obedecido exige perícia…
PS – A tecnologia da “Será?” na indicação das notas de rodapé poderia ser melhor, os numerinhos de chamada ficaram meio perdidos.