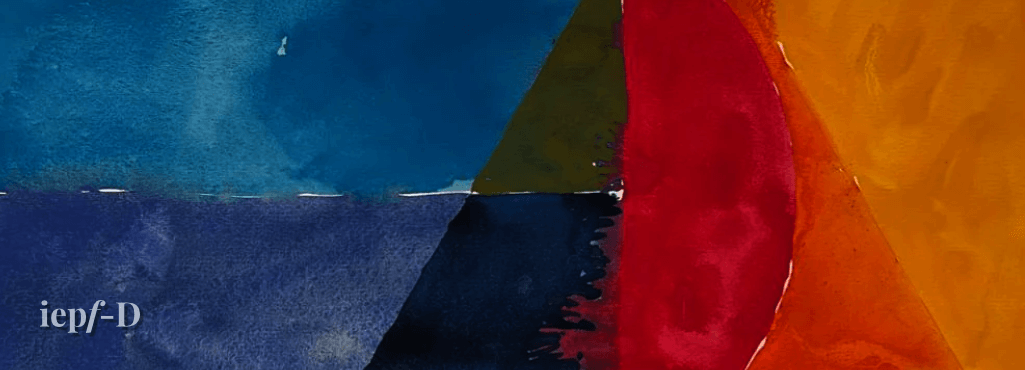
Sem título, Raul Córdula ( Guache sobre papel)
Tenho visto gaivotas. Outro dia em Olinda, na curva da Praça do Carmo, avistei um bando delas voando para o norte. Estranho! As gaivotas são de outras praias, os pássaros daqui são pernaltas: lavadeiras, maçaricos; gaivotas são de longe. Mas tenho visto algumas perdidas por aqui. Noite dessas, na Rua do Bonfim, equilibrando-se numa cimalha da parede da igreja, lá estava uma gaivota assustada, estranha, tentando compreender o mundo diferente em que se havia metido. Cagara no barroco da fachada e sua merda fedia a esperma podre, peixe estragado, mênstruo jogado no lixo. Parecia, porque na verdade eu não senti o fedor, passava rápido, de carro. Mas pude ver, quando virou seu pescoço ao perceber minha presença, que o olho do outro lado de sua cabeça estava vazado. De um lado um olho sem olhar, redondo, vendo o mundo ameaçador sem mostrar nenhuma emoção, do outro um olho cego que, embora nada visse, expressava algo como um olhar de angústia e sofrimento. Lembrei-me que em Lisboa gaivotas e pombas desenhavam o céu com as formas e movimentos de seus corpos alados numa sensação de “à vontade”, de total desprezo do mundo dos homens, em frente às correntezas do Tejo.
Não somos Lisboa, tampouco Veneza, muito menos Amsterdã, mas outro dia, tendo marcado um encontro com Amélia na Praça do Arsenal, avistei outras gaivotas voando sobre as estruturas dos mastros e das amarras dos navios do porto, e mais uma vez me senti em Lisboa. Era de tarde e eu esperava minha amiga que queria me levar à Torre. Percebi os pombos e os pardais, e os bichos comuns, cachorros e gatos que cruzavam a praça. Parecia que os animais participavam de uma cumplicidade à margem da vida dos homens, que se viam entre eles, sabiam dos seus hábitos e guardavam por isto distância e respeito.
De repente um alemão maluco, dono de uma cervejaria da Rua Bom Jesus, soltou um morteiro de três tiros. Uma revoada de pombos cobriu o céu revoando em Pollock, os pardais dispararam de várias direções, cruzando-se em mondriânicas linhas retas e as gaivotas fugiram em suaves curvas, como um quadro de Matisse da fase do jazz. A revoada lembrou-me versos do Eugênio de Carvalho: “Horas, horas sem fim, tristes, profundas. / Esperarei por ti até que todas as coisas sejam mudas, / até que uma pedra irrompa e floresça, / e até que um pássaro me saia da garganta / e no silêncio azul desapareça”. Eu não estava mais disposto a esperar mais Amélia, tinha na minha pasta duas taças, uma garrafa de um bom Malbec e o meu saca rolha de cabo esmaltado que ganhei de meu belo e perfumado primo José quando ele chegou, aparvalhado, de Paris.
Minha garganta implorava um gole e eu me sentia sozinho demais para beber naquele banco sob a luz dourada da tarde. Do outro lado, em frente a mim, havia um senhor sentado, e ninguém mais, além dos passantes. Animado e solitário, resolvi abrir o vinho. O senhor, também solitário, mas não tanto. Ele tinha um cachorro, um flexível e adestrado Pastor Alemão que explorava os cheiros da praça e atendia de forma curiosa a uns quase silenciosos e invisíveis silvos e gestos que seu dono fazia. Era um homem estranho, não havia dúvida, apreciei sua bizarria. Vestia um conjunto de brim branco gelo dos tempos da calça lee, com o casaco fechado na cintura e gravata vermelha escura sob impecável colarinho branco. Suas mãos repousavam sobre a empunhadura de prata de uma bengala, o que me fez pensar que era um homem velho, mas depois, olhando-o atentamente, percebi que não era assim tão velho, tinha, talvez, a minha idade, e era magro com as mãos finas cruzadas sobre a bengala. Pensei que ele prestava atenção em mim e na minha bebida e me preparei, na minha proverbial timidez, para oferecer-lhe a taça que esperava por Amélia, pois percebi um meio sorriso enigmático, só que depois vi que a direção dos seus olhos não apontava para mim. Neste ponto uma mulher apareceu dirigindo-se a ele, uma bela mulher que vestia negro e tinha os braços nus, lindos braços torneados. Cabelo curto, bem cortado, e um fio com pérolas em volta do pescoço. O homem chamou seu cachorro, pôs-lhe a coleira e a mulher seguraram-lhe pelo braço ajudando-o a levantar-se. Apoiado na bengala e conduzido pela mulher e pelo cachorro ele saiu da praça. Foi então que percebi que ele era cego. Que bobagem eu estava preocupado com a atenção dele, não com sua presença. Envergonhei-me um pouco de minha presunção. Revi os pombos que voltavam calmos aos seus arrulhos, os pardais que se engavetavam novamente nas rachaduras da calçada e percebi a ausência das gaivotas. E Amélia não veio.
Um bate-boca educado, mas severo, fez o guarda tirar a multa da zona azul que Amélia tinha levado. Em volta da Praça do Arsenal existe como que um mercado de multas de trânsito provocado pela excelência burguesa que lá freqüenta.
Amélia chegou dizendo: Ainda bem que você já está aqui, desde ontem quero mostrar as fotos dos grafites em volta da Rua da Moeda…
A manhã estava deslumbrante, a Torre Malakoff brilhando ao sol e a praça cheia de gente. Sentamo-nos num banco protegido pela sombra.
Percebi sem surpresa, como num filme, como se o hoje fosse continuação do ontem, que o homem cego ocupava a outra ponta do banco. Desta vez, porém ele estava claramente cego, se compunha de óculos escuros, bengala e cachorro, vestia jeans com um boné azul onde estava bordado N Y, calçava tênis antigos e usava uma malha branca escrita em vermelho: I am blind. Help me, Tank you. Ninguém poderia dizer com mais eloqüência que era cego, somente um cego como eu não tinha ontem, percebido. E ninguém poderia proclamar com tanta elegância como sofria sua própria cegueira, como necessitava de socorro, como precisava do outro. O que me arrebatou, porém, foi a coincidência daquela frase com fatos de minha vida, a memória que aquela mensagem aflorou em mim: uma antiga crônica de Geir Campos escrita em Nova Iorque, onde ele falava de um cego com uma tabuleta no pescoço onde estavam escritas exatamente as mesmas palavras. Mas o cego americano pedia explicitamente dinheiro com uma lata vazia de sopa Campbell na mão, esmolava em inglês. Inspirado no poeta Geir, há uns 40 anos escrevi as mesmas palavras num desenho que fiz em São Paulo.
Nosso cego falava para poucos e raros que algum dia na vida embarcaram na aventura de discutir a cegueira, denunciava com dimensão poética sua angústia, seu apelo e sua gratidão. Naquele momento ele gritava, silenciosamente embora, para mim e Amélia que, estupefata, com a câmara já na mão, acabara de ler sua mensagem na camisa. Com a atenção contida na posição das orelhas ele nos dizia que nos estava percebendo como um pescador conhecido pressentia o peixe antes morder a isca. Ele nos estava pescando com sua bengala e seu cachorro, fomos fisgados.
Fiquei meio sem saber o que fazer, não tinha trazido vinho, pensava tomar uns wiskys no Bar 28. Mas minha conversa com Amélia supriria o transe existencial que a presença do cego provocava. Meditamos em torno das fotografias de Amélia e falamos também de pintura, das ruas e calçadas com seus mosaicos de pedras portuguesas. A cada momento da conversa, quando meus olhos viajavam em derredor e esbarravam com o rosto do homem cego, seu sorriso de Gioconda denunciava sua atenção. Ele ouvia com detalhes nossa conversa embora parecesse estar longe demais para isto.
Frases pintadas na camisa, tabuletas com frases/títulos, pichações, grafites, mensagens gráficas, tudo isso faz parte da minha pintura. Desde meus primeiros experimentos a garatuja, a escrita, a caligrafia reivindicam espaço no meu desenho. No pique da nouvelle figuration que invadiu o mundo, considerada a pop art francesa, quando o Rio de Janeiro era a capital da cultura brasileira, eu me encantava com a arte mostrada pela Galeria Relevo, onde vi um dos artistas que mais me influenciaram, o espanhol Juan Genovés. Num de seus desenhos havia um homem com uma tabuleta no pescoço, nela seu próprio rosto. Acompanhando sua obra, a de outro espanhol chamado Arroyo e dos argentinos Berni e Segui, me sentia seguro caminhando na aventura da vanguarda que falava brasileiro, portenho e castelhano. Em 1972 pintei minhas últimas figuras, uma série de guaches em memória do meu avô Vicente Trevas. Esta série iniciava com um desenho de um homem de costas, no lado esquerdo, e de frente, no direito. De frente seu rosto era felino e numa tabuleta pendurada no pescoço se lia: “Meu Avô Matou Uma Onça”.
A familiaridade com o momento fez-me sentir uma sensação de dejá vu, via-me fisgado no tempo, sintonizado em vários acontecimentos passados, preso num episódio que queria se definir como uma capitular do início de um texto, uma etapa, uma data, ou uma vinheta de final de capítulo.
Fui até o cego e perguntei:
– Quem é você?
– Aristides. Por quê?
– Gostamos da frase bordada na camisa.
– Comprei na América, gosto da ironia quando é inteligente. Muitos se aproximam de mim quando a percebem, como vocês. Quem são vocês?
Disse que éramos artistas, ele disse que era professor de inglês para brasileiros na Califórnia e que estava de férias. Maria Adília, sua mulher, quis voltar com ele ao Recife.
– Sou daqui e tenho a memória do Bairro do Recife que conheci garoto, quando eu ainda enxergava.
Parou um carro na Zona Azul. Maria Adília desceu deslumbrante. Ele nos convidou:
– Até o fim do mês virei aqui toda tarde. Venham conversar!
E foi-se com ela.
Marquei na praça com Humberto Magno. Queria repassar um pouco da memória de nosso trabalho nos anos 80. Fui de táxi, Humberto não havia chegado, mas lá estava Aristides disfarçado de quem vê, sem os óculos escuros. Sorria um sorriso de meia lua e seus olhos eram perfeitos, a não ser pela sutil ausência de luz. Fui direto até ele.
– Olá, como vai? Sou o pintor que falou com você aqui há alguns dias! Posso sentar-me?
– Por que não? A não ser que você queira me assaltar.
– Eu não sou louco… com este cachorro?…
– Esse pobre não faz nada, só mete medo. Não está aqui para me proteger, mas para me conduzir. Eu não trago nada comigo. Minha mulher não deixa que eu fique só com dinheiro, é muito fácil tirar qualquer coisa de mim. E você não tem voz de bandido, tenho certeza de que lhe daria uma surra de bengala, se você tentasse. Mas você me disse que era artista plástico. Como é ser artista plástico? Como é viver assim?
Fiquei confuso, como falar a um cego sobre pintura, mas expliquei: Não sei como você irá entender, é uma vida inteira fazendo coisas para o olhar dos outros.
– Eu já vi pinturas, quando criança eu vi pinturas, retratos, paisagens, fotografias, esculturas, tudo isso.
– Quando você era criança a arte era diferente.
– Eu sei de tudo, eu leio e converso sobre arte na América. Eu sei o que é arte moderna e arte contemporânea, embora não as tenha visto, ceguei com 8 anos. Os cegos têm uma capacidade de visualização que você nem imagina. Sou capaz de formar imagens nítidas na minha cabeça. Não se acanhe, o que eu quero mesmo é saber como é sua pintura. Sua palavra será minha luz.
Comecei perguntando se as cores tinham significado para ele, e ele me disse de cara, “na lata”:
– Claro, o vermelho é como o grito do pavão!
Senti que aquela conversa ia ser longa e excitante. Para não pegar pesado pensei em descrever um quadro muito simples, de uma fase minimalista onde eu somente trabalhava as cores primárias, o branco e o preto, e formas também primárias: triângulos, quadrados e círculos.
– Então eu disse: imagine um retângulo azul intenso.
– De que tamanho?
Aristides me dava outra informação sobre a cegueira: o senso espacial. Era óbvio que para ele as dimensões, que para nós não importam porque vemos, e com perspectiva, contava muito, contava literalmente, pois seus passos eram medidas fundamentais para seu deslocamento.
– Um metro por um e meio, respondi.
– Hum! É bem bonito…
– Como, assim?…
– É muito bonito visualizar um retângulo azul intenso perdido na imensidão negra que é o meu panorama, minha janela.
– Como é o azul para você?
– Eu me lembro do céu, da imensidão, como minha janela, mas azul. Mas as cores também têm outras significações, o azul às vezes é como o chocolate, ou como o iogurte de frutas. Posso pensar no azul também como um beijo no pescoço: arrepiante, mas suave e plástico.
– Como plástico?
– Elástico, sensual, maleável.
– Você disse antes que o vermelho era como o grito de um pavão. Que vermelho?
– Ah! Você agora falou, “Que vermelho?” Há muitos tons, eu sei, há um vermelho sangue, me lembro, mas há vermelhos diferentes, como gritos de pavões ou pancadas de metais. Quando digo “pancadas de metais” não estou falando só de sinos badalando, estes, as vezes, soam como verdes, mas de sons do frevo, quando todos os instrumentos de sopro metálicos, trompetes, trombones, tubas, tocam uníssonos a mesma nota. Este é um vermelho paidéguas!
– Você gosta de frevo?
– Claro, sou pernambucano, pra mim o frevo é o jazz daqui. Na América escuto muito, e mostro aos amigos americanos, que babam…, “Mas fale mais da sua pintura.”
– Bem, imagine agora um quadrado amarelo no centro do retângulo azul. Um quadrado de oitenta centímetros de lado, que deixa uma margem azul de dez centímetros em cima e embaixo dele e de trinta e cinco centímetros de cada lado.
Por um momento Aristides pensou imóvel, e disse:
– Lindo! Uma janela amarela na janela azul que se instalou na minha inexorável janela negra.
– Como é o amarelo para você?
– Meu pai criava canários. Tinha um com meu nome, era meu, meu pai dizia que ele cantava “Aristides”. Não vou dizer aqui que o amarelo para mim é como o meu nome, seria muito fácil, mas me lembro das tardes mornas onde uma luz dourada se derramava na varanda em Casa Forte. Eu me lembro do amarelo das folhas mortas e os outros tons ocres e marrons, me lembro do chão da estrada real do Poço e da beira do Capibaribe. As tardes eram puras e cheiravam a mata. Verdes e amarelos percorrem minha janela… Mas o amarelo pode ser também para mim algo metálico, cortante, agudo e brilhante. De qualquer forma é muito bonito ver um retângulo azul com um quadrado amarelo no seu centro.
– Você falou em centro, o que isto significa pra você?
– Aprendi a dizer que estou no centro, o mundo parte de mim, este é uma das condições para o cego se movimentar. Mas, por outro lado, eu procuro o centro das coisas, paradoxalmente, para me sentir feliz.
– Fale sobre isto.
– É assim como mergulhar em abismos, como penetrar uma mulher. Eu gosto de imaginar estes mergulhos no centro das coisas, das pessoas, dos rios, da terra.
– Seria como um desejo de morte?
– De morte em vida. Mas também é como atender a um desejo do outro, é como atender ao apelo do mar e da terra pelo meu corpo, ou como levantar vôo com o as gaivotas. Em São Francisco há muitas gaivotas que fazem barulho sobre os barcos da marina onde meu amigo Steve tem um barco. Penso agora que o vôo das gaivotas é outro tipo de mergulho: um mergulho no nada, no espaço, sem resistência e sem rumo.
– E o quadrado, o que é pra você?
– Minha sala. Meu quarto. Meu livro de Braille. O limite…
– A terra é quadrada?
– Para mim é.
– E o céu?
– É redondo.
– E o inferno?
– Somos nós. Mas eu li isto num livro, não leve em conta. Não leve em conta porque na verdade o inferno somos nós mesmo. Uma verdade tão verdadeira assim se torna banal. E nessa sua conversa que já virou entrevista você espera de mim respostas inteligentes.
– Não queira afirmar com ironia sua idéia do inferno. Eu acho que nós podemos ser também o céu. Às vezes eu sou o céu, às vezes o outro é o céu: sua amada, seu amigo, seu filho, seu herói… E às vezes eu sou o inferno para mim e para os outros. É relativo.
– Como tudo
– Voltemos à composição do quadro, imagine um triângulo negro com sessenta centímetros de lado, eqüilátero, no centro do quadrado.
– Mais uma vez ele parou, esperou e disse:
– O que é um triângulo? Eu já vi, penso muito em triângulos, imagino triângulos de cores, e negros também, mas o que é um triângulo? De onde vem, quem inventou? Para mim, que vi tão pouco, não há muitas referências a triângulos. Lembro-me de triângulos desenhados em um muro, que eu sabia significar o sexo feminino. Para mim era estranho, os meninos falavam, mas eu nunca vi uma vagina de mulher, vi de meninas, que eram como um risco. Mas triângulos com um risco no meio e coberto de rabiscos que sugeriam pelos para mim eram garatujas de menino. As vaginas eu somente pude sentir com o tato, quando grande, e não me parecem triângulos, parecem mais ostras, polvos, camarões, casulos de bicho da seda. Quero saber se seu triângulo negro está com o vértice para cima ou para baixo? Se for para cima é um altar, se for para baixo pode ser uma vagina.
– Primeiramente minha arte não se relaciona à natureza, as figuras geométricas que pinto são triângulos, quadrados e círculos mesmo, você simbolizou tudo que pintei até agora, mas a maioria das pessoas simboliza tudo, você não é exceção. Segundo uma vagina pode também ser um altar, depende de sua atitude diante dela. Aliás, arte é atitude…
– Outras referências de triângulos – retomou Aristides – são coisas parecidas com folhas e flores. Mas o conceito principal do triângulo para mim – e você falou em triângulo eqüilátero – não se limita à figura geométrica. A idéia da Trindade é importante pra mim, e abrange o sagrado e o profano ao mesmo tempo. Sou católico e a Santíssima Trindade é a eterna egrégora que preside todos os nossos atos. Confesso que sou religioso e místico, jamais me desliguei dessa condição, mesmo quando me transferi para a América do Norte, país protestante e pragmático. Os protestantes também são cristãos, você vai argumentar, e reconhecem a Santíssima Trindade, mas não são místicos, a religião para eles é uma forma de viver esta materialidade na perspectiva de sucesso profissional e financeiro e suas igrejas são, na verdade, instituições sociais progressistas e pragmáticas, nunca centros de transcendência e de fé como chegam a ser as católicas.
Seu triângulo preto é para mim como um furo negro através do quadrado amarelo do retângulo azul. Ele é da cor da janela da minha alma e eu posso passar por ele para chegar do outro lado. É um portal para o outro lado.
– Mas o que é o outro lado, perguntei.
– É uma alternativa, outra realidade que por acaso eu queira que aconteça. Não se esqueça de que eu posso projetar na minha janela tudo que eu quiser. Na verdade, eu posso ser um pintor para mim mesmo, só tenho de criar mentalmente meus quadros. Conversando com você eu estou virando um pintor.
Humberto Magno chegou. Estacionou seu Fusca e se encaminhou para nós.
– Este é Aristides – apresentei – estamos falando sobre pintura, você perdeu o melhor do papo.
– Olá Aristides! E não percebendo a cegueira dele perguntou: é pintor também?
– Sou, respondeu Aristides.
– Quero voltar à nossa conversa Humberto, aos poucos você vai se entrosando. Eu ainda coloquei um círculo branco no centro do triângulo, um círculo de trinta centímetros de raio, que acha?
– Fechou o furo. Isto para mim é uma penetração vista de frente. O círculo branco é o segmento do falo, o triângulo a vagina, o quadrado o espaço, dos limites físicos, e o retângulo azul o espaço social onde acontecem os relacionamentos.
– Você relaciona o círculo branco apenas com um corte de um cilindro? Com o corte do pênis?
– Não senhor, para mim o branco pode ser a cor do orgasmo, e o círculo o símbolo do ilimitado, do absoluto. Portanto, aí está minha interpretação: Este belo quadro que você pintou é um ato sexual.
– Não sei se alguém se excitaria diante de algo tão frio, puro e geométrico…
– Não estou falando em excitação, mas em representação.
– Há quem se excite com a Vênus de Milo – comentou Humberto, que não estava entendendo nada.
Durante toda a conversa que tivemos na tarde morena, Aristides transformou tudo em representações simbólicas. Fiquei pensando como raciocina quem não vê, quem necessita da memória e de referências do passado para “visualizar” o mundo. Mas também fiquei pensando como a criação de uma arte que não se relaciona com a natureza pode transpor barreiras tão sólidas como a cegueira. É óbvio que Aristides não viu o quadro que descrevi, mas ele o concebeu de uma forma perfeita, mais perfeita ainda do que eu o concebi, através de um processo que eu não tenho acesso. Ele criou comigo algo que agora faz parte da natureza, mesmo que seja de uma natureza imaterial. É claro também que esta natureza existe assim como existe cyber espaço.
Tínhamos que beber, eu e Humberto. Eu estava perplexo, Humberto curioso com a conversa que perdeu. O 28 estava vazio, pedimos whisky. Nei Eduardo apareceu e um azul marinho luminoso se estendeu por sobre os armazéns do porto.












comentários recentes