
Cientista
Recebi um artigo do meu amigo Antônio Márcio Buainain, *“Ciência e tecnologia: a urgência de um compromisso do setor privado”*, com temas instigantes. Chamou minha atenção.
Uma questão que me inquieta há tempos e que o texto suscita é a diferença entre cientista e consultor. Trata-se de um ponto essencial, ligado ao debate sobre quem deve financiar a ciência e a tecnologia — entendidas como aplicação prática do conhecimento em prol da sociedade.
Buainain aponta uma inversão de valores no Brasil e afirma: “O modelo predominante em nosso país ainda considera que o investimento em ciência é uma responsabilidade quase exclusiva do Estado.”
Contudo, gostaria de focar em outro aspecto relevante, e pouco tratado por formuladores de políticas públicas: a confusão — nem sempre inocente — entre os papéis de cientistas e consultores. Ele explica com clareza:
> “O cientista está comprometido com a produção de conhecimento novo, baseado em métodos rigorosos, revisão crítica por pares e liberdade intelectual. Já o consultor atua aplicando conhecimentos existentes para resolver problemas específicos e oferecer respostas práticas, muitas vezes sob a demanda de clientes com objetivos claramente definidos.”
E adverte:
> “Quando esses papéis se confundem — seja porque o cientista veste o chapéu de consultor sem declarar, seja porque se engaja em causas políticas ou ideológicas sob a autoridade da ciência —, cria-se um ruído que mina a confiança do público e dificulta o diálogo honesto com o setor produtivo.”
O problema se agrava quando o cientista se coloca a serviço de interesses específicos — como um consultor contratado para validar decisões previamente tomadas — sem deixar claro esse papel. Isso gera desconfiança e resultados improdutivos.
Além disso, Buainain observa que:
> “Infelizmente, entre nós ainda predomina uma visão utilitarista e reativa: busca-se a ciência apenas quando ela ‘ajuda’ a sustentar determinada posição. Pouco se investe em estruturas permanentes, em linhas de pesquisa de longo prazo ou em parcerias genuínas com centros acadêmicos. O resultado é um sistema vulnerável e suscetível a interferências, inclusive políticas.”
Diante desse quadro, pergunto: o que vem acontecendo com as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs)? A Constituição de 1988 permitiu pensar o desenvolvimento nacional com base na articulação entre o projeto de país e a área do conhecimento. Isso impulsionou a criação das FAPs, existentes hoje em todos os estados. Com a Lei Florestan Fernandes, consolidou-se a vinculação orçamentária obrigatória para ciência, tecnologia e inovação — Pernambuco foi pioneiro.
Mas isso gerou atritos. Recursos expressivos passaram a concorrer com outras áreas prioritárias, como saúde e educação. Contingenciamentos e bloqueios orçamentários se tornaram frequentes. Era preciso convencer as instâncias decisórias do Estado — especialmente as áreas de planejamento e finanças — de que cumprir a lei era fundamental.
Com a retração de investimentos privados e federais, o desafio passou a ser sensibilizar os governos locais. Nesse contexto, emergiu o problema da confusão entre cientista e consultor, agora incentivada por novos modelos de financiamento.
Exemplo disso é o programa **Cientista-Chefe**, criado no Ceará. Ele canaliza recursos da FAP para enfrentar problemas das Secretarias de Estado. Os cientistas são alocados para apoiar ações estratégicas com dificuldades operacionais — mas sob parâmetros definidos pelo próprio Governo, o que restringe a produção de conhecimento novo.
Outros estados seguiram caminhos semelhantes. Pernambuco, por exemplo, criou a **Usina de Inovação**, financiada por um fundo oriundo de empresas incentivadas, para apoiar projetos específicos das secretarias. Embora batizado de “inovação”, o foco real é modernização administrativa.
Com isso, as instituições estaduais de pesquisa — que deveriam estar ligadas às secretarias finalísticas (Agricultura, Indústria, Saúde) —, sucateadas e abandonadas, passaram a depender de recursos das FAPs apenas para infraestrutura e pessoal.
Esse modelo reduz drasticamente a capacidade das FAPs de financiar inovação real, pois direciona recursos para resolver demandas administrativas de curto prazo.
Além disso, os programas deixam de atender instituições dedicadas ao desenvolvimento e inovação, e passam a abarcar qualquer órgão governamental com um problema tecnicamente mais complexo. Por meio de editais, grupos de pesquisa são contratados para soluções que, na prática, são consultorias especializadas.
Nos primeiros editais, os temas são claros: Gestão de Dados, Avaliação de Políticas Públicas, Otimização de Plataformas. São serviços que sempre foram contratados pelas secretarias como consultorias, não como pesquisa científica. E, muitas vezes, sem vínculo com um projeto estratégico de desenvolvimento de longo prazo para o estado.
Ao transformar essas consultorias em projetos de pesquisa, estende-se desnecessariamente os prazos — de alguns meses para dois anos — e amplia-se o custo, com bolsas e planos de trabalho. Fica a dúvida: o objetivo é resolver o problema ou estruturar um grupo acadêmico?
Ademais, esses projetos raramente envolvem a capacitação das equipes técnicas do governo. A impressão é que elas existem apenas para apoiar os grupos acadêmicos.
Enquanto isso, as verdadeiras instituições de pesquisa e inovação continuam em crise, sem políticas de recuperação ou fortalecimento.
O resultado é perverso: reduz-se a resistência intra-governamental e aumenta-se a adesão das instâncias decisórias, mas à custa da autonomia científica e da estratégia de longo prazo.
Num mundo em profunda transformação — com revoluções na manufatura, na inteligência artificial e nas relações de trabalho —, restringir o papel da ciência a projetos de modernização administrativa é um erro de concepção.
Esse modelo pode agradar à academia por garantir recursos, mas não promove a verdadeira inovação de que o país precisa.








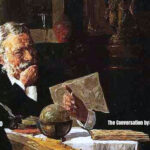



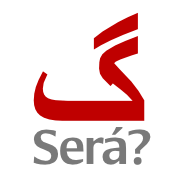
comentários recentes