À sombra do frondoso pé de Ficus Benjamim, olhando para a Praça Cel Porto, quatro meninos se esmeram para ter as suas fincas afiadas. Rec, rec, rec. Arrastam o pequeno pedaço de ferro de quinze ou vinte centímetros na calçada. O objetivo é limar a ponta o mais fino possível para ter maior precisão no jogo de finca. Vez em quando, para quebrar o monótono ritual, o mais sacana encosta a ponta quente do ferro no braço de outro, distraído. O pau canta, para, logo depois, com a “turma do deixa disso”, voltar tudo ao normal. O jogo de finca é uma brincadeira com muitas exigências. Primeiro, o controle e a precisão de arremessar a finca na areia onde estão desenhados dois triângulos, a arena onde vai se desenrolar o jogo. Também exige estratégia, pois a cada lance de finca você puxa uma linha reta de um dos vértices do seu triângulo, desenhado na areia um complexo polígono que, de traço em traço, vai fechar o cerco ao triângulo do adversário. A adrenalina corre solta. Os traços tomam vida, como dois cavalos de corrida, tentado um ultrapassar o outro, até chegar ao exato ponto de partida, vencendo a disputa. Devido às muitas horas de prática, chega-se à perfeição de, às vezes, quando uma linha está a milímetros do muro, meter a finca bem no meinho, para assim poder passar a linha do adversário. O limite é o terreno e o risco. Bem, tudo na vida tem risco … meter a finca em seu próprio pé ou no pé de alguém.
*
Inspirados nos filmes de Capa & Espada que passava no Cinema Santino, a “luta” com espadas era outra das brincadeiras da nossa infância. Qualquer cabo de vassoura velho era de um valor inestimável. Às vezes aperfeiçoávamos a espada, levando o cabo de vassoura para Seu Miguel, o marceneiro que tinha um auxiliar surdo e mudo. Ele, com paciência, abaulava as pontas, afinava a madeira, finalizando seu trabalho com a colocação de um cabo para proteger a mão na hora da luta. Os mais detalhistas colocavam tarraxas de aço no cabo para dar uma distinção heráldica à espada. As lutas podiam ser apenas entre dois oponentes ou entre dois grupos. Havia algumas regras, como não atingir as partes baixas nem a cabeça — como é próprio dos cavaleiros da idade média, mata-se sem perder a ética. Quando em grupo, a turma se espalhava pelas ruas e, dado o sinal, começava a luta. Aquele atingido pela ponta da espada tinha que morrer e ficar lá deitado, até a brincadeira acabar. Havia, invariavelmente, a discussão se o cabra tinha morrido ou não e aí o bate-boca se prolongava mais do que a luta em si. Os chiões eram expulsos da brincadeira. Brincadeira era coisa séria!
*
Tia Vitória Sansoni, carioca, filha de família nobre e moradora de uma bela casa no Jardim de Alá, em Ipanema, a princípio não entendeu bem o que estava se passando à sua frente. Da varanda da Casa Grande, me viu sujo e pendurado na traseira de um caminhão. Quase desmaia de agonia, precisando ser acudida com uma cadeira, buscada às pressas por Maria Dindinha, babá de meus pais e agregada da família.
— Era Joãzinho! era Joãozinho, eu vi!
Sabia que ia me lascar numa pisa de meu pai, mas a missão tinha que ser cumprida. O velho caminhão, que já atravessara a Praça Cel. Porto, dava a deixa, diminuindo a marcha na curva, para eu, Santa e Carlinhos pularmos, já na frente do DER. Amoçegá caminhão era um dos “esportes radicais” da nossa rua. Por lá passavam caminhões carregados de romeiros e mercadorias, sempre em marcha lenta. Ficávamos à espreita e, quando aparecia um, nos pendurávamos na traseira, e, com as pernas encolhidas, qual morcegos, éramos levados, rua acima, rua abaixo— carregados de adrenalina e excitação.
*
Eu, Santa e Carlinhos éramos maloqueiros de rua, expressão, na época, mais relacionada à liberdade do que à classe social. Depois de cumpridas as tarefas da escola, as ruas de Caruaru era um território livre para ser explorado. Não tínhamos ainda bicicleta, mas não fazia falta. Pegávamos uma tira interna de um pneu de caminhão — provavelmente na Tyresoles—, um pequeno pedaço de pau com arame na ponta que envolvia a roda, servindo como ferramenta impulsionadora e, com a mão, batíamos o pau na “roda”, equilibrando-a e, sem deixar cair, rodávamos pelas calçadas e ruas da cidade. Não havia chuva nem tempo ruim para nosso rústico meio de transporte. Não sei bem o que transportávamos, mas era uma fonte de diversão segura.
*
Nas horas vagas, entre uma brincadeira e outra, íamos para a feira, à altura do Colégio das Freiras, apanhar papel de maço de cigarro: Continental, Minister, Consul, Astória, Hollywood, Malboro, etc . Descolávamos cuidadosamente o papel e dobrávamos as suas laterais, de maneira que este ficasse do mesmo tamanho de uma nota de dinheiro real. Pronto: estávamos cheios da grana. Sem nenhuma interferência do Banco Central, ou do Banco do Povo, definíamos os valores para cada nota: a nota de Continental valia cinco cruzeiros; Hollywood dez; Minister quinze e os importados como Malboro e L&M, que eram as mais raras, valiam de vinte para cima. A noite, hora de jogar conversa fora nas calçadas ou na Praça Cel Porto, chegávamos ricos e confiantes com os bolsos estufados de “dinheiro”. Rico que era rico, naquela época, não usava estas modernidades de cheque. Cartão de crédito? Este seria inventado algumas décadas depois. Era o maço estufado no bolso, puxado ostensivamente para pagar alguma conta na feira ou no comércio, que garantia o sinal de riqueza. Lembro agora de Odacino do Tijolo, com sua roupa de matuto, camisa aberta no peito, lá no sinuca do Bar de Chaguinhas quando me reconheceu como filho de Seu Lila, seu colega de infância. Para demonstrar como ele tinha vencido na vida, puxou, para meu espanto, um volumoso maço de notas de cem dólares do bolso.
*
Mané Florêncio tinha uma enorme habilidade para fazer os carrinhos de madeira. Ele turbinava estes carrinhos simples que comprávamos na feira, com molas e rolimãs. Eram verdadeiros cadillacs. Dava uma inveja arretada. Quem não tinha carro, improvisava com uma lata de leite ninho cheia de areia, perpassada por um arame em forma de U, prolongado por barbante fazendo o puxador. Com nossos carrinhos e latas, movidos com o valioso combustível da nossa imaginação, viajávamos o universo inteiro. Cada remendo de cimento na calçada era um lago; uma raiz do velho fícus benjamim, um obstáculo a ser superado. Este universo se restringia a Praça Cel. Porto e adjacências, formando uma “malha viária” de infinitas combinações, infinitos destinos — assim como a vida.
***
Setembro 2014





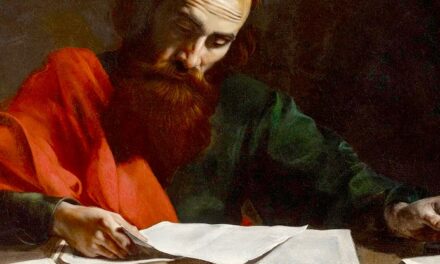










Prezado Joãozinho.
A minha alegria só não é maior que minha satisfação de fazer parte da história viva de nossa “terrinha”. Por isso, quero aqui deixar registrado a minha gratidão pelas lembranças tão reais e fidedignas das nossas brincadeiras e dos acontecimentos. Experiências estas que estarão sempre presentes em nossas mentes e agora, gracas a você, perpetuadas na lembrança histórica de nossa cidade. Mais uma vez obrigado.
Adorei as lembrancas.Nos tambem brincavamos do Jogo do garrafao na praca.
Tambem tinha um jogo de roubar a bandeira do outro time.
Pega Pedras ,nos usavamos 5 pedras colocavamos 4 entre os dedos da mao e a outra servia de joga la para cima enquanto pegavamos quantidades diferente de pedras.O outro jogo que eu adorava era jogar a bola contra a parede cantando as rimas e mudanto os desafios.Eu nao me lembro da musica .Faz muito tempo que nao canto as musica de minha infancia.Obrigada Joao.
Esta sim foi infância bem vivida onde as crianças tinham a liberdade de andar pelas ruas sem o perigo do trânsito o que as fazia amadurecer com criatividade. Quem viveu essa época tem uma felicidade imensa no coração, fez amigos verdadeiros e não conheceu a paranóia que angustia os pais da atualidade, cada vez mais crianças presas em casa, sentadas na frente de um computador com seus jogos eletrônicos, todos comprados já prontos com as instruções em anexo.
Joãozinho
Meu amigão, me sinto honrado em participar de tão importante crônica da Revista Sera ?
A finca, a roda e a espada,onde vc relembra nosso tempo, nossa infância.
Abraços com muitas saudades
Manuel Florêncio
Mané, como vc me chamava
Que maravilhosas essas recordações João Rego. Quantas vezes joguei finca com meus irmãos no nosso pomar! Bola de gude também. E os carrinhos de lata com o arame em forma de U parece que ainda os vejo. Os meus irmãos e primos tinham também os carrinhos de rolimãs e como meu avô morava na esquina da Duque de Caxias (na outra calçada era a casa do Seu Viana), o sonho era poder descer a calçada no domingo (dia de menor movimento) em um carrinho daqueles. Ah, como era linda a nossa infância!
Muito boa . Fico só na saudade das pessoas e brincadeiras daquela época
João,
Francisco das Chagas, o Chaguinha do Bar, foi meu colega de turma, do 2º ao 4º ano ginasial, no Colégio Municipal. Um piauiense arretado.
Era o beque central do nosso time e baixava o sarrafo. Por isso, seu apelido futebolístico era Cangaço. Eu era o quarto zagueiro, jogava ao lado dele. Lembro parte da escalação:
Pedrosa (Geová); Tenório, Cangaço, Homero e Sibita; Ernandes e XXX; Genivaldo, Haroldo, XXX e XXX.
Abraço
Cada crônica uma viajem ao passado na sua maneira de descrever com tanta clareza. Parabéns
João muito boa a sua crônica. Como era bom ser criança naquela época. Meus parabéns, continue com suas crônicas e nos faça relembrar a nossa infância. Um abraço forte.
Lindo, lindo! Boas recordações,saudade enorme de um tempo mágico, tempo de alegria !! Obrigada JOÃO por reviver tudo isso! Grande abraço bem apertado.
Amigo João: As brincadeiras reportadas conferem quase todas com as minhas, nos quintais das casas da família em João Pessoa. Belos tempos.
Observo que devíamos ter bons anjos da guarda, nos duelos coletivos de espadas, de uma imprudência total, que os nossos pais não conseguiam reprimir: não saíu ninguém de olho furado.
0 mês de julho, férias colegiais, era p/ soltar papagaios ao vento. Bola de gude (de vidro), creio que era o ano inteiro. Soltar peão tb. não tinha tempo.Passar um anel entre mãos nas calçadas, na noite: foi assim que meu pai, o velho Giacomo Mastroianni, se apaixonou por minha mãe quando ela tinha nada mais que 9 anos de idade. Aos 11 ela já tinha o anel de noivado no dedo. Aos 15 anos,casada, se despediu do clube das virgens de Maria…