Santa Fé de Bogotá, Colômbia, 1988 – Era para ser uma noite tranquila. Na véspera, tínhamos ido à tourada e fizéramos amizade com umas colombianas divertidas e irreverentes – que fumavam charuto e tomaram manzanilla no gargalo até o fechamento da mansarda Casa Vieja. Preocupado com um encontro que teria com um alto dignatário, fui até o apartamento do então Ministro das Minas e Energia e ex-Vice-Presidente da República, Aureliano Chaves, no Tequendama. Menti para o ajudante de ordens dizendo que era um amigo de Itajubá. Ele me atendeu de pijama, mas foi gentil e disse que nos veríamos no café da manhã com a autoridade em questão. E assim o dia começou. Enquanto eu ameaçava denunciar o Acordo de Alcance Parcial 21 da ALADI por Não-Reciprocidade, nosso ministro, mineiramente, soprava a ferida e tudo se resolveu bem. Lavrei uma vitória. Então um colega sugeriu: vamos jantar naquele francês simpático onde se comem bons escargots e um filé alto com vagem? Quando a dona do local trazia os pratos, porém, veio a explosão. Atiramo-nos no chão por reflexo, mas, felizmente, não houve estilhaços para dentro da casa. Só o deslocamento de ar na rua – pavoroso. Ela ficou petrificada, coitada. Voltaria à cozinha, faria outros filés. Aceitamos para lhe conservar o ânimo, embora já sem apetite. Sob pretexto de equilibrar a adrenalina, pedimos uma garrafa de conhaque. Na saída, o chofer Pinilla nos levou o mais próximo possível da explosão, a boas quinze quadras. Havia uma cratera enorme. Sorte que era tarde e não tinha gente, pois do ministério ficou só o esqueleto espectral. Es Don Pablo, Senõr. Es el diablo. Pinilla sabia das coisas.
*
San Salvador, El Salvador, 1989 – Já tinham assassinado o padre Romero alguns anos antes. Graças ao terremoto que destruíra a lavanderia da vez anterior, eu não tinha podido recuperar uma elegante camisa com monograma gravado no bolso que minha mulher me dera de presente, e foi com um amuo que recebi o reembolso em dinheiro daquele hotel de más memórias. Mas o que podia estar acima do dever? Lá estava eu de novo no país barbarizado e desgovernado, cindido por bandidos que loteavam as terras e alugavam milícias. Na piscina do estabelecimento, respirando o ar de begônias e hortênsias, tomava uma piña colada e lia um jornal americano. Então eles chegaram, os sicários. De chapéu de caubói, botas de cano alto, imensos rifles nos ombros, bigodes entrando boca adentro, a modulação lenta e anasalada da região, e com os modos perigosos dos capangas sem pejo, bateram com dois dedos na testa ao me ver: Buenas, Senõr. Então se acomodaram e pediram uma garrafa de rum, sanduíches de galinha, langostinos mariposa e costelas de porco. Antes loquazes, mas agora num tom baixo, fizeram um balanço da caçada. De quantos tinham matado e quem pretendiam ainda pegar na boca da madrugada. Nunca me perdoarei pela imprudência: com jeito de gringo, como é que ficava lendo uma revista americana ao lado daqueles animais? Mas a curiosidade era maior. Deixaram umas cédulas e saíram com estardalhaço. A garçonete se benzeu ao som da partida. Por Díos, Maria y José.
*
Bagdá, Iraque, 1990 – Tive que ir com urgência a Bagdá. O presidente da Petrobras ligara para Dr. Antonio Ermírio e foi enfático quanto a um contencioso que tínhamos com a Interbras local – subsidiária comercial do mamute petroleiro – por conta de um acordo barter celebrado pela Volkswagen, capitaneada pelo lendário Wolfgang Sauer, na época da venda dos carros Passat para o Iraque. A Votorantim tinha horror à dependência estatal e, nesse caso, precisávamos do ácido nítrico deles. Tive que viajar para Bagdá de imediato, em pleno agosto, o que era um suplício. Na primeira classe da Air France, num voo que saía de Paris para o Iraque, via Aman, viajou a meu lado a filha de um Ministro-Conselheiro da embaixada. Este me deixou no hotel Rashid – anos depois bombardeado -, e começou a longa espera para me avistar com o Ministro, esclarecer o devido e oferecer uma solução conciliatória para o problema. O Embaixador brasileiro – homem triste que mais tarde se suicidaria no Rio de Janeiro -, me ofereceu um jantar aparatoso. Sim, Saddam Hussein era horrendo. Matara um general que ousara questionar se deveriam continuar a guerra com o Irã. Fizera-o de próprio punho, pistola na mão, diante do gabinete reunido. Pior: matara o pai de uma criança que, inocentemente, lhe dissera numa visita ao jardim da infância que sabia quem ele era. Por que? Ora, porque o pai dela desligava a televisão cada vez que Saddam aparecia. Ah, é? Então seu pai não deve gostar de mim? Não, confessou a criança com um sorriso puro. O tirano assentiu, lhe beliscou a bochecha rosada e disse que precisava conhecer esse bravo homem. Menos um. O pior de tudo foi a visita à Babilônia para matar o tempo. Ainda hoje tenho poeira nos cabelos e, ao rememorar o calor, sonho com a Sibéria.
*
Multan, Paquistão, 1993 – Quando cheguei àquela cidade remota, um black out a reduziu à treva. Escura e inóspita, como daria cabo da fome noturna que me acomete desde que nasci? Alguém me recomendou um restaurante chinês, o único. Lá fui eu, seguindo as orientações que me davam os passantes. Tateei até chegar à porta ornada de lanternas com velas e sentir um cheiro de fritura que denunciou o lugar. Empurrei a porta com força e, sem me aperceber, atropelei o recepcionista – um anãozinho de um metro e qualquer coisa cuja cabeça enorme mal chegava a meu umbigo. Desculpei-me pela trapalhada, mas como eu próprio fui ao chão, ele também sorriu e disse que já estava acostumado. Mas que não era todo dia que recebia uma carga tão pesada sobre os ombros. Brilhante, o anãozinho. Esperto como todo bobo de corte. No dia seguinte, um jipe enorme veio me pegar para irmos visitar as fazendas de algodão. O dono da propriedade era loiro, de olhos azuis, apesar de paquistanês. Disse que descendia dos soldados macedônios de Alexandre, o Grande. Lá – a caminho da Báctria, hoje Afeganistão – ele tinha deixado trezentos homens com a missão de procriar à farta para melhorar a raça. Não tínhamos pressa de concluir o negócio mesmo porque a logística de escoamento era uma incógnita. Karachi ou Bandar-Abbas, no Irã? Alguém me sugeriu visitar um importante templo muçulmano e, apesar de não gostar do estrépito que o motorista fazia de mão na buzina para abrir espaço, aceitei. Chegando à fila de miseráveis, contudo, fui mal recebido. O motorista me pegou pelo braço e, em pânico, corremos para o carro sob chuva de pedras. Eles não queriam infiéis alí. Ora, por que não disse antes, seu idiota? Sorry, Sir.
*
Madrid, Espanha, 2003 – Com Luiz Felipe D´Ávila, fui a Madrid encontrar com Juan Luis Cebrián, o todo poderoso do El País. Tínhamos uma proposta para fazer ao grupo Prisa em torno de uma revista de arte e ele colocou na sala Jaime Polanco, talvez a segunda fortuna da Espanha, um cavalheiro de modos aristocráticos e dotado da sagacidade de um mercador de tapetes. A conversa se desdobrou. Por que eles não chamavam Fernando Henrique Cardoso para o Conselho do Prisa? Don Ignácio Santillana se animou. Ele toparia? Acho que sim, garanti. Se quiser, converso com ele a respeito. À noite, jantamos todos num aclamado restaurante basco e, antes de voltar, propus a Felipe que fossemos a Las Ventas, onde o melhor da tauromaquia estaria na arena. O espetáculo era grandioso e falamos de Hemingway antes da função. O primeiro touro foi fulminado com destreza. O toureiro recebeu uma orelha de bonificação e os lenços brancos varriam a plateia eufórica. Mas quando veio o segundo, logo se viu que teríamos problemas. Era um animal enorme e os picadores não conseguiram lancetá-lo no dorso. Duas das banderillas já caíram de cara e os ferimentos superficiais só fizeram irritar o miúra descomunal. O toureiro entrou com responsabilidade dobrada. A banda tocou um acorde uma vez, pedindo pressa. Depois de várias estocadas vãs e de sangrar muito, o animal foi sacrificado no chão, com a língua emaciada estirada sobre a areia e uma facada cirúrgica entre os olhos. Uma carnificina, enfim. Vaias e apupos para o anti-herói. Atrás de nós, vi uma japonesa que chorava profusamente. Para ela, nunca mais. Que lástima.
*
Londres, Reino Unido, 2005 – Os atentados tinham acontecido há menos de duas semanas, matando 56 pessoas. Foram simultâneos e tinham as digitais claras dos patrocinadores. Morreu gente em Tavistock Square, Russell Square e King´s Cross. Ora, a muito custo eu tinha conseguido que fossemos recebidos pelo braço inglês da maior empresa mundial na área de andaimes, formas e escoras e a reunião não podia ser adiada pois dela dependia a vinda do presidente mundial do grupo ao Brasil, este residente nos Estados Unidos. Sem conexão boa de internet no quarto, fui até um café perto da estação de Paddington. Era um subsolo tranquilo, refrigerado, e várias pessoas faziam dele uma verdadeira estação de trabalho. Tinha acabado de me servir de um chá e estava contente com as notícias que me chegavam. Naquela tarde, visitaríamos com o cliente alguns projetos ligados à organização dos Jogos Olímpicos em que seus produtos estavam expostos, inclusive nas versões mais modernas. O silêncio era total. Mas, num átimo, escutamos um estouro próximo. Ficamos paralisados. Podia ter sido a última explosão. A vida veio toda à mente: Garanhuns, os carvoeiros, os burricos da entrega d´água, as roletas de cigarro no Natal, o carrossel, as barcas e as primeiras cervejas em público com Zé Eduardo. Mas não. Era apenas um gordinho engravatado que deixara cair a pasta no chão de linóleo. Nunca um homem se desculpou tanto. Todos o perdoaram aliviados. Ressurrectos, viramos por meia hora uma só grande família.
*
Riga, Letônia, 2008 – Era a primeira semana de janeiro, data do Ano Novo do calendário ortodoxo, logo russo. Poucas vezes voltarei a sentir tanto frio. A área interna da estação rodoviária de Riga deveria estar a zero grau. Sim, falo das salas cobertas e calafetadas, daquelas destinadas aos chamados passageiros bilhetados. Mas lá fora, reinava uns trinta negativos. Talvez quarenta. O vento espanava a poeira da neve e ninguém ousava se aproximar do ônibus até que a porta estivesse aberta. Meu destino era Varsóvia e passaríamos a noite abrindo caminhos ate Kaunas, na Lituânia, e de lá para a Polônia. Era muita neve. Resolvi que seria o último a embarcar. Nessa hora, os guardas chegaram para fechar a estação, pois o nosso era o ônibus derradeiro. Só não contavam com a reação dos bêbados e dos mendigos que queriam ficar ali pela noite. Como é que homens frágeis e desnutridos enfrentam policiais armados para a guerra? É a vodca, ora essa. Parece que dá uma coragem extraordinária e uma grande impulsão à retórica pastosa. Mas foi só completar uma frase para que o porta-voz dos bêbados levasse uma bordoada que o derrubou no chão. Estimulados pelo exemplo que emanava do chefe, os policiais foram impiedosos. Prostrados no chão gelado, alguns dos desvalidos cuspiam os dentes numa poça vermelha sobre o fundo branco. Outros engatinharam até fora dos limites da estação. Antes de o motorista do ônibus terminar de manobrar no pátio, me encostei na vizinha de cadeira que aceitou de bom grado o calor dos dois corpanzis. Era uma russa imensa, dessas que foram bonitas até ontem e que, rapidamente, estão se transformando em babushkas. Em minutos, nos beijávamos sem trocar palavra. Em Kaunas, ela desembarcou sem se despedir e o frio piorou muito.
*
Darmsala, Índia, 2012 – Éramos só três no carro espaçoso. Lakshimi, o motorista; Lavínia e eu. Viajávamos por Himachal Pradesh, lá pelo norte da Índia, a caminho de Darmsala – famosa por hospedar o Dalai lama e, portanto, conhecida como o Pequeno Tibete. Os sustos no trânsito eram colossais, mas com o tempo passamos a apostar algumas fichas no nosso condutor. O que fazer? É fazer isso ou não viajar. Acaso não temia ele pela própria pele também? Um pouco, sim. O incômodo é que ele achava que teria muitas encarnações, ao passo que nós só acreditamos nessa. À medida que a noite invernal caiu, a temperatura despencou quinze graus em poucos minutos e a paisagem exuberante perdeu o atrativo. Além do mais, aumentava o risco de acidentes na escuridão, varada por faróis solteiros e mal calibrados. Instruí Lakshimi a parar no primeiro hotel que achasse naquele local que parecia deserto e ameaçador. Estacionamos ao lado de uma cimenteira onde havia um hotel horrível, mas aceitável – dadas as circunstâncias. O que Lavínia não transforma com o engenho dela? Peço dois quartos. O gerente olha para o motorista e diz que ele não precisa de quarto. Pode dormir no carro e estacioná-lo junto ao viveiro de emas. Que eu lhe desse 200 rupias e ele ficaria mais feliz do que dormir num quarto de 1500. Ganham todos. Lakshimi ficou tenso e me fez sinal de que estava certo. É um dalit, está acostumado à exclusão e ser visto no elevador pode arruinar a reputação daquela pocilga. Ou ele dorme numa cama ou não ficamos, disse. Não quero saber de seus motivos torpes e vergonhosos. Mas queremos amanhã um motorista descansado, entendeu? Deram um jeitinho: o jugaat local. Na madrugada seguinte, seguimos viagem e Lakshimi cantarolou durante o trajeto todo.
*
Frankfurt, Alemanha, 2013 – Ficaria um dia em Frankfurt e não queria abusar da amizade do Embaixador Cezar Amaral. Queria um hotel que Lídia recomendara, distante um quilômetro da estação central. Como sou glutão, resolvi ir até lá e comer um joelho de porco grelhado com salada de batata – prato de resistência dos doces tempos estudantis. Como pretendia trabalhar até tarde, não ficaria remoendo a fome. No caminho de volta, de andar um pouco hesitante por conta da neve batida, me apoiei na grade do jardim para atravessar o trecho mais crítico, justamente aquele onde o gelo estava deslizante e a rua escura. Pois foi dali que surgiu um jovem parrudo, rosto de quem não vê água há dias e ar agressivo. “Hast du Feuer?” Senti o perigo e resolvi enquadrá-lo de imediato. Quem era ele para me pedir fogo e muito menos me tratar informalmente, como se estivesse se dirigindo a um amigo ou uma criança? “Nein. Und Sie sollten ja nicht rauchen“, rebati com arrogância, tratando-o de o senhor e ainda o reprimindo por fumar. O fogo era o que menos interessava. Ele queria me sentir; ver se era alemão; se estava vulnerável; se mostrava alguma fraqueza; se ficara com medo. Conclusão: eu já virara caça, e não mais caçador. Então, ele e o comparsa romeno me levariam a dignidade que restasse. Fui paternal: sumam, tem muita polícia por aqui. Fui indultado, enfim. Até quando? O que deve fazer um homem altivo ao perceber que já não inspira nas pessoas o respeito de outros tempos? Matar-se ou esquecer a altivez. Tão simples.
*
Trapani, Itália, 2014 – Tomo um prosecco no hotel La Gancia e vejo, maravilhado, o pôr do sol no horizonte. Elucubro: logo ali na frente está a Tunísia. Será que terei tempo de incursionar pelas ilhas da região ou vou mesmo me trancar numa villa em Cefalù e lá terminar o que tenho que fazer? Mais abaixo, as arcadas do antigo mercado de peixe. Penso em comer logo mais um atum selado com crosta de gergelim e um vinho branco terroso e provocante. A Sicília é terrível, mas maravilhosa. Ou maravilhosa, mas terrível. Então vejo um séquito de carros civis com sinalizadores luminosos no teto que se aproxima. Do carro do meio – porta pesada e apenas lentamente aberta – assoma um baixinho de metro e meio, barba por fazer, linda gravata azul e terno chique, embora amarfanhado. Ao lado, uma ucraniana – ou moldava – cujo fêmur bate no diafragma dele. Os policiais não tiram os olhos dos passantes, mãos no coldre, e o escoltam até o quarto. Já sei, é o tal juiz que vem para as audiências dos mafiosos. O Moro deles. Tenho orgulho do baixinho – o substituto do Falcone – , é uma honra dividir o endereço. Que coma bem aquela loiraça pois já deve ter sido abandonado pela mulher oficial, certamente temendo pelos filhos. De onde vem essa noção de que vida de criança vale mais do que vida de adulto? Mas será que ele precisava mesmo ficar naquele hotel? Uma ocasião, em Tel-Aviv, um general sérvio chegou com um aparato alarmante. Chamei Ilana, a diretora do hotel e disse: esses caras deveriam ser hóspedes do governo. Jamais se deveria colocar a vida dos hóspedes em risco. Ela deu de ombros. Pobre baixinho: tinha sua loira, mas não sabia o que era tomar um sorvete na pracinha, diante da catedral, ao lado das velhas entrevadas e sorridentes.
*



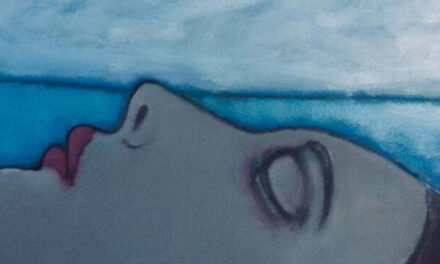












Mais uma vez, divertida a leitura. De novo eu aqui matutando: relato de fatos ou ficção? Já que na outra formulação (“você é louco assim mesmo, ou é bom escritor?”) me meti em polêmicas ou diálogos aos quais não sei dar continuidade. É verdade ou invenção a tal russa? Eu já passei 30 ou 40 graus abaixo de zero em Moscou, mas a gente ficava um minuto na rua e corria para entrar em qualquer lugar com um mínimo de calefação, mais seguro que algum russo gordo. E o ônibus que nos trazia da Partinaia Shkola tinha aquecimento. Aliás, foi lá, em 1962, que começou a desmoronar a ideia que eu tinha de uma sociedade comunista. Nos 1970s já estava desmoronada de vez.
Querida Helga,
É tão recorrente e divertida essa sua preocupação com a componente ficcional ou não de textos como o acima que me dei ao trabalho de examinar em detalhe cada um dos dez episódios narrados para ver onde um elemento inventado possa ter perpassado o fato aludido.
Ainda que só com a finalidade inocente de dar cor e emoção ao caso – o que é permitido. Pois bem, depois de examiná-los todos, te confesso que não vi um elemento sequer que configure provas forjadas. Todas as crônicas acima -“snaposhots” , se preferir – foram vividas tal e qual descritas, sem maiores deformações da memória declinante.
Sim, reconheço que um russo adiposo não deva ter grande apelo para as almas mais sensíveis e formosas. No meu caso, a parte que me tocou naquele latifúndio, foi uma matrona báltica de fala russa e embarcada na Letônia cujo hálito de arenque acebolado eu relevei em favor do calor humano que embala as almas sôfregas, dadas à glutonice.
Os ônibus da Eurolines – veículos rústicos que carregam almas trôpegas do Algarve a São Peterburgo, não se notabilizam pela excelência: tem gente que fuma descaradamente lá dentro; eles são calorentos no verão e um geleadeira no inverno. Mas cobrem uma capilaridade extraordinária nos confina da Europa Central. Daí minha preferência.
Na raiz de suas preocupações, só posso ver um compromisso com seu altivo DNA tedesco que louva “die Wahrheit” -, a verdade para os não-iniciados -, como nenhum outro povo no mundo, sequer na Escandinávia.
Saber que você curte esses textos e que minha temática internacional está entre suas preferidas, traz alegria a esse coração pernambucano, tão errante quanto romântico, que, nesse exato momento, contempla o mar de outubro e namora o horiozonte, à espera da hora que cruzará os mares mais uma vez.
Fernando
Saborosas, como sempre, as crônicas globe trotter de Fernando Dourado. E nem me ocupo, ao contrário da comentarista que me antecede, em cogitar se realidade ou ficção relata. Por mim já decidi: se alguma vez publicar memórias dar-lhes-ei forma de romance (melhor: novela; nem tanto terei a contar); assim posso mentir à vontade. Gostei especialmente do dissenso no hotel indiano, quando o protagonista foi arguto: em vez de discurso sobre direitos humanos preferiu o pragmatismo — alguém das classes superiores precisava de um serviçal descansado na manhã seguinte. Finalmente, quem sabe? na hipótese de que leia o autor este comentário, satisfaça-me a curiosidade quanto a palavras que usou: dalit posso imaginar, o motorista seria assim um pária; acertei?; mas jugaat…, que diabo vem a ser? (Se me der o prazer da leitura, Fernando Dourado poderá honrar-me com explicação em próximos escritos na revista; eu lerei: não perco edições e, em cada uma, suas crônicas.)
Prezado Marco Antônio,
Muito obrigado. Você, desde que comentou um texto meu sobre a primeira viagem que fiz aos Estados Unidos, está em meu redar de leitores argutos.
Portanto, reitero o agradecimento pela fidelidade – por assim dizer. Embora não tenha sido o caso, o elogio da mentira também chega em boa hora porque Fräulein Hoffmannn é implacável – apesar de ser minha leitora preferida. A auto-biografia de Marlarux, aliás, foi batizada de Anti-Memòrias – não esqueça.
Nesse diapasão, amo uma música de Moustaki que diz: “Je ne sais pas où tu commences, Je ne sais pas où j´ai fini” – ou “Não sei onde tu começas, não sei onde eu acabei.” Será que o verso vale para a Verdade?
Sim, “dalit” é um intocável, a casta (legalmente já abolida) daqueles invisíveis que passam despercebidos da multidão. “Jugaat” é a versão local do jeitinho. É uma palavra que significa o “sempre cabe mais um”
Dito de outra forma, quando os trens estão abarrotados (sempre) e o passageiro retardatário corre em direção ao vagão para tentar a sorte, uma mão acolhedora o puxará para dentro do vagão: isso é “jugaat”. A palavra virou a versão local para jeitinho.
Poxa, Marco Antônio,sou de ler os comentário dos leitores e de respondê-los todos judiciosamente. Não tenho disciplina com quase nada na vida (sou gordo, extravagante e irreverente), salvo com a palavra escrita.
Abraço,
Fernando
Querido Fernando, acho tão divertido ler você que v. até já virou “querido Fernando”. Ainda que, se me perguntarem se conheço Fernando Dourado, teria que responder “nunca vi mais gordo”. Dado que v. fez a revisão das suas recordações dos episódios, ainda resta o argumento de que nunca se relata o que aconteceu, mas o que a gente lembra que aconteceu. Mesmo depois da revisão. Vale o seu verso da música de Moustaki. Curioso que Marco Antônio Pontes, lendo você, tenha pensado em escrever uma autobiografia. Lendo você voltou a ideia de escrever recordações. Eu até comecei a escrever umas notas, em 2007, mas ficaram abandonadas. Antes de a Teresa Sales me convidar para colaborar na “Será?” até ofereci a ela um pedacinho, relativo a 1964, mas ela recusou, era comprido (14 páginas) e mandou eu escrever minhas memórias. Olha só o que diz Thomas Brussig (fiz resenha de livros dele para “Política Externa”, pois o mundo da ficção de Brussig é a reunificação alemã): “Quem de fato quiser preservar o que aconteceu, não deve se abandonar às recordações. A recordação humana é um processo aconchegante demais para reter o que passou: ela é o contrário daquilo que alega ser. Pois a recordação pode mais, muito mais: ela realiza teimosamente o milagre de fazer as pazes com o passado, na medida e que volatiliza cada rancor e deita o suave véu da nostalgia sobre todas as coisas que um dia foram sentidas de modo afiado e cortante.” Essa é a tradução do gaúcho Marcelo Backes. Eu prefiro o original alemão.
Helga,
Que bela pensata essa de Thomas Brussig. Só não podemos deixar que ela nos imobilize. Afinal, dizia Sand, “a memória é o perfume da alma”. Ou como diz D. Mario Vargas Llosa – apaixonadíssimo, aos 80 anos, pela ex-mulher de Júlio Iglesias – “a memória é uma armadilha, pura e simples, que altera e sutilmente reorganiza o passado, de forma a encaixá-lo no presente”. Mas para ficarmos numa linha que lhe é mais cara ao espírito – a alemã -, recorro a Schopenhauer: “A memória age como a lente convergente na câmara escura; reduz todas as dimensões e produz, dessa forma, uma imagem bem mais bela que o original”.
Não, querida, não pense que deito erudição. São citações disponíveis na Internet, mas que achei pertinentes a nosso gostoso debate. Aliás, da mesma forma que fizemos uma confraternização no Recife – a que você chegou cinquenta anos adiantada – temos que fazer uma para o brioso núcleo paulistano do qual somos lídimos representantes. Caso contrário, como constituir nosso próprio acervo de memórias? “Ah memória, inimiga mortal de meu repouso”, dizia Dom Quixote. Sim, quando fazemos essa escavação, é normal que percamos o sono, mas tenho certeza de que as suas não podem ficar na intenção. São riquíssimas, pelo que todos que a leem deduzem. Logo, escreva-as.
Agradecido a Clemente – que é meu amigo e faz jus ao nome -, concluo com Proust: “A realidade apenas se forma na memória; as flores que hoje me mostram pela primeira vez não me parecem verdadeiras flores”. Que maravilha. Para as almas belicosas, uma tirada napoleônica do próprio: “Uma cabeça sem memória é uma praça sem guarnição” – daí o horror que temos aos estados demenciais. E arremato com meu xará mais ilustre, o Pessoa, caro a Pernambuco: “Vivemos de memória, que é a imaginação do que morreu; da esperança, que é a confiança no que não existe; do sonho que é a visão do que não pode existir”. E que também disse que “ela é a consciência inserida no tempo”.
Vamos escrever. Continuemos nos expondo e desnudando a alma. Cioran dizia que a matéria prima de escritores e humanistas são as nossas vergonhas. Verdadeiras ou matizadas, teremos sempre um cara como Borges a lembrar (quando vou acabar?): “A memória é o essencial, visto que a literatura está feita de sonhos e os sonhos fazem-se combinando recordações”. Em favor do oposto, fechemos com Nietzsche: “É possível viver quase sem lembranças e viver feliz, como demonstram os animais, mas é impossível viver sem esquecer”. Eu, Fernando – o Dourado, não o Pessoa -, vivo emparedado pelas lembranças. De tanto olhar para trás, ainda vou colidir com um poste. Fico triste em constatar que a intensidade não me salvará.
Fernando:
A esta sua brilhante defesa da memória e da saudade, quero dar uma modesta contribuição. Ela está no último ´parágrafo do meu texto “Reminiscências Euclidianas”, e em toda a crônica “Velho, eu?”, que ainda está na lista dos trabalhos mais comentados desta revista. Quem estiver mesmo interessado neste “colóquio sentimental” poderá consulta-las.