
Jornaleiro.
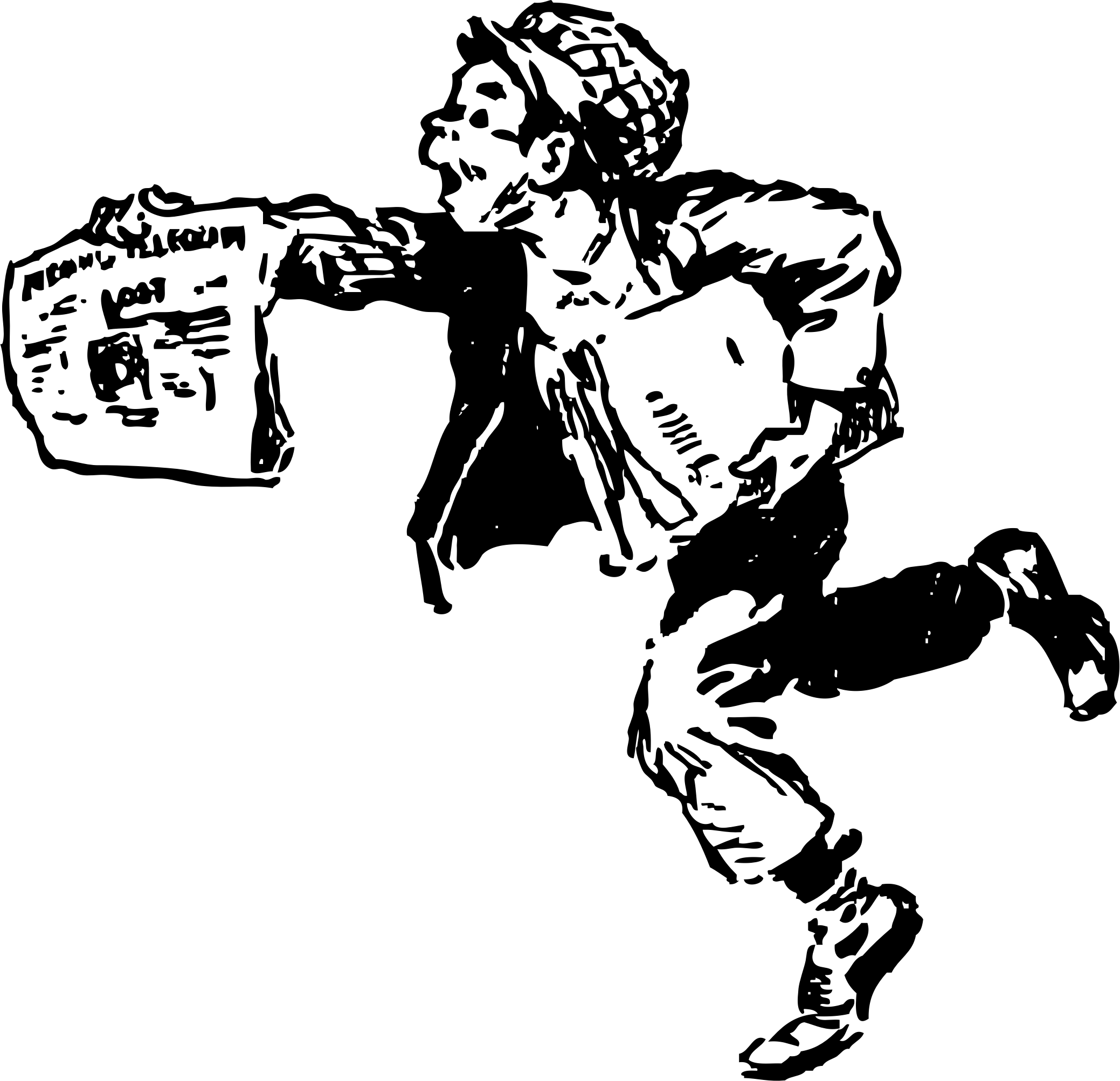 Volto aos “treze versos a serem escritos” sobre a hipótese da disjunção entre capitalismo e democracia – mote com que terminei o hebdô da semana passada. Bem, dir-se-ia: e qual é a novidade? Qualquer pessoa sabe disso. A Itália, a França, os Estados Unidos etc. – e até a nossa República dos Bruzundangas – são países onde convivem um sistema político democrático e um sistema econômico capitalista. De um ponto de vista empírico, descritivo, a afirmação da disjunção entre uma coisa e outra é de uma banalidade que chega a ser aflitiva. Mas estou falando a partir de um outro nível: o teórico, ou analítico, ou sociológico, como queiram, onde a velha pergunta “o que é que está por trás disso?” é de regra.
Volto aos “treze versos a serem escritos” sobre a hipótese da disjunção entre capitalismo e democracia – mote com que terminei o hebdô da semana passada. Bem, dir-se-ia: e qual é a novidade? Qualquer pessoa sabe disso. A Itália, a França, os Estados Unidos etc. – e até a nossa República dos Bruzundangas – são países onde convivem um sistema político democrático e um sistema econômico capitalista. De um ponto de vista empírico, descritivo, a afirmação da disjunção entre uma coisa e outra é de uma banalidade que chega a ser aflitiva. Mas estou falando a partir de um outro nível: o teórico, ou analítico, ou sociológico, como queiram, onde a velha pergunta “o que é que está por trás disso?” é de regra.
Entendam: as ciências estão sempre procurando explicações para as coisas. No caso de uma coisa chamada “democracia”, uma prestigiosa tradição de onde inicialmente venho – a tradição marxista – sempre a tratou como uma espécie de “variável dependente” de uma “variável independente”: o modo de produção vigente numa determinada sociedade, seja ela antiga, média ou moderna. Para ver isso, basta se remeter à arqui-conhecida metáfora topográfica de Marx no Prefácio à Crítica da Economia Política, onde didaticamente está dito que a infraestrutura econômica (seja o escravagismo antigo, o feudalismo medieval ou o capitalismo moderno) determina a superestrutura ideológica: as formas políticas e jurídicas, junto com a religião e a moral, da sociedade em questão. É assim que, no caso do modo de produção capitalista, a substituição do trabalho escravo ou servo pelo trabalho assalariado é explicada a partir das necessidades de uma economia cujo dinamismo já não se acomoda bem com a baixa produtividade de trabalhadores desqualificados que produzem à base do incentivo mais primitivo que existe: a ameaça do chicote.
É aí que surgem, por exemplo, os Direitos do Homem da “revolução burguesa” de 1789, que Marx, num texto famoso de 1843, Sobre a Questão Judaica(na verdade, o essencial do texto quase nada tem a ver com o seu título), desdenhou, afirmando quetais direitos não eram senão os direitos do “homem egoísta […], um indivíduo fechado sobre si mesmo, sobre seu interesse privado e seu capricho privado”. Bem. De fato, ao fazer do homem um ser nascido “livre e igual”, de acordo com as teorias da época que faziam do indivíduo a pedra de toque do “contrato social” (expressão mais do que suspeita!), a doutrina dos direitos do homem abria caminho para o contrato de trabalho entre comprador e vendedor da força de trabalho sem a intermediação das corporações medievais que entravavam o pleno florescimento das “forças produtivas” em ascensão – para voltar a um conceito bem marxiano. E aí veio o capitalismo triunfante do século XIX que foi analisado por Marx, mas também por romancistas como Balzac, um dos autores preferidos daquele.
***
Mas, “enquanto isso na sala da justiça”, como diz uma das atrações carnavalescas do Recife, deixem-me dar um exemplo do nosso capitalismo. Ela se chama Mári. Tem 21 anos, é técnica de enfermagem diplomada, mas não encontra emprego, pois não tem “experiência”. Como é obrigada a viver, toma conta de uma banca do “Caminho da Sorte” num boteco que frequento. Trabalha de segunda a sábado das 7:30 da manhã até as 18:30 da noite. Nos dias em que corre a Loteria Federal – quartas e sábados –, o expediente é espichado até as 19:00 h. Se resolve trabalhar também nos domingos, ganha um extra de 50 reais. Essa criatura, portanto, trabalha regularmente seis dias por semana, onze horas por dia. Não tem carteira assinada e ganha 800 e poucos reais por mês, menos do que o salário-mínimo. Ganha vale-transporte, mas não ganha vale-refeição. Para almoçar (a “quentinha” mais barata das redondezas custa em torno de 10 reais), costuma ser ajudada pela dona do boteco, que traz comida de casa para as duas. As “necessidades”, ela as faz num supermercado pertinho. Gasta diariamente quase duas horas de transporte (público, naturalmente!) para chegar ao trabalho pela manhãzinha, e quase duas horas para chegar em casa à noite. Na ponta do lápis, sai de casa por volta das 5:30 e retorna por volta das 21:00 h. Dir-se-ia que vive literalmente para trabalhar, comer e dormir. Seria, numa célebre definição de Hannah Arendt, um animal laborans… Pois bem, não! Essa mesma criatura, com uma naturalidade desconcertante, me diz que teria podido trabalhar numa banca do “Caminho da Sorte” perto de sua casa, mas prefere não. Trabalhar perto de casa é ver as mesmas pessoas todo santo dia, e ela me diz uma coisa que realmente me comoveu: “eu gosto de ver o mundo”.
Isso me remeteu à famosa definição de Marx do “assalariado” como o “escravo dos tempos modernos”. Pois bem, não! Mári não é uma escrava. Mári é uma explorada, o que não é a mesma coisa. Ou será que ela é apenas um exemplo a mais da famosa “falsa consciência”?… Ufa! Tenho a impressão de que arrumei um nó que não sei como desatar. Vamos ver se na próxima semana consigo.














comentários recentes