A placidez dos jardins do palácio de Buckingham é apenas aparente. Nos seus longos corredores, a frieza londrina é substituída pelo calor de chamas de intensas emoções. A rainha Elizabeth II não suporta o desempenho moderno, social, da princesa Diana, mulher de seu filho. O herdeiro do trono britânico, Charles.
Elizabeth II sucedeu a seu pai, o rei Jorge V. Dando sequência à dinastia da Casa de Windsor. Inaugurada em 1917. Ela assumiu o trono em 1952, no verdor dos 25 anos. Completa, em 2020, 68 anos de reinado. Na verdade, é uma vida dedicada à Coroa. Profissionalmente. Apaixonadamente. Perdão pela licença literária: ela parece amar mais a Coroa, o reinado (não o reino), do que ama o príncipe consorte.
Elizabeth II foi preparada cientificamente para ser rainha. Todo o roteiro de sua juventude está definido num projeto de realeza. Sua educação foi arquitetura voltada para a construção de uma gestão real. Seus passos foram guiados por um breviário nobiliárquico. A eles Elizabeth adequou-se mais que perfeitamente. Aderiu entusiasticamente.
Para ela, a vida é o reino. O destino, a realeza. A institucionalidade sólida, insossa, sua missão. O que para outros passava apenas o cheiro de documentos oficiais, para ela exalava o perfume inebriante do poder. Por isso, ela nunca entendeu o papel que se atribuiu Diana. Elizabeth é institucional. Diana era social. Elizabeth é fechada, funciona para dentro. Diana era aberta, operava para fora. Elizabeth pensa ser eterna. Diana era contemporânea.
O desentendimento entre sogra e nora alcançou tons insuportáveis. Especialmente para a sensibilidade de criança do filho mais novo de Diana: o pequeno Harry. Harry Charles Albert David. Nascido em 1984. Atualmente com 36 anos. Sexto na sucessão do trono.
Charles e Diana separaram-se em 1992 quando Harry tinha oito anos. A princesa morreu num acidente de carro, em Paris, na companhia de seu namorado, Dod Al Fayed, em 1997. Harry tinha 12 anos.
Fotos e matérias da época mostram a desolação do filho mais moço de Charles. O desamparo de Harry era visível. Seu constrangimento com o ambiente real era tangível. Capaz de ser tocado. Imagine-se o sentimento de adolescente que presencia, no Palácio, disputas políticas e brigas pessoais envolvendo sua mãe. E que, de repente, tem que caminhar até a Abadia de Westminster acompanhando seu corpo. Estupidamente abatido na curva de um sonho parisiense.
Esse é o ingrediente que determinou a decisão tomada, agora, pelo príncipe Harry. Os elementos que constituíram sua determinação foram alimentados por tenebrosos pesadelos. Os fios que teceram seu rumo foram delineados na revolta por conflito que levou prematuramente sua mãe. A semente de sua renúncia à senioridade de membro da família real tem nome: indignação. O príncipe indignado esperou 23 anos para se libertar da dor que apertava seu peito de filho.
Ele mostrou astúcia de tigre. E discrição monástica. Soube lapidar o tempo. Fez dos dias o placar de sua vitória calculada. Não declamou a chaga de sua ferida. Silenciou. E, na undécima hora, com uma companheira negra e um filho, Archie, nas mãos, entrou no palácio. Para sair.
Seu projeto profissional é mero adorno de conquista já consumada. Sua liberdade. A possibilidade de não ter que sentir na alma a prisão das paredes de um palácio. Que lembra a ele a morte. Harry praticou a coragem da recusa. Optou pela vida. E levou consigo o emblema de suas aspirações: Meghan.











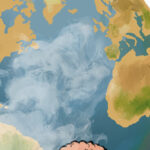



Muito bom texto!