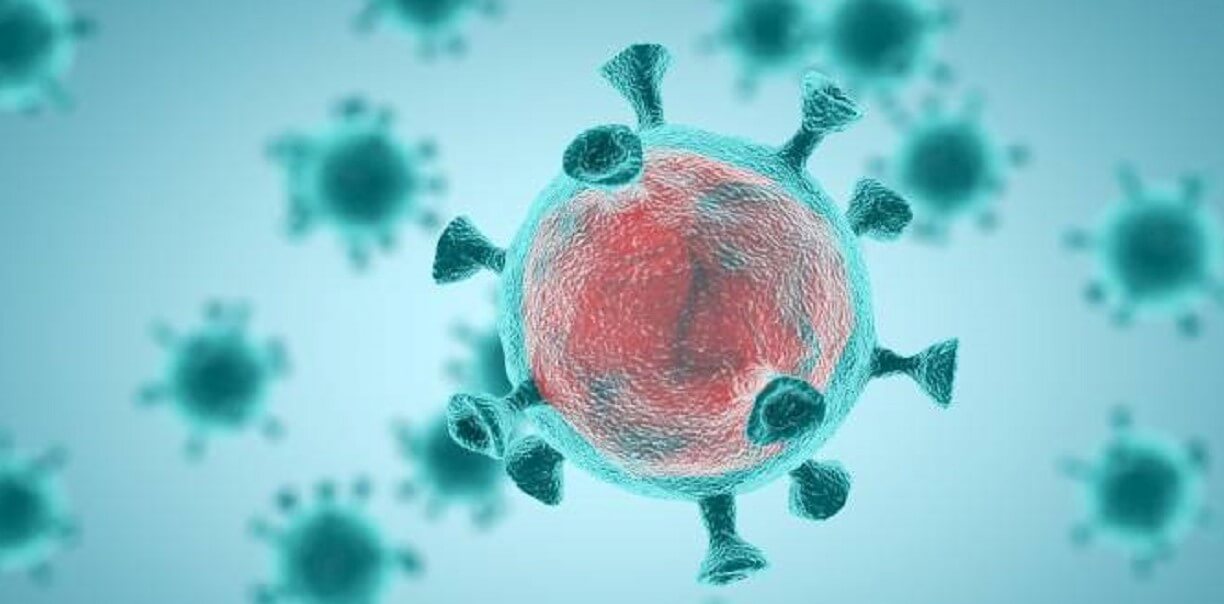
Coronavírus, visão ampliada pelo microscópio.
Em face do desconhecido, em que as incertezas do futuro aumentam, temos que agir a partir de hipóteses. Implausíveis ou com alto grau de ineficiência, quando o desconhecido não tem antecedentes, nem similares. Não é o caso da presente pandemia. A família dos coronavírus (coronaviridae) é conhecida, embora ainda pouco, sobretudo por sua grande variabilidade, desde os anos 1960. Neste século, ela já nos atacou por duas vezes: SARS Cov 2 (infectou 8 mil pessoas e matou 800 em 12 países) e MERS (identificado na Arábia Saudita e restrito à Península Árabe). Ambas de forma circunscrita, apesar de sua grande letalidade (entre 20 e 50%), com o ponto favorável de não serem facilmente transmissíveis. De maior mortalidade foi outra epidemia, a ebola, que matou mais de 10 mil pessoas. Mas também circunscrita a três países africanos, pobres e de pouca capacidade de transmissão. A maior parte do mundo não deu pelotas. Salvo organizações multilaterais, como a ONU/OMS, ou internacionais, como Médicos Sem Fronteira, e um ou outro país.
A pandemia atual é distinta das epidemias anteriores, por seu grande poder de contaminação. Mesmo doentes assintomáticos podem transmitir o vírus Covid 19. Iniciada na China (segunda maior potência mundial), propaga-se, pelo menos por enquanto, sobretudo nos países do Norte, apesar do alto número de contágios e mortes registrados no Irã. Se o epicentro era uma província chinesa ontem, uma região italiana hoje, não se sabe o amanhã. Espanha? Estados Unidos? Outro país asiático? Inicialmente era um “vírus turista”, que circulava nos aeroportos, nas aeronaves e nos cruzeiros. Ao inverso do ebola, que predominava nos espaços rurais, o Covid 19 tem, por enquanto, circulação sobretudo urbana, em meios sociais de alta e média renda, embora já esteja transbordando para as periferias urbanas, nas favelas e regiões mais pobres, com piores condições habitacionais e sistema de saúde mais frágil. Sua letalidade talvez mude quando este movimento se expandir em países com grande número de pobres, como Brasil e Índia, ou na África.
A incerteza é grande, pois não se tem conhecimento suficiente sobre o ciclo de vida do vírus e seu nível de gravidade para a saúde humana. Conhece-se bem a ponta do iceberg, os contaminados graves. Em casos assim, somam-se suposições e previsões duvidosas. Em geral, os países tomaram medidas que se posicionam entre duas correntes. A diferença entre elas encontra-se no entendimento da natureza da ação virótica, e suas estratégias correspondentes, mas também no conhecimento e experiência no enfrentamento de epidemias, e características especificas do país.
A primeira corrente considera que é uma ação virótica extremamente séria, com alta gravidade e letalidade para a saúde humana, cuja duração não se conhece (a SARS durou pouco mais de um ano, desde 2004 não se tem notícias de outros casos). Visão dominante nos organismos internacionais e maioria dos países. Se na segunda corrente o Covid-19 não deve ter uma letalidade superior a 0,5%, nesta, a letalidade estaria em torno de 3 a 4%. É uma diferença ente dezenas de milhares e centenas de milhares de mortes.
A segunda corrente considera que se trata de um vírus de pouca gravidade, e sobretudo baixa letalidade sobre o ser humano. Não se deve romper a normalidade, apenas proteger a população de risco, ou seja, humanos com baixa imunidade.
Os países tenderam para uma ou outra destas correntes. Os Estados Unidos decidiram seguir a estratégia próxima à segunda corrente, embora com dissidências internas. O presidente do Brasil também gostaria de seguir esta corrente, não fosse a forte oposição da maioria dos governadores. O Japão adotou precauções, mas sem isolamento horizontal geral, assim como Holanda e Suécia. O Reino Unido inicialmente caminhou nesta direção, e depois mudou. A maioria dos países europeus adotou o isolamento horizontal, em grau variável. A Correia do Sul, com mais experiência em enfrentar epidemias, conseguiu conter, pelo menos por enquanto, a pandemia, sem este isolamento horizontal, com muita agilidade, informação à população e ações integradas. Com testes em massa e tecnologia, conseguiram identificar e isolar os contaminados, retendo assim a expansão do vírus. Adotou, assim, uma estratégia de isolamento seletivo.
Problemas se erguem na definição da melhor estratégia de enfrentar o Covid 19, com redução das perdas. O primeiro é que não se sabe onde se situa o grau de letalidade do vírus. Existem apenas suposições, com métricas muito variáveis, e ainda sem robustez cientifica. Por exemplo, no caso do Brasil: 2.500 infectados com 60 mortes. Se assim for, teremos um percentual de 2,4%. E se o número dos casos assintomáticos nos levar a um contágio de 10 mil pessoas? Teremos uma letalidade de 0,6%. E se for maior? Qual o ponto certo? Não se sabe ainda. Mesmo porque o grau de letalidade está também relacionado, entre outros, à qualidade do sistema de saúde instalado, e ao seu atendimento aos contagiados pelo vírus. Veja-se a diferença com a Alemanha, com um sistema de saúde de qualidade, comparada à Itália e Espanha. O segundo problema é o ciclo de expansão do vírus, particularmente a sua velocidade, e o percentual de casos graves demandando intervenção médica de qualidade.
Mas há outros problemas na escolha das estratégias. Como isolar a população de risco, idosos e outros, que vivem em habitações superpovoadas? Ou que habitam com seus netos, com as escolas funcionando? Ou quais serão as consequências do isolamento social de médio ou longo prazo? Qual o grau de impacto na economia de um isolamento social por longo período?
De toda forma, até agora, porque não se sabe como vai evoluir a situação, os dados parecem demonstrar que não é uma simples “gripezinha”, com cerca de 20 mil mortes no mundo. Mas, aparentemente, não se trata de uma catástrofe sem igual, que mudará completamente o mundo, como imaginam alguns intelectuais. Expressões como ”não seremos mais os mesmos depois da pandemia” significam apenas a esperança de mudanças, justas, de seus autores. Não se sabe.
Porém a estratégia que for adotada trará consequências importantes. Se a segunda corrente parece imediatamente irresponsável, aumentando o número de atingidos mortalmente pelo vírus, a primeira poderá levar o mundo a uma depressão econômica sem igual, com crescimento sem equivalente do desemprego, da desigualdade, da fome e da miséria. E portanto, com consequências sobre a vida de milhares de pessoas.
Qual delas provocará mais sofrimentos? Tendemos a pensar que é a segunda, mas nada garante que não será a primeira. As variáveis são múltiplas e pouco conhecidas, como o grau de contaminação, de gravidade e letalidade. Nesses casos, parece que o bom senso – acima das ideologias – deveria prevalecer, começando por não atender nem a Deus nem ao diabo, nem “gripezinha” nem catástrofe. Ou seja, o ideal seria afastarmo-nos dos extremos, tanto da simplificação excessiva quanto do catastrofismo.
A inteligência é o maior requisito nesta hora, partindo do que é conhecido e propagado pelos especialistas na área da saúde: 1. A contaminação é veloz; 2. O grau de letalidade é desconhecido, mas pode ser alto, variando de 3% a 0,3%; 3. O grau de demanda de cuidados médicos especializados, UTI e aparelhos respiratórios incluídos, é bem maior do que o existente no sistema de saúde, sobretudo em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos (daí o desafio de como evitar o seu colapso); 4. Pouco se sabe com certeza sobre a evolução do vírus (vai e volta? quem teve, está imune? qual o tempo de seu ciclo?). Sem esquecer o que dizem os economistas: que um longo tempo de inatividade provocará uma depressão econômica de consequências nefastas e incalculáveis, sobretudo para os mais pobres.
As estratégias adotadas deverão, não apenas considerar o grau de letalidade da população, que varia em condições demográficas, culturais, políticas e econômicas distintas, mas também a gravidade da doença, os cuidados requeridos e os impactos econômicos. Uma população mais idosa tem mais risco de mortalidade. Países de costumes de menor aproximação física terão melhores condições de bloquear a expansão do vírus, assim como, em sociedades em que os governos gozam de confiança da população, esta seguirá melhor suas orientações, com resultados mais positivos. E, finalmente, países sem sistema de saúde de qualidade sofrerão mais e terão mais mortalidade.
A incerteza é grande no espaço econômico. A recessão econômica já está contratada, o desafio é evitar a depressão. Por isso, é fundamental mudar radicalmente a política econômica, suspender as metas de controle fiscal, e distribuir recursos aos desempregados, trabalhadores informais e população de pouquíssima renda, assim como garantir a sobrevivência das empresas. Os Estados Unidos estão fazendo isso, alocando trilhões de dólares. O Brasil tem um Estado falido, mas com políticas sociais que permitem fazer distribuição de recursos com rapidez entre os menos afortunados, e politicas econômicas de suporte das empresas. Tem que abandonar a política fiscal e injetar dinheiro na economia, com risco de inflação e aumento do déficit público. Falta, contudo, decisão política, na medida em que, neste campo, o país tem dois governos. O do Presidente, que considera o Covid19 uma gripezinha e quer que todas as atividades, incluindo escolas, igrejas e shoppings voltem às atividades normais, e o dos govenadores, que decidiram adotar um isolamento social horizontal por duas semanas, para tentar reduzir a curva de expansão do vírus e melhorar o sistema de saúde, além de conhecer melhor o ciclo do vírus no Brasil.
Em frente a uma pandemia, a voz predominante não pode ser dos porta-vozes de ideologias envelhecidas, ultrapassadas, nem de políticos preocupados exclusivamente com sua reprodução, ou autoridades ignorantes e arrogantes. A decisão tem que ser de estadistas, baseada nos conhecimentos científicos e na capacidade de antecipação da dinâmica econômica, o que nos falta. A sensação é que temos de enfrentar duas, e não uma, epidemia.
Se acertarmos, evitaremos que muitos sucumbam definitivamente ao Covid19 ou que a depressão econômica tolha vidas no desemprego, na fome e no desespero. Sem esquecer que outras pandemias virão, e é preciso estar preparado para elas. Pandemias que são puras expressões do mau trato que nós, humanos, prestamos à natureza, e por isso voltarão. O mundo esqueceu de escutar Bill Gates (Ted Talk) que, em 2014, já dizia que o principal risco da humanidade não era mais a guerra nuclear do período da Guerra Fria, mas a emersão de novas pandemias. É a crise ecológica, o novo grande desafio do mundo. Mas quando cairá a ficha?













Excelente!
O vírus contaminará 80% da humanidade e é claro que, mais cedo ou mais tarde, apareceria alguém atribuindo o seu surgimento à falta de cuidados da humanidade com o meio ambiente. Susan Sontag já mostrou há 42 anos como isso iria acontecer. (“Disease as Political Metaphor”, NYRB, 23/02/1978) O que o ambientalista não disse é que a questão crucial neste momento é o achatamento da curva da contaminação, é desacelerar o quanto possível o ritmo das contaminações, para evitar o colapso do sistema hospitalar. De qualquer modo o mundo – e nosso país também – sofrerá uma recessão/depressão inédita, que poderá chegar a proporções inéditas. É estatística, não catastrofismo. Será em virtude do isolamento social, num caso, ou pelo colapso geral do sistema de saúde, noutro caso. O estado não poderá escapar de ajudar os mais vulneráveis e os mais atingidos, de algum modo. Essa disjuntiva entre conter a contaminação e não deixar a economia parar só existe na realidade paralela do PR do Brasil.