Acordei com um grito do Marcão: “Olha os Andes, minha gente!”. Pela janela eu pude ver os majestosos picos nevados, brilhando à luz intensa de uma lua gigante que parecia mostrar o caminho da liberdade para aquele avião carregado de esperanças. Todos acordamos e soubemos que estávamos chegando. Bem, a profecia do Wilson não tinha se concretizado, a não ser que tivessem a pachorra de cruzar o continente para nos lançarem no Pacífico. Marcão conseguiu tirar a algema e se levantou, sem que os federais presentes reagissem. Foi até a área dos comissários de bordo e, com a ousadia (ou impertinência) que era sua marca, exigiu que distribuíssem água, café, sucos e biscoitos. Acho que até ele ficou surpreso com a imediata aceitação dos “aeromoços” e a passividade dos federais. Comemos e bebemos enquanto o Marcão abria uma discussão aos gritos, já que todos nós continuávamos algemados e sentadinhos nos nossos lugares. “Vamos desembarcar cantando a Internacional”, propôs ele. Houve um coro de assentimentos e pelo menos uma objeção, a minha. Propus que cantássemos o hino da república (“liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós…”). Afinal de contas, nenhum dos partidos ali representados estava defendendo um programa comunista para a revolução brasileira. E alguns de nós, poucos, é verdade, tínhamos uma identidade de esquerda, mas não comunista ou mesmo socialista, como era o meu caso como presidente da UNE. Cantar a Internacional era como assinar um atestado de comunismo que a ditadura não deixaria de explorar no Brasil. Mas fui abafado rapidamente e prevaleceu a proposta do Marcão. Levantei uma outra objeção: “quem sabe a letra?”. Foi um desastre. Alguns sabiam passagens da letra em francês (René), outros em espanhol (os da Ilha das Flores) e ninguém sabia o hino em português. Eu lembrava somente do começo: “de pé famélicos da terra…”. É um cacófato dos brabos, estes “cus da terra”. Na balburdia desta discussão caótica soou o aviso do piloto: “apertem os cintos, vamos pousar em Santiago”. Foi um frisson geral. Silenciamos até as portas serem abertas e os federais retomaram o controle. “vocês vão desembarcar a partir da primeira fila, quando a ordem for dada. Tiraremos as algemas na porta do avião.”
Eu estava do meio para trás na cabine. Tentei ver o que se passava do lado de fora, mas estava escuro. Podia perceber muita gente agrupada em frente à escada, com dois personagens adiantados junto ao último degrau. Eles pareciam tomar os nomes dos que desciam e os dirigiam para o grupo mais atrás. Os federais estavam furiosos por alguma razão que eu desconhecia. Depois fiquei sabendo que tinham sido proibidos pelo governo Allende de desembarcar e teriam que voltar direto para o Rio de Janeiro, assim que estivéssemos todos em segurança e o avião reabastecido.
Quando chegou a minha vez, eu e o Tito nos dirigimos para a porta e nos tiraram as algemas. O Viegas tinha descido pouco antes e eu ouvi a troca de palavras entre ele e o federal no comando: “Não voltem. Da próxima vez vai ser uma bala na testa de cada um.” O cabinho, com sua fala mansa, respondeu com uma risadinha provocadora: “na minha ou na sua?”.
Ao sair do avião surpreendeu-me o frio daquela madrugada. Estávamos em pleno verão e no Rio de Janeiro da nossa partida, o dia e a noite tinham sido tórridos. Mas o Chile fica muitos graus de longitude abaixo de Porto Alegre e as noites, mesmo no verão, eram frias. Um sujeito à paisana me cumprimentou formalmente e sem muito entusiasmo quando pisei em solo chileno. Confirmou meu nome em uma lista e me mandou para junto do resto. Nos abraçamos, conhecidos e desconhecidos e logo começamos a ouvir, à distância, gritos e cantos que não chegávamos a distinguir. Mas a língua nós reconhecemos, era português. No alto de um edifício do aeroporto uma pequena multidão se aglomerava no escuro e agitava faixas e bandeiras. Eram os exilados que nos tinham precedido em terras chilenas, alguns desde 1964. Quando todos os 70 se juntaram a nós, fomos caminhando em direção ao aeroporto e os sons iam ficando mais fortes e as músicas e palavras de ordem reconhecíveis. “Abaixo a ditadura”, o grito de guerra das nossas manifestações estudantis de 66 a 68 era o mais frequente dos slogans urrados em delírio pelos nossos compatriotas. Nosso coro esboçou a Internacional e foi uma cacofonia só. Acabamos repetindo até a náusea a única parte que todos sabiam, o estribilho. “y se alcen los pueblos, con valor, por la internacional”. E marchávamos em um bloco confuso, com os braços e os dedos fazendo o V da vitória, sem sabermos que aquele era o símbolo da campanha do candidato da direita, Alessandri, nas últimas eleições chilenas.
Ao entrarmos no aeroporto, fomos fotografados em grupos de 10, não sei se pela imprensa ou pela segurança do governo chileno, que logo conheceríamos melhor, a Investigaciones. Um alto falante me chamou pelo nome e fui levado para uma sala separada onde encontrei um senhor muito formal que se apresentou em francês: “Je suis le consul general de Suisse a Santiago”. Meu francês estava pra lá de enferrujado, mas consegui entender que ele estava me convidando para comparecer à embaixada logo que possível, para formalizar a minha situação como cidadão suíço, com direito a passaporte e repatriamento. Agradeci surpreendido com a presteza do sistema suíço, independente da minha posição política e da forma como tinha ido parar lá.
Sem muita delonga fomos levados em ônibus para um albergue do governo chileno, chamado de hogar, o hogar Pedro Aguirre Cerda, nome de um ex-presidente chileno. Já amanhecia quando lá chegamos. Ficava próximo de um grande parque arborizado e com infraestruturas esportivas como piscinas e quadras de futebol, vôlei e basquete, o parque Cousiño. O hogar tinha um amplo terreno ajardinado e arborizado, o nosso novo lar. Com um casarão enorme e muitos grandes quartos. Tinham colocado beliches nestes quartos e fomos nos distribuindo meio anarquicamente. As mulheres (poucas) ficaram em quarto aparte, assim como a família inteira do Bruno Piola. O grupo da Ilha das Flores, que logo foi apelidado de PIF, ou Partido da Ilha das Flores, ficou no primeiro quarto do segundo andar, onde éramos ao todo uns 20. Fomos nos deitar lá pelas 6 da matina, sem esperar o “desayuno” que as cozinheiras do hogar tinham preparado para nós.
Acordei quase ao meio-dia, com alguém convocando todos para o almoço, servido em um caramanchão coberto por uma parreira. Eram longas mesas coletivas e nos serviram um lauto almoço com vinho e tudo. Ficamos estáticos. A comida era ótima e farta. Logo verificamos que isto era nos dias de festa. Já no jantar do mesmo dia em que chegamos, aprendemos como os chilenos comiam normalmente. Nos serviram uma cazuela (sopa) rala e escassa, com uns pedaços de um molusco, chamado locos e que tinha gosto de papel. Também tínhamos um pãozinho sem graça e pequeno para comer com a sopa. Pensamos que era a entrada, mas o prato seguinte era a sobremesa, uma fruta, durazno (pêssego) saborosíssimo, mas pouco para a nossa fome.
Depois deste almoço, ficamos sabendo que não poderíamos sair do hogar enquanto nossos documentos não fossem entregues. Os técnicos da Investigaciones vieram tirar fotos e impressões digitais e anotar os dados de cada um. Logo nos estranhamos com estes federais chilenos, pois começaram a nos interrogar sobre o que tínhamos feito no Brasil, a que partido pertencíamos, de que éramos acusados etc. Acho que foi o Ubiratã o primeiro a dar um ataque e se recusar a prestar declarações. O processo foi interrompido até chegar uma autoridade maior do que os policiais que nos interrogavam, creio que era o chefe da Investigaciones, Coco Paredes, um dirigente do Partido Socialista Chileno. Daí prá frente, as perguntas passaram a ser de caráter básico e formal, como em qualquer repartição de identificação em qualquer país. Prometeram entregar os documentos no dia seguinte, mas mantiveram a proibição de sair do hogar até que isto acontecesse.
No final da tarde, o Wilson me procurou para dizer que eu tinha sido escolhido pela coordenação dos 70 para representar o grupo em uma entrevista coletiva. “Que coordenação é essa?”, foi a minha primeira pergunta. Wilson respondeu que os dirigentes de cada um dos partidos presentes compuseram uma coordenação política que permitisse uma interlocução ordenada com as autoridades chilenas. “E quem representa a AP neste grupo?”, perguntei. O Wilson ficou embaraçado, mas disse que eu não estava ali por ser da AP. “E porque diabos eu fui escolhido para falar em nome de vocês?”. “A ideia foi minha, disse ele. Por um lado, você não é de nenhum dos partidos da coordenação e isto evita uma discussão de primazia entre nós. Por outro lado, você tem o que nenhum dos outros tem; expressão político/social, como presidente da UNE. E num país como o Chile isto é importante.” Topei fazer o que pediram, embora ficasse preocupado sobre eventuais discrepâncias políticas com os grupos da luta armada durante a entrevista.
A conferência de imprensa teve enorme participação de jornalistas de todo o mundo. Antes de começar recebi uma informação do Wilson. Os jornalistas “amigos” seriam identificados por usarem palitos no canto da boca todo o tempo. Não eram muitos e dei mais tempo para eles. Essencialmente, mesmo sem discussão prévia, adotei uma posição que a coordenação aplaudiu, a posteriori. Centrei a minha apresentação na denúncia dos assassinatos políticos, na tortura aos presos e na falta de liberdades democráticas básicas. Alguns repórteres tentaram puxar uma discussão sobre a ética de se sequestrar pessoas inocentes, embaixadores estrangeiros, não comprometidos com aquilo que denunciávamos. Passei a reposta para um dos capos da VPR, como membro da organização que fez o sequestro. Não me lembro quem respondeu, talvez o Bona. Também não lembro o que respondeu, só que foi longo e de difícil tradução para o espanhol. Talvez tenha sido melhor assim. Um jornalista suíço me perguntou se eu não via problemas em me beneficiar com o risco e o sofrimento de um concidadão. Fui bem seco e breve: “Me recusar a sair não alteraria em nada a situação do embaixador e, por outro lado, daria uma enorme demonstração de confiança política no regime que tinha me prendido e torturado. Não foi por acaso que me pressionaram tanto para recusar a liberdade no sequestro.”
Nunca vi as notícias que saíram no Brasil depois desta coletiva. No Chile, nós fomos manchete de primeira página em todos os jornais. Minha cara ficou conhecida do público chileno, como eu verificaria no dia seguinte.
Na noite do terceiro dia em Santiago ainda não tínhamos os documentos e estávamos trancados no hogar. Trancados é força de expressão. Circulávamos à vontade pelos jardins e, tirando os portões que estavam, efetivamente, trancados, os muros de pouco mais de dois metros de altura não impediam ninguém de entrar ou sair. Depois do jantar fui abordado pelo Marcão e pelo Brito com a proposta de pularmos o muro e irmos conhecer o povo chileno. Topei a proposta, mas fiz uma ressalva: “não conhecemos a região e ela parece meio deserta, que vamos fazer se nos perdermos?”. Brito respondeu que falava um espanhol básico e pediria instruções a algum passante. Com esta segurança pulamos o muro e saímos caminhando por uma ampla avenida.
Logo nos demos conta de que o lugar era realmente isolado. Passavam pouquíssimos carros e nada de ônibus. Não havia gente circulando na “carretera”. Fomos cada vez mais longe até que encontramos um conjunto de casas pequenas em um local que depois ficamos sabendo ser uma “población” ou vilarejo. Era muito maior do que parecia, com muitas casas com pequenos terrenos à volta. Era bem limpa e arrumada, embora, nitidamente, abrigasse uma população pobre. Também havia pouca gente circulando naquele horário, umas 9 ou 10 da noite, mas encontramos, próximo à entrada, um prédio mais amplo de onde saiam sons de música e risos. Entramos no equivalente a uma tasca ou boteco, de teto baixo, com muitas mesas, muita gente, muita fumaça e muito barulho. E foi só darmos uns passos para dentro que se fez um silencio total e todos/as cravaram os olhos em nós. Ficamos parados sem saber o que fazer até que alguém se aproximou e me perguntou: “brasileños?”. Si, respondi, gastando quase todo o meu espanhol. “De los setenta?”. Si, respondi de novo. O bar explodiu em aplausos e gritos, que interpretei como sendo de acolhida e solidariedade. Um deles apontou para mim e mostrou um jornal onde eu aparecia em destaque na coletiva de imprensa. “Es el! El jefe de los setenta”. Não tinha como explicar o equívoco nem importava muito naquele contexto. Logo estávamos sentados em uma mesa comprida com todos à nossa volta. Logo, logo as tentativas de conversa iam se frustrando, o portunhol do Brito tão curto como o meu ou o do Marcão. Fomos brindados com vários discursos inflamados e copos e mais copos de um vinho ácido como cicuta e pratos com comidas que não identificávamos, mas que não eram ruins. Depois ficamos sabendo que aquela población era um reduto do Partido Socialista, forte o suficiente para ter um deputado eleito e um prefeito. Não entendemos nada dos discursos, mas aplaudíamos cada vez que o tom do orador subia a um nível mais emotivo. Também discursamos em português e a reação deles foi como a nossa, aplaudiam o tom de voz. Finalmente, um grupo puxou uma música que depois ouvi várias vezes: “que culpa tiene el cobre, se está tranqüilo en la mina, y viene un yanqui ladrón y lo mete en un avión y lo manda pra New York…”. Também cantaram o hino da campanha de Allende, a canção da Unidad Popular: “venceremos, venceremos, mil cadenas habrán de romper, venceremos, venceremos, la Unidade Popular al poder…”.
Foi uma noite emocionante apesar da ruptura linguística e saímos dali lá pela meia-noite, com uma massa de moradores que tinham vindo para o bar conhecer os brasileiros dos 70. Éramos os heróis do dia e passamos por muitos abraços e tapas nas costas antes de conseguirmos voltar para a avenida e tomar o rumo do hogar. Bêbados de felicidade e vinho, logo achamos que estávamos perdidos. Depois de muito andar encontramos um único passante e o Brito se dirigiu a ele com um papel na mão onde estava escrito o endereço do hogar: “amigo, onde fica esta rrrua?” o erre rolado era a única coisa que soava espanhol, mas rua nesta língua é calle e o passante não entendeu nada. “Hogar Pedro Aguirre Cerda”, interveio o Marcão e, por sorte, era um local amplamente conhecido e o sujeito nos indicou o caminho. Era naquela mesma avenida onde estávamos, só que estávamos andando na direção errada, nos afastando do hogar. Demos meia volta e retomamos a nossa caminhada, já bem pregados. Pouco depois fomos abordados por um carro de polícia, do tipo camburão. Sem documentos e sem falar a língua a chance de sermos presos era grande. Mas logo os canas chilenos perguntaram o mesmo que os pobladores: “brasileños? De los setenta?”. E muito simpaticamente nos levaram no camburão até o hogar. Foi uma experiencia esquisita entrar de novo em um camburão, mas o contexto era favorável. Éramos heróis até para os pacos. Pulamos o muro de volta e fomos dormir impressionados com a politização do povão e o calor da solidariedade. Finalmente nos sentimos livres e protegidos, não só por um governo popular, mas pelo apoio do povo. Depois descobrimos que o Chile era um país rachado ao meio e que, se o povão era politizado, a classe média também o era, só que com sinal trocado.
(continua no próximo capítulo)









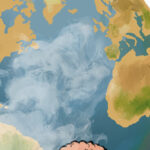



Jean Marc
Lindo seu relato , sua escrita e sua memória .
Aguardo os próximos
Obrigada