
Ulysses and the Sirens by Herbert James Draper
Sob diversos aspectos que se analise o Iluminismo, a possibilidade de determinação de um consenso sobre o tema não é tarefa simples, uma vez que sob esse conceito, concatenam-se elementos variados: (i) uma diversidade de concepções intelectuais; (ii) diferentes contextos nacionais e as suas singularidades (França, Alemanha, Portugal, Inglaterra etc.); (iii) as tradições culturais envolvidas (católicos, protestantes, camadas populares, camadas dominantes etc.).
Desde um ponto de vista epistemológico, o Iluminismo tem sido analisado a partir de uma abordagem nacional-anacrônica, pois o estudioso projeta o Estado-nação atualmente existente para o passado. A tendência, portanto, é que se avalie a maneira como o Iluminismo se apresenta em cada país e, só depois dessa etapa, pensá-lo como um conjunto. Portanto, o princípio norteador dos estudos tem sido a determinação da singularidade do fenômeno na diversidade das manifestações dele.
O leitor não habituado ao raciocínio epistemológico, pode pensar que não se trata de uma mudança significativa. Ledo engano; mas, tal qual Engels, demos dois passos para trás, para depois darmos um mais firme adiante! Pois bem, estamos em 1997, momento no qual o historiador John Pocock afirmou que haveria uma diferença marcante entre as tradições, pois “[…] tanto na Inglaterra quanto na Escócia, [houve] um Iluminismo sem filósofos, sem Enciclopedistas, sem homens de letras aspirando liderar a sociedade.1”
Ao revisitar essa interpretação pocockiana temos como objetivo demonstrar seu valor heurístico para a compreensão no processo de mudança na forma de pensar2” o Iluminismo, o problema intelectual de nosso interesse. Há alguma precisão na proposição de Pocock, segundo a qual o Iluminismo, tanto na Inglaterra quanto na Escócia, não teve filósofos, Enciclopedistas ou homens de letras, com pretensões de conduzir a sociedade? A considerar o atual estado da arte sobre o Iluminismo, tal formulação não se sustenta mais.
A primeira metade do século XX foi marcada por uma visão do Iluminismo como sendo um fenômeno uno. Nesse sentido, os estudos tendiam, de forma mais ou menos acentuada, a se voltar (i) para a realidade francesa, assim como (ii) para os intelectuais franceses, tomando-os como paradigma e, por isso, usados como padrão para comparações. Mesmo um autor de proa como Ernst Cassirer, em A Filosofia do Iluminismo (Die Philosophie der Aufklärung, 1932), não foge a essa regra. Ali predomina a filosofia francesa, secundariamente a alemã e marginalmente aparece a britânica.
Entretanto, a segunda metade do século XX demarca outro momento da recepção do tema na vida intelectual. Ainda que de forma gradual, os estudos sobre Iluminismo passaram por uma grande transformação. Analisado como um fenômeno dotado de mais complexidade do que fora percebido até então, tanto com relação aos sujeitos, aos espaços ou mesmo às temporalidades envolvidas3”. Destarte, a rejeição da abordagem essencialista, na qual a realidade francesa era tomada como paradigma avaliativo do Iluminismo, possibilitou a construção de uma nova abordagem sobre o fenômeno, voltado para a diversidade de manifestações.
Ante o exposto, o pensamento iluminista, apesar de discurso em contrário, ainda permanece no tempo presente, pois trata-se de um legado incalculável da cultura humana. Ademais, nosso questionamento é bem simples: tais ideias ainda nos servem de embasamento para analisar os dilemas contemporâneos, notadamente no que diz respeito à formação das novas gerações?
Como não revisitar obras como Emílio, ou Da Educação (Émile, ou De L’Éducation), publicado em 1762, de autoria de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Outrossim, A vindication of the rights of woman (Reivindicação dos direitos da mulher), publicado em 1792, escrita por Mary Wollstonecraft (1759-1797). Tampouco, Sobre a Pedagogia (Über Pädagogik), publicado em 1803, de autoria de Immanuel Kant (1724-1804). Relembro, por exemplo, o que Kant pensava sobre o processo educacional, visto por ele como uma tríade: cuidado – disciplina – instrução, pois os seres humanos eram as únicas criaturas que necessitavam de educação.
Logo, a instituição escolar deveria enfrentar um desafio simultâneo: disciplina e reprodução social. A disciplina – no sentido de dedicação plena a algum projeto – no plano individual leva à ordem no plano social, eis ao que se refere Kant quando trata de melhor ocupação do tempo e do espaço. Na atual conjuntura histórica em que o mundo tem sido assolado por grandes transformações estruturais, as instituições educacionais têm sido chamadas a responder aos mais diversos desafios, preparando as novas gerações para o enfrentamento delas. Portanto, estaria a pauta do Iluminismo superada? De maneira alguma. Vale lembrar que “O passado nunca está morto. Ele sequer é passado.4””
1 POCOCK, John. Settecento Protestante? L’Illuminismo riconsiderato. Quaderni Storici, n. 94, a. XXXII, n. 1, aprile 1997. p. 334.
2 A categoria forma de pensar encaminha para a análise das “[…] estruturas intelectuais e categorias teóricas, com base nas quais a realidade é percebida, a experiência prática elaborada e a ação política organizada”. BRANDÃO, Gildo Marçal. Linhagens do pensamento político brasileiro. São Paulo: Hucitec, 2007. p. 30.
3 GAY, Peter. The enlightenment: an interpretation. New York: W. W. Norton, 1995.
4 FAULKNER, William. Requiem for a Nun. New York: Vintage Books, 1994.







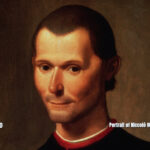

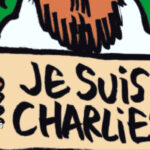




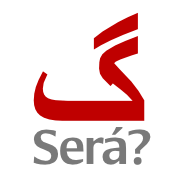
comentários recentes