Tentarei explicar o que percebi, talvez impropriamente, como uma gramática identitária regendo a investidura, marcantemente festiva, de Luiz Ignácio Lula da Silva no seu terceiro mandato presidencial. É um juízo impressionista. Decorre de um estado de alma que defino como alívio – pela derrota eleitoral da extrema-direita – mas desprovido de ânimo, efeito do êxito, político e moral, no campo democrático, de uma esquerda autorreferente, amarrada ao seu passado, que supõe, entre outras imodéstias, fazer o léxico identitário (de gênero, de raça, de cultura, de costumes) incidente no Brasil e em todo o Ocidente, servir a uma aventura – também identitária, mas de partido e movimento – através do túnel do tempo.
A impropriedade da minha parte talvez seja elevar esse ilusionismo semântico à categoria de gramática. A concessão traduz um sentimento de apreensão com a possibilidade de a esperteza política crescer demais, virar bicho, engolir o dono e todos os que amarramos nossos botes à deriva ao seu velho navio.
Incapaz de traduzir racionalmente esse sentimento nos limites de minhas palavras, apelo a Chico Buarque de Holanda, poeta dos maiores da nação, a grande ausente naquele woodstock de fragmentos:
Tem dias que a gente se sente
Como quem partiu ou morreu
A gente estancou de repente
Ou foi o mundo então que cresceu
A gente quer ter voz ativa
No nosso destino mandar
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega o destino pra lá
Expropriado por uma roda-viva: assim me senti no dia da posse. Aliás, assim me sentia desde que a dita transição arriou suas malas. Com vontade de embarcar num vapor barato, eu e uma obsessão política.
O mal-estar com a estética da festa talvez não seja assim tão relevante. Quem sabe um despiste, um pretexto, um bode expiatório para justificar um desânimo que é, antes de tudo, político, ao ver democracia e república divorciarem-se em público. Mas disso tenho falado bastante nesta coluna. O dia hoje é para falar de ultrajes sem rigor. Vamos lá:
Símbolos impressionam-me em demasia. Sei que é um erro de análise política superestimá-los assim. Com algum esforço, sou capaz de abstrai-los e aceitar uma descrição racional da festa da posse, segundo a qual os recados identitários ali presentes apareçam como adjetivo de alguma substância democrática prévia, aspectos pontuais que transmitem um quê de novo a um antigo script. Ou como um artigo indefinido, que precede o substantivo democracia para que ele fique vago a ponto de tornar-se qualquer coisa. Mas no fundo creio serem enganosos, por vezes perigosos, esses discernimentos entre forma e substância, entre traje e adereços. Creio (o verbo é esse, sem retoque) que, na real, são inseparáveis.
O populismo pairava na festa, emanado da figura central, mas curiosamente não lembro de alguém ali ter discursado sobre um povo, ou procurado mostrá-lo. Falava-se de vários “povos”, a começar pelos “originários”, passando pelo pobre, pelo preto e chegando a mil comunidades imaginadas e enumeradas por discursos negativos e agendas afirmativas. É um passo a mais em relação ao clássico “nós x eles”, que tornava maniqueísta uma disputa por algo ainda pretendido, afinal, como objeto (poder) comum. Agora o ânimo bélico persiste numa estética encantada pelo termo diversidade. Todos os narcisos acham feio o que não é espelho, mas cada fragmento dessa diversidade sem alteridade não precisa, em tese, vencer adversários a cada contexto. O inimigo essencial, fixo, é qualquer noção de todo. Cada ator exibe seu pedaço como a parte que lhe cabe e basta num latifúndio social dialogicamente improdutivo. A retórica de luta de cada qual mantém o espetáculo. Arremedo estético da luta real, cotidiana, de brasileiros e brasileiras destinados a viverem juntos, misturados em suas dores e misérias, alegrias e grandezas, através de pensamentos, palavras e obras praticados na roda-viva de todo dia, através de conflitos e cooperações, decididas por conciliação ou por força maior. Como se puder e Deus quiser.
Sei que tudo isso poderia ser visto mais benignamente, com dramaticidade mais modesta, através do uso de termos politicamente menos arriscados, como sociedade e cultura. E uma vez assim visto, ser analisado, compreendido, acolhido, processado e incorporado ao acervo do tempo que anda. Sendo bossa nova, isso é muito natural. Mas a tradução disso na política é delicada. Precisamos prestar atenção porque desafinar aí pode ser fatal. Aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim!
A imagem de JK passando a faixa presidencial a Jânio Quadros e a da repetição do ato, quatro décadas depois (no meio delas uma ditadura que durou duas), seguido de um abraço caloroso entre FHC e Lula devem ser remetidas ao museu, antes desses gestos tornarem-se, de fato, prática estável, ou devem ser resgatadas sempre, para que um dia a estabilidade vire tradição? Alguma vez, após o último dia 01.01, uma foto de posse será valorizada se ao lado do presidente não houver um(a) representante dos povos ditos originários? Presidentes a serem retratado(a)s doravante serão suseranos, entre povos e poderes essencialmente distintos, não importa a carga de legitimidade política que mandatários recebam das urnas ou de alianças lúcidas e leais àquelas? A entrega da faixa por entes fixos do social e aquela linha de frente da foto são conjunturais ou são fatos consumados que vieram para ficar? São fragmentos de uma unidade que está sendo quebrada ou verdades reveladas contra uma sempre falsa unidade? Sejam uns ou outras, podem/devem ser amalgamado(a)s pela mobilidade social e política de uma democracia em processo ou podem/devem permanecer como fragmentos ou como idealizações de povos distintos?
Sem respostas conclusivas, apenas compartilho uma percepção intranquila de que o Brasil atual carece de uma consciência conservadora em cima, para que milhões de consciências conservadoras persistentes que vivem desagregados embaixo não sejam duradouramente capturados por aventureiros peritos em lançar mão de símbolos e instituições nacionais. O risco que se corre é, como na foto histórica de 01.01.23, a representatividade social querer ofuscar (no limite dispensar) a representação política da nação e dos seus cidadãos, fazendo prevalecer hierarquias imaginárias, assincréticas e idiossincráticas. Mal nos livramos, pelas urnas, do espectro destrutivo de umas e já chocamos ovos de outras, no nosso quadrado festivo que mede só 51%, mas é deslumbrante e deslumbrado.
Assumo eventuais exageros, mas no momento vejo mais perigo em silêncios do que naqueles. Exageros, nesse caso, são sequelas de vacinas buscadas contra um futuro arrependimento por coisas não ditas. Reconheço aqui, sem precisar acompanha-lo em tudo, a atitude de um intelectual como Antônio Risério, que estica essa corda, e com ela não se enforca. Mas, de novo, é Chico Buarque quem vem em socorro (talvez sem querer, já que ele pode estar adorando essa festa, pá!) quando me sinto incapaz, como agora, de justificar os meus exageros com minhas próprias palavras:
A gente vai contra a corrente
Até não poder resistir
Na volta do barco é que sente
O quanto deixou de cumprir
Sinto-me assim implicado no que uma esquerda de horizonte republicano deixou de responder positivamente, na década dos 90, a sinais modernizadores dados pela coalizão partidária, conservadora e reformista, que chegou ao governo com o Plano Real, ainda na infância da república democrática da Carta de 1988. E implicado também no consentimento passivo que deu ao experimento político centrífugo que veio na sequência e que terminou fragmentando partidos ainda mal nascidos em facções decrépitas e oscilantes. A renúncia (ou a impossibilidade) da disputa da liderança moral da esquerda teve um preço político alto, ainda hoje cobrado, sem perdão. Sem partido e sem vontade alguma de integrar algum, sigo vendo em partidos políticos instituições imprescindíveis e não quero repetir o que considero ter sido um erro. Daí achar que exageros impressionistas e críticas precoces ao que se está fazendo – por ora em Brasília – com o mandato recebido nas urnas estão entre os menores perigos.
Para conter as críticas acena-se a uma possível brecha que elas abririam a uma oposição de extrema-direita. Sim, o perigo da extrema direita é real e eleitoral. Mas será tanto maior quanto for difusa a condescendência com o populismo e o identitarismo, que, depois de terem bloqueado o caminho de afirmação de uma esquerda republicana no Brasil, acham-se, hoje, em coalizão de veto ao nascimento do que pode vir a ser batizado de centro democrático, a Geni de todas as horas, como acabamos de ver.
Bóric, homem político centrado no novo tempo, tendo a direita do seu país nos calcanhares, está precisando recorrer à gramática cosmopolita e liberal, para – em trilha sintonizada, penso eu, com o que propõe, por exemplo, Mark Lilla, como saída duradoura para o Partido Democrata norte-americano – ir ao encontro da nação chilena e assim tentar reduzir os danos causados àquele país pela onda identitária de esquerda. Não sabemos se terá êxito, mas trata-se de um jovem vagalume que faz falta entre nós.
Lula, centro-esquerda das antigas, não presta atenção em Lilla (nem em Bóric) e também não liga para essas coisas do mundo identitário, a não ser como modo de fazer delas símbolos de outras coisas. Acha-se capaz de instrumentalizar essa “onda” para mais facilmente exercer o governo pessoal. Trata os arautos da onda como tratava antigos bolcheviques e guevaristas, nos primórdios do PT. O mútuo “me engana que eu gosto” não vai funcionar com essa turma indisposta a respeitar qualquer tradição secular e muito determinada a denunciar como maligno o próprio teatro da representação, onde Lula respira. Onde nação e sociedade respiram, mesmo ameaçadas por nacionalismos e populismos politicofóbicos.
Antes que um desquite ruidoso aconteça e seus estilhaços se espalhem, é preciso refletir – como uma das hipóteses legítimas de desdobramento da necessária transição política que ora se inicia – se o Brasil não precisará buscar, num futuro imediato (leia-se 2026), um porto fora da esquerda. Se para sair da rua estreita em que nos metemos desde 2014 e que foi dar no beco de 2018 não vai ser preciso que haja partidos e lideranças que plantem, desde já, devagar, mas sempre, o que não cairá do céu de Brasília. É ver se construir uma oposição democrática ao atual governo não está tão legitimamente na ordem do dia quanto a construção dele mesmo. Penso que sem ambos, governo e oposição democráticos, quiçá republicanos, não haverá reconstrução, muito menos pacificação de nada que se possa chamar de país.

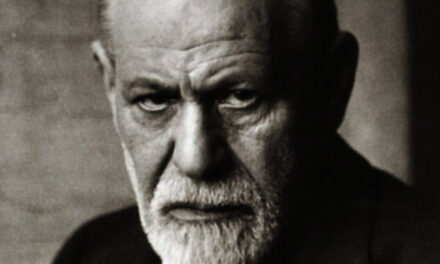












comentários recentes