Nascido em 15 de outubro de 1926 e morto prematuramente em 25 de junho de 1984 (antes de completar 58 anos, portanto), o desaparecimento de Michel Foucault em nada afetou sua glória. Chegados à segunda década do terceiro milênio, o chamado efeito Foucault é tema constante de publicações mundo afora. Entre nós, o “Nietzsche de Saint-Germain-des-Prés”, como o chamou ironicamente José Guilherme Merquior num livro infelizmente pouco lido entre os foucaultianos brasileiros (O Nihilismo de Cátedra), permanece disparado o nome mais prestigioso do pensamento francês da segunda metade do século XX. Rotineiramente citado em trabalhos nas áreas da história, do direito, da educação, da filosofia – numa palavra, das Humanidades de um modo geral -, seu prestígio é enorme e seu nome chega a atingir o grande público: em 2007, Vigiar e Punir, seu livro mais conhecido, era objeto de um seminário de alunos de uma faculdade de direito na afluente zona sul carioca no filme Tropa de Elite de José Padilha, um impressionante fenômeno cultural e político no Brasil naquele ano.
Provavelmente a maioria dos milhões de espectadores que viram a cópia pirateada do filme nada entendeu daquilo. Mas os outros milhões que viram o filme nos shopping centers brasileiros, convenientemente protegidos da malta nele retratada, sabiam do que se tratava. Refiro-me a um público letrado, aquele que, não raro, se depara com o sorriso cativante de Foucault num rosto reluzente como um ovo em bancas de jornal ilustrando capas de revistas de divulgação ligadas às ciências humanas. De idêntica freqüência e prestígio gozam apenas nomes do quilate de Platão, Marx, Nietzsche… Em suma, os de sempre. Permanecerá Foucault ao seu lado o tempo que eles ficarão? A questão é talvez sem sentido. Num mundo de incessantes e voláteis mutações como esse que estamos vivendo, todo o saber humano pode literalmente transformar-se em poeira virtual que uns e outros, de vez em quando, acessarão com enfado e, rapidamente, irão atrás de outra constelação. Nesse caso, Michel Foucault, como ele mesmo predisse para o Homem na bela expressão final de As Palavras e as Coisas, não terá sido nada mais do que, momentaneamente, “um rosto de areia”… Antes que a areia se desfaça, vou nela escrever alguma coisa sobre um autor que, à parte a admiração que lhe nutro, sempre encarei com um pé atrás.
Não se trata aqui, obviamente, de percorrer toda a obra de um autor cujo itinerário contempla importantes mudanças de rumo, uma delas inesperada – aquela do “último Foucault” que, abandonando seu terreno e temática habituais (o período que vai da Renascença à Revolução Industrial e os processos de produção do “sujeito sujeitado” que aí se dão), mergulha na Grécia e na Roma antigas, de onde emergem os dois livros que serão publicados praticamente às vésperas de sua morte: O Uso dos Prazeres e O Cuidado de Si, nos quais analisa práticas dietéticas e sexuais dos antigos, constitutivas de uma “estilística da existência”. No julgamento límpido de Sérgio Rouanet (As Razões do Iluminismo), eles assinalam “a utopia do Foucault agonizante”. Para as finalidades deste breve ensaio, entretanto, passo batido sobre o Foucault da última fase, bem como sobre o Foucault “estruturalista” de As Palavras e as Coisas e da temerária tese da “morte do homem”. O que me interessa aqui abordar é o Foucault da chamada “fase genealógica” (da qual Vigiar e Punir assinala o ápice) – aí, sim, um autor obsessivamente voltado para os processos de sujeição, disciplinamento, normalização etc. dos indivíduos. Por que a escolha?
Numa resposta bem objetiva, porque esse Foucault é o mais conhecido e reverenciado entre nós! Como diriam os franceses, et pour cause: denúncias de processos de “assujeitamento”, afinal, atraem, de saída, um público bem maior do que aquele interessado seja nas áridas epistemes de As Palavras e as Coisas, seja nos exercícios de uma estilística da existência de gregos e romanos dos seus últimos livros. Vigiar e Punir, além disso, não atrai apenas os que estão interessados no tema da prisão. Com efeito, ainda que a prática do encarceramento seja seu foco principal, o best-seller de Foucault é bem mais do que isso, tratando-se, na verdade, de uma investigação sobre o que seu autor chamou de “sociedade disciplinar”. Trata-se, de resto, de um fenômeno editorial notável: traduzido entre nós em 1977, no momento em que escrevo já vai pela 41ª edição!
Isso de um lado. De outro, tendo exercido por cerca de duas décadas o ofício de professor na universidade e pesquisado temas pouco amenos como tortura, criminalidade violência etc., esse Foucault, evidentemente, não é um autor a ser negligenciado – e nunca o negligenciei. Mas, a partir da participação em bancas de teses abordando temas afins aos meus, nas quais a menção ao Foucault de Vigiar e Punir era inevitável (quase tão certa quanto a eucaristia na missa), comecei a solidificar a impressão de que estava diante de um verdadeiro rito de passagem; e, como é comum aos ritos, de que também esse costuma embotar o senso crítico daqueles que a ele se submetem.
Ora, parece-me que costumamos fazer uma leitura muito reverencial ? como, aliás, de Foucault de um modo geral – desse livro. Penso, para começo de assunto, que não podemos recepcionar uma obra como essa sem muitas cautelas, por achar bastante duvidoso que se possa considerar o Brasil uma sociedade disciplinar no sentido foucaultiano do termo. Entretanto, praticamente não há estudo sobre prisão, manicômio, escola etc. que não o cite. Citá-lo, ótimo! O problema é usá-lo de modo indevido. No mundo jurídico, um campo contaminado pelo normativismo típico dos seus cultivadores, o uso de Foucault ? decididamente um autor estranho a qualquer idéia normativista ? costuma produzir efeitos inesperados, às vezes espanto, como ocorre quando Vigiar e Punir chega a figurar como “marco teórico” de trabalhos acadêmicos visando à sempiterna reforma humanizadora do sistema prisional.
Sabe o leitor mais avisado que o livro sobre a prisão decorre do trabalho de Foucault no início dos anos 1970 à frente do GIP ? Grupo de Informação sobre as Prisões ?, formado por intelectuais e militantes egressos do “Maio de 68” francês desejosos de lançar luz sobre um mundo tão temido quando desconhecido das pessoas comuns ? que, aliás, preferem desconhecê-lo: o cárcere. É de sua lavra o manifesto de lançamento do GIP, onde se lê com todas as letras: “O objetivo do GIP não é reformista, nós não sonhamos com uma prisão ideal”. Posteriormente, num debate sobre os dilemas que suas reflexões colocavam para homens bem intencionados que lutavam por uma prisão mais humana, foi enfático ao dizer que eles “não deviam encontrar nos meus livros conselhos ou prescrições que lhes permitiriam saber ‘o que fazer’. […] meu projeto é justamente fazer de maneira que eles ‘não saibam mais o que fazer’”. Noutras palavras, uma leitura de Vigiar e Punir como amparo a projetos de reforma da prisão parece-me, de saída, desautorizada pelo próprio autor. Por que fazê-lo, então? Simples ritual atualmente indispensável numa tese sobre prisão e temas correlatos? Talvez. O modismo em torno de reluzentes nomes estrangeiros, afinal, mesmo sendo a mais das vezes um fenômeno superficial que vem e passa sem deixar mossa nem bossa, é um elemento a ser levado em consideração quando se trata de uma cultura subserviente como a nossa – inclusive na academia. É nesse contexto que tenho voltado à leitura de Foucault, instigado tanto por seus textos quanto pelas leituras excessivamente reverentes de sua obra entre nós.
O cenário da minha leitura divergente tem um pano de fundo: a violência brasileira. Sobre isso, os fatos dispensam qualquer ênfase: num país onde que não há um estado de conflagração declarada, um levantamento da ONG Viva Rio, há alguns anos, informava que mais de dez por cento dos homicídios do mundo ocorridos por arma de fogo acontecem no Brasil. Do traficante de drogas que ocupa uma favela brandindo uma “doze” (artefato que, confesso, não sei que diabo é!) ao “pacato cidadão” que no fim de semana, movido a álcool, resolve a parada com um desafeto sacando o “três-oitão”, a violência parece um código normal de resolução de conflitos entre nós. (Numa obra clássica – Homens Livres na Ordem Escravocrata –, Maria Sylvia de Carvalho Franco caracterizou esse ethos como um “código do sertão”.) E a polícia brasileira, perfeitamente à vontade nesse cenário, mata com uma desfaçatez que beira a naturalidade. Ou seria com uma naturalidade que beira a desfaçatez?… Deixemos para lá essa questão “prenhe de questões”, como diria Machado de Assis. O que quero destacar, em primeiro lugar, é que uma sociedade disciplinar à la Foucault é praticamente o oposto de uma sociedade violenta à brasileira. Indo mais longe: historicamente falando, foi exatamente para fazer frente a uma sociedade do segundo tipo que se erigiu uma sociedade em que pontificaram os famosos “dispositivos disciplinares” examinados por Michel Foucault.
Ou seja: nossa violência, mutatis mutandis, não constitui, em termos históricos, nada de novo sob o sol. Ela sempre foi um fenômeno corriqueiro nas sociedades pré-modernas. A historiografia sobre o assunto lembra que sua redução na época moderna, nos países do hemisfério norte europeu, é um fenômeno que data apenas dos dois últimos séculos (cf. História da Violência, de Jean-Claude Chesnais). Por volta dessa época – fins do século XVIII e inícios do século XIX –, os reformadores penais pregam a necessidade de ordenar uma sociedade que tolera cada vez menos a crescente criminalidade urbana, subproduto da desagregação dos equilíbrios tradicionais gerada pela industrialização nascente e sua brutal “acumulação primitiva”, como diria Marx. Naquela época e naquele contexto, o que aconteceu? Muitas coisas, tanto no plano institucional quanto no plano econômico propriamente dito. Exemplos retirados dessa literatura incluem tanto um enquadramento mais efetivo da população pobre pela via da escola e do trabalho fabril, quanto uma reformulação dos aparelhos de justiça, inclusive policiais, tornando-os mais efetivos e eficazes, visando à produção de trabalhadores “politicamente dóceis e economicamente produtivos” – para citar a fórmula célebre de Foucault em Vigiar e Punir.
É aqui onde se ancora minha leitura divergente. Curiosamente, o seu ponto de apoio consiste numa hipótese formulada pelo próprio Foucault em Vigiar e Punir: “As ‘Luzes’ que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas”, com isso querendo dizer que “as disciplinas reais e corporais constituíram o subsolo das liberdades formais e jurídicas”. Isso quer dizer que, subterraneamente ao gozo dos direitos civis e políticos, e tornando-os possíveis, funcionaram os famosos “dispositivos disciplinares”, a saber: a escola, os quartéis, a fábrica e, no fim da linha, a prisão para os recalcitrantes. Ora, a leitura da hipótese foucaultiana leva a uma questão subsidiária e até incômoda: se foi a constituição de uma sociedade disciplinar que possibilitou, na Europa, ao longo dos séculos XIX e XX, a drástica redução de fenômenos de violência no seu interior, os níveis quase surrealistas de violência que constituem o pão nosso de cada dia não apontariam a ausência, entre nós, de uma sociedade desse tipo?
É essa a hipótese sobre que venho trabalhando e que constitui o cerne de minha leitura: nunca tivemos, no Brasil, uma “sociedade disciplinar”; sempre tivemos, isso sim, uma sociedade violenta – o que (enfatizo) não é a mesma coisa. Entre nós, nenhum dos dispositivos disciplinares clássicos operou com a regularidade e a generalidade que, bem ou mal, alcançaram no setentrião europeu. Passemos rapidamente os olhos sobre eles. A escola: dispositivo de disciplina por excelência, na França ela é pública, gratuita e, no nível fundamental, obrigatória desde o último quartel do século XIX, quando se instituiu a Éducation Nationale, como os franceses a chamam reverentemente até hoje; os quartéis ? vale dizer, o serviço militar obrigatório: países permanentemente em potencial estado de beligerância com seus vizinhos num tempo em que a guerra era uma atividade corriqueira dos estados-nações, os europeus, desde pelo menos a era napoleônica, obrigavam seus jovens do sexo masculino a passar uma boa temporada nos quartéis, de onde saíam prestando continência; a fábrica: chegados à idade adulta, um contingente enorme de trabalhadores encontrava aí o destino para o qual fora adestrado desde que, na infância, ingressou na escola municipal obrigatória para receber as primeiras Luzes. Daí a tirada célebre de Foucault: “somos bem menos gregos do que pensamos”…
Mas tudo isso, me parece, tem muito pouco a ver com a nossa sereníssima República dos Estados Unidos da Bruzundanga – como diria Lima Barreto. Diferentemente da Europa do hemisfério norte, não temos aqui uma “sociedade disciplinar” – ou “apaziguada”, como quer Chesnais – mas uma sociedade violenta. Uma sociedade onde nunca houve a universalização da escola, onde os aparelhos da justiça são perversos, mas muito pouco eficazes, para dizer o mínimo, e onde, finalmente, uma imensa força de trabalho nunca foi hegemonicamente enquadrada por esse formidável dispositivo disciplinador que é a fábrica. Não foi e certamente não mais será, por razões que – para usar uma linguagem antiga – são estruturais.
O mundo em que vivemos caracteriza-se por uma decadência do que era conhecido como “mundo do trabalho” ? o mundo da revolução industrial que tinha na fábrica o seu centro e no operariado um de seus principais agentes. Nem na Europa ele existe mais, aliás. Vivemos hoje uma realidade que alguns chamam de pós-modernidade, bastante diversa, em vários pontos essenciais, da cinzenta sociedade industrial sobre a qual Foucault assentou suas análises. Outra revolução, a tecnológica, esgarçou esse mundo, reduzindo a sua importância numérica a níveis residuais. A automação do processo produtivo faz com que atualmente seja o setor de serviços, e não mais o industrial, aquele que mais emprega mão-de-obra. Daí esse enorme contingente de pessoas vagando entre atividades temporárias, “bicos” e o comércio informal. É todo um novo setor da economia que se movimenta. É também uma nova forma de sociedade em gestação. Que, aliás, talvez já tenha nascido e ainda não a tenhamos percebido em todas as suas implicações. Por exemplo: a de que ela veio para ficar. Quando a indústria automobilística de São Paulo, por exemplo, emprega menos gente do que o tráfico de drogas, estamos diante de um fenômeno que, quando pensamos nas antigas soluções para problemas desse tipo, parece não ter mais jeito… Isso, obviamente, não é um convite ao desespero, mas um convite à reflexão. Um convite a pensarmos juntos.











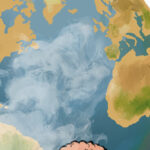



Belo texto, Luciano. Se entendi bem, o Brasil carece de uma cultura disciplinar (meios e instrumentos que ordenam a vida em sociedade)para reduzir a violencia. Mas, as emergentes estruturas econômicas e sociais da posmodernidade não ofereceriam mais com as instâncias disciplinadoras (a fábrica), e a que sobra, a escola (a mais importante delas) continua um lixo no Brasil. Estamos perdidos? Acho que as emergentes estruturas – mesmo sem a fábrica – continuam sendo espaços disciplinadores organizando cidadaos economicamente produtivos, mesmo como a revolução no trabalho, mas a escola precisa de uma mudança radical e de larga escala. Do contrario, estaremos mesmo perdidos.
Parabéns, Luciano! Análise pertinente e corajosa. O brasileiro nunca sentiu “um tira na cabeça”. As relações são autoritárias, baseadas no uso da violência, que é tomada como algo natural ao homem, lobo do próprio homem, e, não, com base numa hierarquia traçada em instituições historicamente estabelecidas.
La hipótesis sobre Brasil y la violencia sirve para ilustrar un aspecto muy importante del mundo académico, tanto en una sociedad violenta como en una disciplinada, en ambas la academia es: “uma cultura subserviente”, que ha hecho en una y en otra una lectura “excesivamente reverente” de la obra de Foucault. La causa puede ser que en ambas sociedades, la disciplinada y la violenta, los académicos constituyen la casta disciplinada por excelencia. Con excepciones, por fortuna.
Excelente o texto, Luciano, e,principalmente , a abordagem da fase ‘genealógica’ de Foucault que é a própria genealogia do poder disciplinar.O poder exercido pela vigilância permite classificar e constituir um saber sobre o indivíduo e , como retorno, a formação desse saber individualizado implicaria na multiplicação dos efeitos do poder.Poder e saber,então, se reforçam mutuamente e funcionam como processo disciplinar.Para Foucault, o poder disciplinar é um excelente processo de individualização.
Considerando a população carcerária que temos hoje, é difícil (diria impossível) reconhecer a prisão como espaço de reinserção .Como bem disse Sérgio Buarque “as emergentes estruturas” têm papel fundamental no processo, como espaços disciplinadores e como espaços de produção ,o que não ocorre com as prisões que só obedecem à lógica da exclusão. A escola é fundamental .Educação, portanto, é a chave.