
Covilhã, Portugal.
I
Para ser sincero, acho que já estou bem. Se, semana passada, ainda me afligiam as farras recifenses – cidade que nos transforma em esponjas bípedes e sedentas -, a verdade é que cheguei a Portugal em busca de paz e, efetivamente, logo achei-a. E quando a reencontro, o primeiro sintoma é reduzir as coisas a seu tamanho real e, como tal, ser benevolente para com umas tantas imperfeições pessoais. Longe de ter com a bebida o problema que se me afigurava tão nítido até recentemente, acho que temos uma relação amistosa. Atípica, por certo, e superlativa – não há como negar. Mas, convenhamos, o que há em mim que não seja atípico ou superlativo? Pois se não caio numa vala, escorrego na outra, não há via intermediária. Por que, portanto, apontar a bebida como fonte de todos os males? Reducionismo puro, mera preguiça de pensar. Ademais, agora pergunto: como reafirmar a profissão de fé no absenteísmo se estou aqui, nessa linda colina, ao lado do convento de Santa Clara, com vista dia e noite para o rio Mondego? Como não deixar que a alma se impregne do romantismo dessa cidade que tanto diz de minha história e em cuja universidade também farrearam meus ancestrais?
Ora pois, então o negócio é sorrir. E louvar Coimbra, apesar de eu temer Portugal por deformar o uso precário que faço do idioma pátrio – o segundo legado decente que devo ao Brasil, depois do sorvete de pinha. Esses ares são por certo estimulantes. Gosto da boa água e como já não tenho os pulmões de outros tempos, aprecio a pureza do ar. Ademais, me faz bem saber que tenho às costas a Covilhã – local que me fascina e para onde vou nos próximos dias. Nessa temporada, desci ao centro para me regalar nas boas tascas e nas inconfundíveis confeitarias. Como é prazeroso o trato entre os viventes por aqui. Se antes meu espaço natural para conversar era o dos bares, hoje já começa a ser o das farmácias. A empatia com as farmacêuticas é imediata. Exagero as dores e tenho o prazer de vê-las levar bem a sério os misteres do jaleco branco. Franzindo o cenho, fazem perguntas pertinentes, me adensando o repertório de como realçar as discretas pontadas que deveras sinto. Ao final, estendo a mão, solto um galanteio, lhes beijo os dedos e miro fundo olhos azuis, sobrancelhas trigueiras e o rubor que lhes invade as bochechas. Volte quando precisar, Sr. Dourado. E que desfrute de Coimbra, é o que mais desejo. Tens certeza, rapariga?
Quando cheguei a Coimbra, vi que reservara o hotel certo. O Dom Luís fica numa colina do lado oposto à gare, logo atravessando o rio. Uma pequena van o conecta ao Largo da Portagem gratuitamente. Deram-me um quarto agradável, a que cheguei depois de percorrer um corredor cheirando a pinho e asseio. Instalado, lutei contra o sono, tomei um bom banho e desci para a cidade munido da fome invariável que me acompanha desde o berço. Gostei do Serenata, numa descida do Beco da Sota, e lá me regalei à base de grão de bico com bacalhau frio, saladinha de polvo, tiras de porco preto com fritas e meia-garrafa de Vale do Nideo Reserva. O todo me saiu por 25 euros, aqui incluído o queijinho da despedida e o quarto de litro de Pedras Salgadas. De lá fui passear, e subi até a Sé Velha, depois de apreciar os arcos, os sobrados, as escadarias e a urbanidade com que todos se tratam. Encontrei duas livrarias acolhedoras – a Almedina é uma delas – e hoje mesmo irei a um debate em torno do livro “Guerra e paz na Europa Medieval – Das Cruzadas à Guerra de Cem Anos” no auditório Gonçalves Aranha. Mas isso é mero detalhe. Uma boa escala nesse périplo é a confeitaria Briosa para o café e um doce.
Estava lá ontem à frente de uma infusão de tília, quando uma catalã do programa Erasmus berrava ao telefone. Não camuflei a irritação e o fiz na língua dela – “fem una mica de pau, si us plau” ou “dê-nos um pouco de paz, por favor” – o que levou-a a engolir em seco, levantar-se e mudar de mesa. Ato que convidou um varapau sentado do lado oposto e com enormes orelhas e nariz a dizer: pensava que o doutor fosse brasileiro pela forma como pediu a tisana ainda há pouco. Mas vejo que fala bem o italiano. Entretido com a leitura, rebati com um sorriso de meia-idade: o senhor está certo numa parte e bem equivocado na outra. E voltei à leitura e ao pastel de nata de quase duzentos gramas. A dona da confeitaria era um primor de cristã-nova e eu a desposaria em dois tempos. E tome doces a passar na premiada pastelaria. Tantos eram que lhes anotei as apelações: pingos de tocha, arrufadas de Coimbra, barrigas de freira, talhadas de príncipe, lorvão, santa saudade, papo de anjo, suspiros, bazófias, pastéis de Santa Clara, gâteaux Mosteiro, sensações, nevadas, queijadas, queima de fitas e até mesmo o famoso Bolo Escangalhado, que valeu ao estabelecimento o troféu destaque do ano passado.
Depois de ler os jornais e deixar três euros pelo repasto, subi de volta ao hotel já cansado, feliz por ver a cidade espalhada aos pés e aconchegado por essa temperatura em que toda a espécie humana deveria viver pelo menos seis meses por ano: doze graus. E assim tem sido. Hoje chove bastante lá fora e leio que ontem nevou na Serra da Estrela pela primeira vez na temporada, mesmo assim só acima dos mil e setecentos metros.
II
Cheguei à Covilhã na segunda-feira à tardinha. Na saída de um túnel, distante uns dez quilômetros da rodoviária, o ônibus foi envolvido por um manto espesso de neblina e uma chuva de vento aspergia de gordos filetes os vidros enormes dos janelões. À medida que entrávamos na cidade e que se criavam pontos de referência concretos, mais se via que o nevoeiro era tão denso quanto os da Serra do Mar ou os da Garanhuns de minha infância, perto das festas de São João. Fiquei me comprazendo com a tese de tia Alicinha de que nós somos oriundos das judiarias dessa Serra – entre aqui e Belmonte, terra de Cabral – e me deliciei com uma narrativa de conveniência de que meus ancestrais teriam achado na Mochila, em Garanhuns mais precisamente, os mesmos ares desse recanto da Península. Quem me proíbe de fabulá-la? Detalhe: o que tem de velhinha aqui com aqueles olhinhos rasgados e a pele drapeada do Agreste não caberia num campo de futebol grande. O que farei na Covilhã? Tudo e nada. Vou apalpar as lãs, comer um borrego, escrever, visitar as capelas e, talvez, subir a Serra em linha reta. Mas isso também pode ficar para uma próxima vez.
É claro que cheguei aqui um pouco entristecido. Na baldeação em Castelo Branco – foram cinco horas desde Coimbra -, me vi tomado de grande melancolia. E passei a segunda parte da viagem matutando sobre alguns dos momentos que vivi com o meu ex-sogro, recém falecido. A motivação que ele sentia pelas coisas do dia a dia era incomum. O que mais admirava nele era que não se deixava paralisar pelos achaques femininos nem pelo discurso catastrofista dos médicos. O dever vinha na frente de tudo e a profícua vida pública era um encadeamento deles. Em suma, passei um dia de Finados digno do nome pois me mergulhou em reflexão profunda enquanto o ônibus enorme varava as brumas e eu me sentia em fuga de alguma coisa e à procura de outra. É nesse delta que vivo, é sobre esse cabo de tensão que repouso. Enquanto isso dura – uma vida -, tento me divertir, encher os dias à minha maneira, sempre a meio caminho entre a sobrevivência material e o estímulo espiritual. Por certo que não mudo a vida de muita gente como o falecido, mas manter a chama da minha própria vida acesa já me basta. Especialmente quando a neblina dá lugar a dias radiantes como viriam a ser os seguintes.
Daí em diante, pude apreciar melhor a Covilhã. Entrei nas lindas igrejas – algumas coladas umas às outras -, subi as ladeiras meio travado e desci-as alegre, na banguela. O ar rarefeito da Serra não é grande amigo do asmático. É claro que uma calota de nuvens se assenta em permanência a certa altura das montanhas, e nelas, até chegar lá, a vegetação é densa e alta, pontilhada pelas cores do outono. Tudo caramelo, ocre, fúcsia, musgo, laranja – um encantamento, mesmo para um olho treinado à beleza. Do tal manto para cima, e até chegar ao pico, não se vê nada de cá nessa época do ano. É preciso ir lá, são vinte quilômetros até o ponto mais alto de Portugal continental. Mas tive muito o que fazer aqui por baixo para querer desbravar as alturas que já conheço de freguesias vizinhas – Seia, Santar, Manteigas. Aliás, os nomes dos bairros e dos arrabaldes são maravilhosos. Entre Coimbra e Castelo Branco, contudo, só fizemos três paradas na região da Serra da Louçã: Perdigão, Proença e Sertã – nessa última com direito a dez minutos para esticar as pernas. Que gente. São cheios de diminutivos e requintes no falar. Parecem todos saídos de um livro de Eça.
Depois de uma terça-feira bonita, veio uma quarta fria e molhada. Tanto melhor que eu já descobrira uma tasca fenomenal ladeira acima. Onde um vinho verde fresquinho faz excelente contraponto a rodelas de salpicão, salada de polvo no azeite, feijão fradinho com atum frio, codorniz e iscas de fígado. Isso porque já comera no Montiel e no Zé do Sporting e, de certa forma, abusara das carnes vermelhas. Em seu Zé, onde cheguei por indicação do descuidista Caixinha, comi um cabritinho tão bem descrito pelo garçom eciano que quase choro: “Posso garantir ao Engenheiro que até hoje pela manhã ainda estava a mamar. O engenheiro verá que os ossinhos sequer se formaram, só viveu poucos dias, o pobrezito. Mas o Engenheiro não o esquecerá. Trá-lo-ei, se for de vosso agrado, com batatas vermelhas com casca, couve desfiada e um vinico tinto de Belmonte, logo da beira Baixa, que se chama Doispontocinco que poderá provar. Enquanto espera, trarei para o engenheiro um pão de forno, um queijinho meia cura e uma lascas de presuntinho caseiro. Por certo não é o de Chaves ou do Lamego, mas saber-lhe-á bem a gosto. Para rebater o frio, já estou a providenciar uma sopita de agriões. Só mais tarde falaremos do bolo de biscoito e da aguardente“. A conta? Quinze euros.
Hoje já estou de saída e sentirei saudades dos paralelepípedos molhados, da trepidação dos raros carros, do cheiro das castanhas assadas, dos toques do sino, do ar de fumeiro, da serração fechada, do sotaque sincopado, do Mercado Municipal, dos pregões irreverentes, do ônibus 11, da casmurrice do porteiro suicida, da possibilidade de uma catástrofe em tanta paz. E do baixinho felliniano que ontem dizia para quem quisesse ouvir que descobrira padecer de uma doença no sangue cujo nome ele desconhecia. Para onde vou? Queria ir para um lugar mais plano e seco. Saberei logo mais na rodoviária, mas como amo fronteiras, estou pensando em esticar até Chaves e ouvir o mirandês. Ir a Chaves é também uma forma de botar os pés na Espanha, comprar Ômega 3 em farmácias mais fornidas e ver livrarias com novidades em castelhano e galego. Adoro encruzilhadas. Amo-as mais do que os macumbeiros que lhes ornam de despachos. Amo ver onde uma coisa termina e outra começa. Acho que vai dar Chaves. Ou então desço até Évora. Mas daqui para domingo, queria algum sol e pouca ladeira.
III
Amanheço nessa quinta-feira em Évora com renovada ressaca depois das extravagâncias de ontem. Ora, o dia estava transcorrendo de maravilha e tinha sido o melhor de todo esse périplo em que pontuaram Coimbra, Covilhã e Chaves, lá em Trás-os-Montes. O que vim fazer aqui? Ora, um amigo de São Paulo estava de passagem no Alentejo e alugamos um tuc-tuc e um bom guia para vermos as maravilhas da região que são muitas. Depois de passear pela universidade, visitar a impressionante Capela dos Ossos, ir até o mosteiro dos Cartuxos, percorrer o longo aqueduto romano, visitar a judiaria e a mouraria, era mais do que merecido que fôssemos almoçar bem. Como já tínhamos nos deleitado na véspera com um suculento cachaço de porco preto com cogumelos salteados e presunto de belota, optamos pelo Dom Joaquim, um restaurante aclamado e sumamente agradável. É claro que abrimos com um espumante Brut e comemos grão de bico com bacalhau, saladinha de mexilhões frios e uma farinheira grelhada. Até aqui, tudo estava perfeito. A atmosfera do restaurante era um convite ao convívio, à boa conversa e à troca das reminiscências que nos unem.
Luiz comeu polvo a lagareiro, mas eu preferi uma solha recheada com camarões. A essa altura, já estávamos embalados por uma conversa divertida e uma garrafa de Cartuxa especialmente bem sucedida. Embora estejamos na terra dos aclamados Pera Manca e Mouxão, há de se reconhecer que não tínhamos bala na agulha para semelhante extravagância. Como estabelecemos laços muito cordiais com o Joaquim, o dono, e o Pedro, um garçom de vinte e dois anos que fala com incrível proficiência de pratos e vinhos, eis que ele nos trouxe uns copos de cortesia para apreciarmos as encharcadas de sobremesa. Felizes, um pouco eufóricos, fomos dar uma volta na cidade já que meu amigo queria comprar um prato alentejano para a esposa antes de partir. Como tenho certa fobia a lojas, lá fui eu para o bar da frente tomar uma taça de vinho branco só para manter intactos os níveis de embriaguez. Com a partida dele, depois de um dia na cidade, se configuraram os contornos de minha solidão abissal. De que eu, aliás, não me tinha dado conta até então e, se o tinha, apenas contemplara o lado benfazejo dela e nenhuma desvantagem.
Levei-o à estação de trem e lá mesmo me instalei no bar para mais uns goles. Sob pretexto de ver o pronunciamento de Antônio Costa, fiquei me hidratando e conversando sobre política com o pessoal que estava lá. Diga-se de passagem, o nível de conhecimento médio dos grandes temas nacionais é de impressionar. É como se o Brasil inteiro tivesse a politização de Pernambuco – para o bem e para o mal. Não voltei para o hotel. Saí de bar em bar até horas muito avançadas e lembro de conversas animadas com estudantes; uma confraternização a que me convidei num grupo de sisudos noruegueses e de ter me perdido num lugar que me pareceu bastante remoto, mas que ficava bem próximo ao hotel. Chegando ao quarto, ainda fiquei ouvindo música e escrevendo essas sandices. O resultado é que acordei nauseabundo e é com esse humor alterado que faço novos registros. Desolado em ter estragado o dia, eis que me peguei ao acordar lendo o jornal de ontem que ficara intacto. Lá falava Dr. José Gil, um moçambicano de 76 anos e psicanalista de ofício. Nessas horas de aflição, penso sempre que nada é fortuito nesse mundo e que tinha ali uma leitura providencial.
A chamada da matéria era deveras instigante: “Se tomasse antidepressivos, Van Gogh acabava como artista”. E continuou: “Mas também terapia pode ser um fator de abolição. Estou a lembrar-me da reação do Freud quando lhe propuseram que o Rilke fosse psicanalisado. Ele disse: não, se ele é psicanalisado acaba-se-lhe o poder de criação, possivelmente. O Freud não quis ir por aí nem incentivar o Rilke a fazer uma psicanálise. Isso já é antigo. Não é só por causa da existência de tantos neurolépticos, tantos medicamentos normalizadores. É também pela política de normalização e de opinião geral que pesa sobre a sociedade, que vai rebentando por todos os lados em desvios, em disfunções e malformações. A opinião de que para viver é preciso estar na norma, no bom caminho da carreira, da família, da educação, do pensamento e, se não se vive assim, é o caos”. Só sei que busquei em elementos dessa entrevista um pouco de consolo pelo caos em que me emaranho vez por outra. Gostei de ler do Dr. Gil, por exemplo, o que segue: “Todo o artista, e sobretudo o grande artista, tem algo a dizer, porque andou a ladear fronteiras próximas do desvio, do abismo, da loucura mesmo”. Será? É claro.
Mais adiante, ele complementou: “Aí há imensas questões. E uma que me parece nuclear é a que acabas de levantar: por que é que o caos ou o ladear o caos pode levar à loucura e por que é que as vezes não leva à loucura e leva à grande arte? O que se passou? O que pode ser? Que garantias – esta é uma palavra de psiquiatra – há para que não se entre na loucura quando se convoca o caos? Quando se limpa o espaço psíquico, o espaço da relação psíquica com a sociedade e com a cultura, entra-se numa caotização de si. E aí não há um eixo a que se agarrar porque então já não é o caos. É um risco e todos os artistas correm esse risco, e é querer esse risco. Há uns que ficam. Estou a pensar, claro, em Hölderlin e em Nietzsche”. E conclui: “Fernando Pessoa várias vezes sentiu que necessitava de tratamento psíquico. Aos 18 anos, aliás, foi tratado num hospital psiquiátrico, por indicação do Egas Moniz. Felizmente ele não o lobotomizou”. Enfim, não vou deixar que mais um porre – fruto do gatilho da compulsão que é acionado umas dez vezes por ano – empane o brilho dessa viagem maravilhosa pois cheia de descobertas e revelações.
E que continue a me confortar o arremate do Dr. José Gil: “O artista tem acesso a esse universo microscópico, ele é uma espécie de anunciador profético, é sempre um visionário do futuro. O grande artista, com certeza”. Isso dito, vou tomar uns goles logo mais no almoço para equilibrar as taxas, mas evitarei o deambular noturno pelas ruas já que essa é uma cidade pequena e por certo que perturbei o juízo de muita gente com irreverências e uma vontade brusca e irrefreável de conversar. Pessoas confinadas – e as que gostam dos confins, de qualquer forma – lidam de uma forma muito peculiar com o diálogo.
Essa é uma das razões que me levam a pensar que não posso viver em cidades menores e soldar vínculos à luz do dia. Em dois tempos as pessoas me conheceriam sob uma luz que é socialmente desconcertante, desgastante e desabonadora. Por outro lado, e creio que já me referi a isso em apontamentos recentes, acho que me trato com um rigor absurdo. O que tenho de condescendente com os outros, tenho de severo comigo. De certas cenas que me ficam, percebo claramente que torço o rosto em careta só ao recordá-las. Ou sinto uma certa vergonha ou, o que é mais frequente, uma dose de remorso. Cuja palavra em espanhol me agrada mais: remordimientos e sua raiz em morder-se. Em suma, teria algumas maravilhas para contar dessas andanças, mas uma ressaca dessa magnitude – que mataria um espírito mais frágil – oblitera todo o afã que teria para falar delas. Ademais, essas anotações são, a priori, para falar das desgraças da meia-idade de minha alma trôpega. Logo não há o que edulcorar. Isso dito, vou encarar com ânimo essa Évora solar e iluminada. Pelos becos estreitos e por sobre essas pedras irregulares, vou desfilar minhas amarguras e buscar forças para retomar o ponto de equilíbrio.



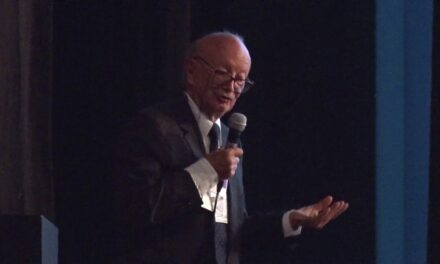











Que dizer, meu amigo? No mínimo que uma página de revista não é suporte bastante para este texto delicioso. Isto merece página de livro,que permanece, a que a gente retorna.
Comecei rindo muito, terminei grave. Ah, se você soubesse como sei de psiquiatras, e neurolépticos, e hospitais…
Querida Maria Luiza,
Recebo suas palavras com alegria. Não é todo dia que uma pessoa de seu quilate intelectual dá um empurrãozinho num escrevinhador amador. Começa a ficar evidente para mim que, efetivamente, talvez haja um livro aqui dentro e as 44 crônicas já publicadas em Será poderiam ser a base dessa obra. A partir de setembro – não começo projetos em agosto – vou começar apensar nele. Por mim você teria continuado rindo até o fim, mas reconheço que a parte derradeira foi pesada. Eu próprio sinto o peso daquelas reflexões do Dr. Gil até hoje. Enfim, são as tais viagens dentro da viagem de que tanto falo. Para a maioria das pessoas, esse prazer nem sempre é evidente dado o afã de entrar num museu pela manhã e sair ao anoitecer. Enfim, obrigado mais uma vez. Sinto-me honrado em tê-la como leitora regular, amiga e mentora. Um beijo, FD
Apesar do prazer que é acompanhar Fernando em algumas de suas viagens – virtuais ou presenciais -, a leitura desse texto fez com que me sentisse dentro desta mais do que nunca. Tudo isso por conta de alguns detalhes: o trepidar dos carros nos paralelepípedos, a garoa de nossa terra, a farra gastronômica permanente e até as bebedeiras. Mas aqui, sendo bem sincera, foram as obervações de Dr. José Gil que mais me fizeram refletir. Especialmente quando ele disse que se Van Gogh tomasse antidepressivo, não teria transformado o mundo. Logo, viva a loucura “construtiva”.
Lavínia,
As viagens solitárias têm seus bastidores, seus porões. Se com você tudo é mais radiante por conta da alegria que é ouvi-la contar sobre seu dia, nem sempre estou no lado iluminado da lua quando só.
Efetivamente, as reflexões do Dr. Gil, que anoitei diligentemente em Évora, abriram uma janela de luz num dia em que purgava os efeitos fisiológicos de uma farra desproporcional.
Pela minha cartilha, que por certo herdei de papai, ser bom de copo é um imperativo que não está ao alcance do homem de bem declinar – salvo se for doente. São códigos de família que perduram.
No fundo, elas obedecem a duas máxima de Churchill: “Never trust a man that doesn´t drink”. A outra, afixada no bar preferido da boemia recifense, diz: “Asssugure-se de que está tirando mais da bebida do que ela de você”
Fernando
O texto reluz aqui há dois dias, quando o li, mas só agora venho comentar. É que precisei de um tempo para concluir, em mim, essa travessia de Recife a Portugal e contemplar, na distância dessas 24 horas, o que consegui perceber da travessia do autor muito além desse trajeto para se fazer no mundo inteiro da própria alma. Uma crônica, Fernando Dourado Filho, que se aprecia com o conjunto dos sentidos: há a luz das paisagens geográfica e humana; o perfume da pureza do ar de Coimbra; a melodia chiada da fala dos portugueses; o gosto da comida que o leitor prova como se as palavras com as quais você a descreve fossem porções da própria (como no pensamento mágico, em que as palavras que nomeiam as coisas são as coisas); e a alma, tateando sentimentos e memória, constata esse coágulo no último fragmento do grande, grande texto. Escrevendo esse comentário, me dou conta de que demorei para vir comentar porque também na minha alma algo restou coagulado.
Querida Vânia,
Você não pode imaginar como me alegra ver que essas páginas tão sentidas pouco a pouco se tornar palatáveis para um público cada vez mais amplo.
Quer saber? Tenho certeza de que isso se deve em grande parte à generosidade de pessoas como você que se dão ao trabalho de ir ao detalhe e comentá-lo.
Ao assim fazer, parece passar ao largo de minhas muitas deficiências estilísticas e fraquezas pessoais. Escrever pode ser sim um troço muito visceral. Muito obrigado.
Bjo
Fernando, a sua literatura gastronômica é de fazer o velho e bom Eça tremer de inveja no seu túmulo! Mais um ponto de louvor em suas crônicas.
Querido Clemente,
Obrigado pelo seu comentário, sempre um motivo de honra. Sim, a gastronomia por aqui pontua alto. O lado ruim é que tudo vai para a cintura, amigo. Eça é imbatível na descrição que faz das maravilhas culinárias da Península.
Abraço,
FD
que viagem saborosa, esse seu texto, Fernando !!!! Parabéns !!!!
Querido Daniel,
Fico honrado em tê-lo como leitor, você que é um cara de bom gosto a toda prova. É bom poder contar com um público assim. É isso que nos motiva a ficar dias e dias ruminando sobre o próximo artigo, sempre com o intuito de tocar o coração de alguém.
Uma vez ouvi que as escolas de samba cariocas faziam assim. Mal saíam da avenida e, no dia seguinte, já começavam a pensar no próximo ano. O mesmo tento eu fazer, todo esse esforço em consideração aos leitores. Mal publico um artigo, já começo a matutar sobre o próximo.
Um grande abraço,
FD
Her Dourado,ao ler os seus relatos de viajem eis que me vem a lembrança das palavras de Tolstoi : “Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia”.AFINAL DE CONTAS O MUNDO E A SUA CASA!
Caro Abu,
Dizer que o mundo é minha casa é ir longe demais. Minha casa é onde pago a conta de luz e tenho os livros. Mas entendo o que você quer dizer. Um capítulo importante de minha vida estará cumprido no dia em que levar para o papel as inúmeras viagens que fizemos e que continuamos a fazer. Rodados em 4 continentes e com vasta diversidade cultural nos costados, espero que possamos continuar a palmilhar o mundo por muitos anos. Que ocasião melhor para falarmos de nossos anseios e dilemas? Abraço fraterno, FD
Fui e voltei a Portugal com esse texto… me empaturrei com as delícias gastronômicas e me embriaguei junto. Mais ainda, me identifiquei deveras com as reflexões sobre ‘loucura, melancolia, psicanálise’ e a relação disso com a arte, com mentes pensantes e criativas. Tudo é uma questão de viver com intensidade… mas se tiver alguns toques de leveza e boas doses de humor, a vida segue melhor. Adorei.
Obrigado, Denise. Sempre que você se pronuncia sobre algum desses textos ébrios e malbaratados deste escriba, a verdade é que exulto por saber que seus critérios são aqueles por que me pauto quando corro atrás da “leitora de meus sonhos”. Pois bem, ela é alguém que você bem simboliza: sensível, divertida, e exigente sem ser paralisante. Muito obrigado, Fernando