Eu era cego e não sabia. Embora estudante aplicado na infância, conhecia apenas os livros adotados na escola que bem pouco educava, como é ainda a norma neste Brasil indiferente à necessidade de uma reforma profunda do nosso sistema educacional. Menino de rédea solta, criado como Deus criou batata, a frase ouvi-a do meu próprio pai, vivia pintando o sete e até o oito. Brás Cubas dos canaviais, como qualquer filho de proprietário um pouco acima da miséria, pintava e bordava acima da lei num mundo sem lei. Perdido dentro de uma família sem lei nem rei, fazia o que queria e sobretudo o que não sabia. Eu era cego e não sabia. A literatura, no sentido em que dela aqui tratarei, não existia na escola que frequentei. Nossa escola era e é ainda tão pobre, tão impermeável à literatura, que precisei descobri-la por mim próprio fora da escola. O fato me faz lembrar um dos deliciosos aforismos de George Bernard Shaw: Minha educação somente foi interrompida durante os anos em que frequentei a escola. Cito de memória, daí a omissão das aspas.
Voltando aos trilhos do meu raciocínio, eu era cego e não sabia. Um dia, graças a um acaso milagroso, descobri a literatura. Descobri-a por conta e risco próprios, privado de um mentor capaz de me guiar, de iluminar o mundo da imaginação explorado e escrito pelos incontáveis escritores que fundaram a tradição letrada da humanidade. Isso quer dizer que adentrei a literatura através da primeira porta aberta pelo acaso. Mergulhei no mundo dos símbolos impressos simplesmente lendo o pouco que havia à mão, herança ociosa do meu tio Edmundo – já que cultuada, mas ignorada pela família. A estante fechada, com seus símbolos lacrados, era um talismã da família, um medalhão nobilitador da cegueira da família, que era também minha própria cegueira.
Comecei a ver e decifrar o mundo dos símbolos a partir do dia em que abri a estante e estendi a mão da intuição cega em direção ao primeiro livro que removi da estante e comecei a ler. Já não me lembro qual foi. O que sei é que a partir daquele momento um mundo incogitável e maravilhoso se apossou da minha imaginação. A literatura descortinou-me um mundo que transfigurou a rotina opressiva da família residente no Recife, assim como a rotina ainda mais opressiva de Igarapeba, a vila onde vivi meus primeiros anos conscientes ou memoráveis. Lá vivia todas as férias escolares. É certo que Igarapeba era um mundo fascinante para um menino sem rédeas, privado da polícia de hábito imposta pelos pais e outros agentes socializadores dos pequenos selvagens que fomos. Uma infância sem pais, com sua polícia e controle, grava carências definitivas na nossa experiência de desamparo, mas pode propiciar uma forma única de liberdade. Daí afirmar que cresci sem rédeas. As da religião eram também muito frouxas e assim fui poupado das figurações aterrorizantes do inferno e outros castigos insondáveis.
Mais que um mundo maravilhoso, a literatura revelou-me a alteridade. Foi ali, na solidão povoada da minha cadeira de leitura, que o outro se foi desdobrando em camadas infinitas à minha sede de imaginação e descoberta do mundo. O outro simbolizava outras possibilidades de vida, outras culturas e modos de ser, um mundo infinito quando cotejado com os horizontes mesquinhos da vila da minha infância, do próprio Recife ainda tão provinciano, fechado no seu culto de tradições que nos retêm prisioneiros do provincianismo. Esse provincianismo tão tenazmente cultuado estreita e deforma nossa percepção do mundo e no limite delira atado a expressões de bovarismo cultural simplesmente ridículas. Sem que então o soubesse, comecei a escapar dessa prisão quando soltei minha imaginação e minha sede de estranhamento através das páginas que me abriram as fronteiras da Europa, do mundo medieval reinventado pela imaginação romântica, da península ibérica, da Rússia, dos Estados Unidos, das fronteiras redesenhadas por guerras de conquista e resistência. Foi também uma descoberta chocante considerar o quanto, através da história humana, grupos e povos guerreiam e se entredevoram em nome dos mais belos ideais: Deus, a religião, que provocou tantas guerras e intolerância, a liberdade e os ideais utópicos. Como não temer e duvidar da espécie depois de despertar para todos esses horrores?
O ser humano, não importa de que latitude ou tempo, é espontaneamente etnocêntrico. Sua medida do mundo, seu poder de apreensão da realidade, esgota-se nas fronteiras da sua cultura. Somos assim e talvez poucos tenham a coragem de ser diferentes, a coragem de ultrapassar a fronteira do mesmo, controlável e conhecido, para defrontar a estranheza do outro, impregnar-se de modos de humanidade que ignoramos e por isso inspiram medo e rejeição. Confesso que não fugi a esta norma. Noutras palavras, internalizei os preconceitos e superstições dominantes no meio social em que me formei ou deformei e cegamente agi movido por eles. Rebento de uma cultura patriarcal, impregnada de violência e práticas obscurantistas, herdei e afirmei na ação a ideologia inconsciente justificadora da desigualdade brutal que caracteriza ainda nossa sociedade; assimilei passivamente a realidade da subordinação opressiva da mulher, da criança, do homossexual… Em suma, agi cegamente seguindo os preconceitos e ideias feitas instituídas.
Cresci num mundo dominado por homens rudes, no geral iletrados. A violência assaltava de múltiplas formas o tédio do cotidiano. Ainda menino, assisti a muita briga de bêbado, notadamente nos domingos, dia de feira, quando a população dos sítios e propriedades vizinhas acorriam à rua central da vila para negociar a rala agricultura de subsistência da região e intercambiar produtos parcamente ofertados pelo comércio regular. Essas transações se faziam em meio ao ruído dos feirantes e ao consumo incontinente de cachaça. Um nada e logo os ânimos se exaltavam, não raro descambando para a luta física. Nos casos extremos, brigava-se com ponta de faca. Havia ainda a matança brutal de bois no matadouro à beira do rio. Assisti a esses espetáculos, apenas uma prática rotineira para os que deles viviam. A imagem de um boi sendo abatido a machadadas, e em seguida sangrado, perseguiu-me durante vários dias e desde então passei a evitar o matadouro nos dias em que abatiam animais.
Foi através das portas e janelas abertas pela literatura que passei a reconhecer a alteridade, a possibilidade de ser outro, de viver numa outra ordem de realidade. Mas não faltou quem se empenhasse em me fechar essas vias de liberação subjetiva. A resistência procedia antes de tudo do próprio universo familiar. Que pais e adultos não encaram com inquietação, não raro com oposição determinada, a ameaça representada por um menino ou adolescente questionador das verdades consagradas? A linguagem da mesmice e do conformismo está facilmente ao alcance de quem se sente ameaçado pelos desviados que ousam sacudir o sono da rotina, o movimento previsível e sólido da repetição. Há todo um vasto e diferenciado léxico à mão dos guardadores da ordem ilusória e mistificadora do mundo. Basta abrir a boca apontando com dedo acusador o desviante: sonhador, romântico, ingênuo, desmiolado, doente, anormal, doido, comunista, ateu, desvairado, anarquista, desequilibrado… Digito termos ao acaso, indiferente até às linhas de gradação semântica que prendem essa rede da linguagem discriminadora e intolerante.
Saio do terreno das abstrações acima assinaladas para ilustrar, com base na memória da minha infância e adolescência, a mudança de consciência e modos de ser que devo à literatura. Começo pela sexualidade supondo não precisar justificar sua centralidade na nossa condição humana. Nenhum adulto, nem mesmo meu pai, prestou-me qualquer orientação e esclarecimento a respeito do que todo menino e adolescente vive como expressão da sua sexualidade. Nisso, como em tudo mais, tive que fazer algo de mim e por mim por conta e risco próprios. Os desejos que na adolescência irromperam no meu corpo e na minha consciência foram tão perturbadores e intensos que temi não ser “normal”. Alguns eram tão antagônicos às noções correntes aprovadas e aprendidas no meio social, na família, que acabei me debatendo em aflições e incertezas agravadas pelo fato de não ter com quem discuti-las, aclará-las, dar-lhes um sentido que me enquadrasse na normalidade do mundo. Foi graças à literatura, com seus multifacetados personagens e enredos, que descobri aliviado a possibilidade de outros modos de normalidade, a complexa e liberadora percepção da inesgotável variedade dos modos de ser humano.
***






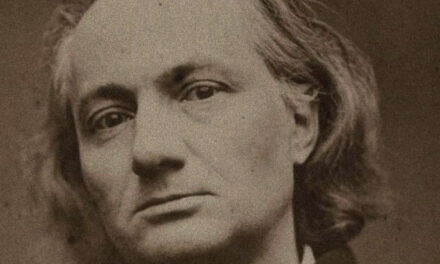










Delícia de texto, meu xará e amigo. Li e reli-o a -11° aqui nesta cidade de Praga de tantas histórias, ao pé de um lareira crepitante que só realçou a riqueza de sua bela trajetória. Já ia te mandar um comentário desabusado, alegando que, de tão boa, a “pensata” não matara a sede do leitor e tinha ares inconclusos. Então li o cabeçalho e me dei conta de que o segundo capítulo virá na sequência. Ufa! Pois bem, mal posso esperar para recebê-lo. De preferência, que possa lê-lo a uma temperatura mais benevolente. Um abraço, Fernando
Meu querido Fernando: você, como leitor e tudo o mais, sempre nos lugares mais improváveis e remotos. Muito grato pela leitura animadora. De fato, importa atentar para o título e assim prever que a suspensão abrupta do texto deve-se ao fato de que foi seccionado. Foi escrito como um texto único, mas você sabe que o leitor da era digital já não tem ânimo nem disciplina para ler mais do que duas páginas, em termos médios. Por isso fracionei o meu em 7 ou 8 partes. O fato de tantos lerem e comentarem suas crônicas e contos relativamente extensos, constitui uma evidência do seu poder de prender a atenção do leitor. No mais, você sabe por experiência o que intentei dizer com a alteridade e o alargamento do horizonte humano que aprendemos através da literatura. Grande abraço, Fernando.
Muito bom! Parabéns. Descreveu como poucos a liberdade que a literatura nos dá.
Cara Elizabeth Freire: Muito grato pela leitura generosa. Concordo que o aprimoramento da nossa experiência imaginária é um dos pontos centrais do meu texto, também a possibilidade de o leitor converter a leitura em experiência. Espero que as partes restantes dessas minhas memórias improvisadas deixem isso mais evidente. Um abraço.
Prezado Fernando
Em conversa com o nobre João Rego recebi a recomendação para ler seu texto, eu admirador e leitor contumaz de Fernando Dourado simplesmente li praticamente de uma vez só a sua crônica e pensei, é tradição ou condição para escrever bem e de forma cativante chamar-se Fernando.
O Pessoa claro está incluído.
O seu relato sobre o contato e a descoberta da literatura é primoroso.
Parabéns !