
Jornaleiros.
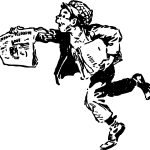 Lembrei-me um dia desses do filósofo inglês John Locke (1632 – 1704), especialmente do seu Segundo Tratado sobre o Governo Civil, aparecido em 1689, ao ler matéria sobre um relatório da Oxfam informando que seis bilionários brasileiros concentram uma riqueza igual à renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Waal! – como diria meu controvertido inspirador Paulo Francis. (Tão controvertido que aqui mesmo na Será? Clemente Rosas não lhe dá nenhum valor e Fernando Dourado partilha minha simpatia!)
Lembrei-me um dia desses do filósofo inglês John Locke (1632 – 1704), especialmente do seu Segundo Tratado sobre o Governo Civil, aparecido em 1689, ao ler matéria sobre um relatório da Oxfam informando que seis bilionários brasileiros concentram uma riqueza igual à renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Waal! – como diria meu controvertido inspirador Paulo Francis. (Tão controvertido que aqui mesmo na Será? Clemente Rosas não lhe dá nenhum valor e Fernando Dourado partilha minha simpatia!)
Esclareço. No seu Segundo Tratado, Locke sustenta a tese de que a propriedade tem seus fundamentos nos direitos naturais do homem. Assim. No princípio, no estado de natureza, o homem é proprietário do seu corpo e da sua liberdade. Parece óbvio. A terra era imensa e farta, e não tinha dono. O sujeito tinha fome, colhia um fruto e comia. Tinha sede, ia no córrego mais próximo e bebia. Se chovia, procurava uma caverna para se proteger. E assim os dias, os anos, os séculos iam passando. Digamos que todo mundo era desocupado, para não dizer (fazendo uso de um anacronismo) preguiçoso. Mas um dia alguém, mais operoso e previdente, teve a idéia de, ao invés de ficar dependente das áleas do bom tempo, plantar uma árvore, depois duas, depois três, até ter um pomar inteiro à sua disposição. E, para não ficar correndo pra lá e pra cá atrás de um lugar onde se proteger do mau tempo, inventou também de construir um abrigo. Nasceram assim a plantação e a casa, e o homem saiu do estado de natureza. Outros seguiram o exemplo, e assim nasceu a sociedade, mediante um contrato passado entre esses seres operosos e previdentes. (Claro que estou caricaturando, mas não estou falseando o pensamento do filósofo inglês.)
É assim pelo seu trabalho que o homem se torna proprietário de um pedaço de terra. E está certo, não? Se, afinal, um semelhante meu, ao invés de plantar uma árvore como eu (regá-la, podá-la, protegê-la etc. até que ela possa me alimentar), fica espalitando os dentes sem nada fazer, não parece justo que ele depois venha exigir de mim aquilo que foi resultado do meu labor. E tem mais: Locke chega a dizer que os limites daquilo de que posso ser proprietário são estabelecidos pela minha capacidade de laborar a terra e cuidar dos seus frutos. Digamos, um pequeno sítio. Até aí, acho que nem o mais furibundo esquerdista teria algo a objetar. Pois bem. Ocorre que depois de fundamentar o direito à propriedade no trabalho direto do proprietário, Locke executa uma pirueta sensacional que faz dele um dos mais insignes ideólogos do capitalismo – e aí nosso esquerdista, aqui pra nós, teria razão. É o seguinte. Com a invenção do dinheiro, o homem, que até então só podia ser proprietário daquilo que podia ter ao alcance da mão, pode agora ser dono de outros pedaços de terra que, mesmo não estando ao alcance da vista, podem também ser seus. Como? Mediante a invenção do dinheiro, já disse! E a explicação é simples. Doravante, a propriedade, representada por moedas, cédulas, barras de ouro, ações, títulos de câmbio etc. etc., pode caber no seu bolso ou ser guardada na sua casa. Tudo ao alcance da mão. Genial, não? Em resumo, esses seis bilionários brasileiros são a prova empírica de que a teoria de Locke estava certa. Se eles tivessem senso de humor, eu lhes sugeriria instituir um prêmio para recepcionar, a cada ano, os recém-chegados ao seu clube de acordo com listagem não da suspeita Oxfam, mas da idônea Forbes. O troféu poderia se chamar “John Lucky”, e na cerimônia de premiação um comentarista poderia esclarecer para os 100 milhões que estão fora do clube, mas estão na frente da televisão, que o nome do prêmio significa “João Sortudo”.
***
Ih… esta semana estou todo inglês! Lendo a matéria sobre uma brasileira pobre acusada de tráfico de drogas que entrou em trabalho de parto quando foi presa com não-sei-quantos papelotes de maconha, deu à luz, e depois foi para uma carceragem da polícia de São Paulo junto com o seu bebê (porque o juiz da audiência de custódia não lhe concedeu o benefício da prisão domiciliar), lembrei-me do romance Moll Flanders de Daniel Defoe (mais conhecido por ter escrito Robinson Crusoe), publicado em 1772. A mãe de Moll, presa por ladroagem, dá à luz na prisão. Mas, beneficiada por um costume da lei inglesa conhecido como pleading her belly (algo como “atenuante do barrigão”), em vez de continuar presa na Inglaterra é desterrada para o que era então apenas uma colônia americana. Moll, nascida na cadeia, cai na mesma vida da mãe.
A mãe da carceragem de São Paulo se chama Jéssica. A criança que deu à luz não se chama Moll. Sendo do sexo masculino, a mãe deu-lhe o nome de Henrico. Hen-rico. O nome é promissor, não resta dúvida. Mas que Defoe contará um dia sua história? Não sei e não saberei. Em todo caso, com base na estatística, uma ciência que ainda não existia na época do romancista inglês, fico pensando que a sua história de vida poderá cumprir a terrível profecia com que Gabriel Garcia Márquez termina sua obra-prima: a de que “as estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra”.















comentários recentes