
Jornaleiro.
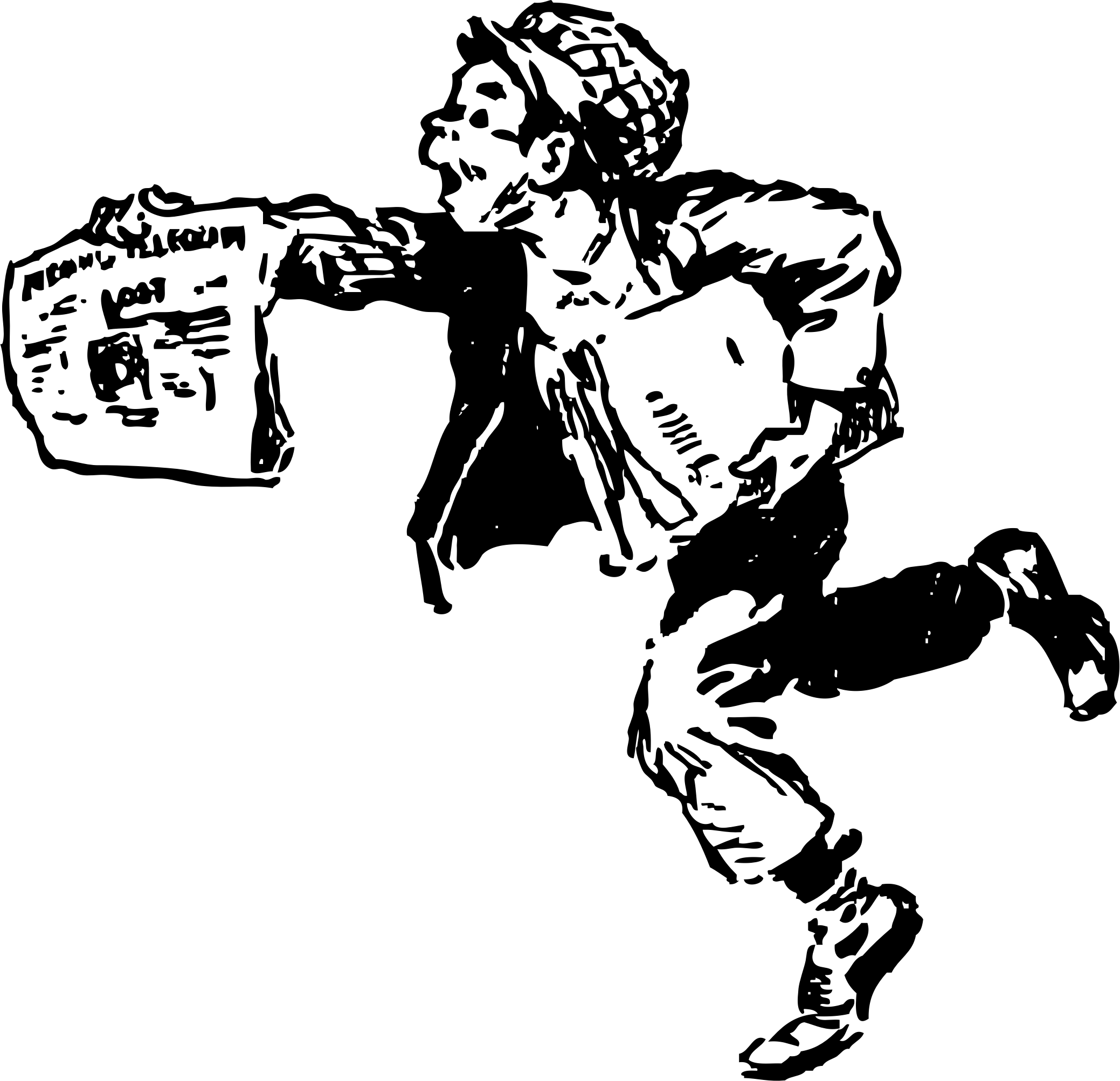 Estes dias, em vez de livros, ando lendo leis! (Não é a minha leitura favorita, mas, como diz um antigo provérbio chinês que Hannah Arendt gostava de citar, “é uma maldição viver em tempos interessantes”…) Sim, leis. Mais exatamente, a Constituição Federal (CF), o Código de Processo Penal (CPP) e a Lei de Execuções Penais (LEP). Mais exatamente ainda, o inciso LVII do art. 5º da CF, o art. 283 do CPP, e o art. 105 da LEP (veem como é um saco ler essas coisas?). Claro, acertaram em cheio: essas leituras vêm a propósito da questão do cumprimento de sentença penal condenatória a partir de um julgamento na 2ª instância. Trocando em miúdos, a propósito do julgamento, pelo STF, do habeas-corpus impetrado pelo ex-presidente Lula, denegado por aquela corte. Cheguei a tocar nessa questão anteriormente, ao comentar um postde Elimar Nascimento do dia 30 de março (“O mundo, definitivamente, tá de pá virada”). Poste comentário, portanto, anteriores ao julgamento do STF, que se deu no dia 4 de abril último. Naquela ocasião, emiti uma opinião e, ao mesmo tempo, levantei uma dúvida. Voltemos a ambas.
Estes dias, em vez de livros, ando lendo leis! (Não é a minha leitura favorita, mas, como diz um antigo provérbio chinês que Hannah Arendt gostava de citar, “é uma maldição viver em tempos interessantes”…) Sim, leis. Mais exatamente, a Constituição Federal (CF), o Código de Processo Penal (CPP) e a Lei de Execuções Penais (LEP). Mais exatamente ainda, o inciso LVII do art. 5º da CF, o art. 283 do CPP, e o art. 105 da LEP (veem como é um saco ler essas coisas?). Claro, acertaram em cheio: essas leituras vêm a propósito da questão do cumprimento de sentença penal condenatória a partir de um julgamento na 2ª instância. Trocando em miúdos, a propósito do julgamento, pelo STF, do habeas-corpus impetrado pelo ex-presidente Lula, denegado por aquela corte. Cheguei a tocar nessa questão anteriormente, ao comentar um postde Elimar Nascimento do dia 30 de março (“O mundo, definitivamente, tá de pá virada”). Poste comentário, portanto, anteriores ao julgamento do STF, que se deu no dia 4 de abril último. Naquela ocasião, emiti uma opinião e, ao mesmo tempo, levantei uma dúvida. Voltemos a ambas.
A opinião, que continuo mantendo, era a de que, a princípio (já que o que está em discussão é o princípiodo “duplo grau de jurisdição”, de aceitação universal), sou favorável, sim, ao começo do cumprimento da sentença depois de um julgamento em 2ª instância, na medida em que, nesse caso, tal princípio estaria sendo atendido. Ora, entre nós, sabe-se lá por quê (ou se sabe…), o duplo grau é na verdade um quádruplo grau, porque depois da decisão em segunda instância recorre-se ao Superior Tribunal de Justiça e, depois, ao Supremo Tribunal Federal, onde cada ministro tem no seu gabinete cerca de dez mil processos esperando andamento (como lembrou certa feita o ministro Cezar Peluso), o que, por si só, já diz tudo – ou seja: já diz tudo sobre a famosa “indústria das prescrições”. Daí a minha opinião favorável à execução da sentença após uma segunda condenação.
É claro que não vejonada de sagrado nisso. Nenhuma instituição humana o é, muito menos a chamada justiça dos homens. A questão que se põe é se queremos – ou se aceitamos, como talvez seja mais correto dizer – que exista uma instância que, frente a eventos que consideramos criminosos, possa condenar aquele que delinquiu. Como condição mínima, num “julgamento público em que lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias para a sua defesa”, como exige o art. 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Se aceitamos isso, temos de suportar o peso (mais um “insuportável peso do ser” a que estamos condenados) de fazer a opção seja por um modelo mais expeditivo, seja por um modelo mais lento. Um modelo mais expeditivo favorece o princípio da celeridade processual, mas pode atropelar o princípio da segurança dos acusados, privilegiado pelo modelo mais lento. Num exemplo um tanto caricatural, mas expressivo, digamos que a “justiça sumária” seria o tipo-ideal do primeiro, e o quádruplo grau de jurisdição da justiça penal brasileira, o tipo-ideal do segundo.
Assim continuo subscrevendo a opinião principiológica que emiti há coisa de duas semanas. Mas, na ocasião, levantei uma questão que continuou me atenazando, e que transcrevo: “Um problema danado que vejo nessa história toda é o que está escrito no cap. V, inciso LVII da CF: ‘Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgadode sentença penal condenatória’” (acrescentei os itálicos). E completava: “Não sei como desatar esse nó górdio!” É um nó danado, reconheço. E desde então ele só fez me apertar ainda mais, sobretudo depois que andei conversando com meus alunos juristas e, encaminhado por eles, fui ler os dispositivos legais que acima arrolei. Vou transcrevê-los:
Art. 283 do CPP: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgadoou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva” (itálicos acrescentados).
Art. 105 da LEP: “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução” (itálicos igualmente acrescentados).
E agora? E agora o seguinte (e isso, para mim, não é uma opinião, mas uma constatação): a constituição federal e a legislação infraconstitucional brasileiras são claras e concordes: juridicamente falando, não há amparo para a execução de uma sentença penal condenatória da qual ainda caiba recurso e, portanto, não tenha transitado em julgado. Maluquice e/ou esperteza do constituinte e do legislador ordinário? Provavelmente. Mas está na lei. E aí, o que fazemos com ela? Com isso, volto à história do nó. O ministro Barroso desatou-o com um voto sociológico: o Brasil não aguenta mais a impunidade dos ricos e poderosos. (Mas como não concordar com isso, Luís Roberto?) O comandante do Exército, general Villas Bôas, na véspera do julgamento, insinuou a possibilidade de fazer o que fez Alexandre com o nó górdio original: cortá-lo com a espada. E eu? Eis como voto: aberração ou não, o quádruplo grau de jurisdição, que não está – como figura jurídica – previsto na constituição (ele é, antes, uma realidade prática decorrente das infinitas possibilidades recursais previstas nas leis ordinárias), está, entretanto, por ela blindado. Assim, não vejo como uma corte judicial, ainda que seja suprema, possa denegá-lo.
***
Ai, as voltas que o mundo dá! Nunca me imaginei defendendo uma tese jurídica também esposada pelo ministro Gilmar Mendes… Clemente Rosas, meu colega de redação, vai provavelmente pensar que eu concordo com Gilmar porque devo ter simpatias por um certo preso em Curitiba… Já eu ficarei pensando que Gilmar concorda comigo porque tem amigos trabalhando no outro lado de Praça dos Três Poderes…















comentários recentes