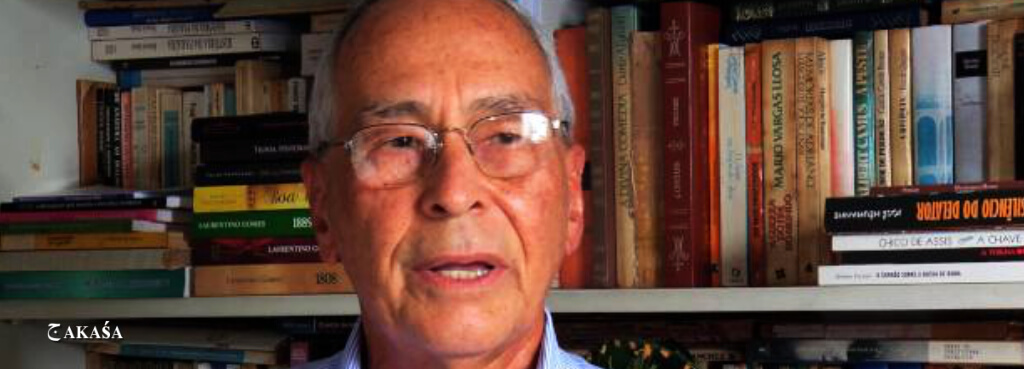
Clemente Rosas
É difícil fazer uma resenha do livro de Clemente Rosas, “Sonata de Outono”. O motivo é o mesmo que ele dá para sua escolha do título: a diversidade dos textos. Optou por “Sonata” porque é criação polifônica. Poderia ter sido “Cantata”, pela multiplicidade das vozes que se apresentam.
Remete a uma “polifonia textual”: relatos de encontros com famosos que cruzaram o caminho dele (“Eu e Eles”); dúzias de causos nordestinos que contam estórias acontecidas, há tempos ou nem tanto, engraçadas ou não (“Causos Paraibanos”); seus anos de recruta como o único estudante universitário no quartel, o que deu mais causos, só que agora no Recife (“Memórias da Caserna”); alguns artigos que têm mais a ver com crítica literária e de cinema (”Ensaios Irreverentes”); especulações sobre o sentido da vida, ciência, religião, ética e mais (“Artigos Filosóficos”); um conjunto de considerações analíticas sobre como fracassaram e mudaram certos dogmas do tempo em que ainda existia a utopia comunista, e “comunista” ainda não tinha virado mero xingamento oco (“Artigos Políticos”); relatos de viagens na América Latina, para alguns lugares que exigem boas condições do aparelho esquelético-muscular (“Crônicas de Viagens”); e ainda há “Crônicas Históricas” focadas na Paraíba e “Crônicas Avulsas”, basicamente de amor pelo mar, quase paixão do nadador, pescador, velejador, mergulhador e não sei o que mais, inclusive poesia, que o mar ofereceu ao Clemente jovem e já não tão jovem.
Pois é, impossível um resenhista dar palpite nisso tudo, muito menos avaliar/criticar seriamente. Mas a leitura é fascinante, as vozes são múltiplas, e o leitor que se detenha na “voz” com a qual tenha mais possibilidade de conversar. Desde já alerto que vou me dedicar mais ao pensamento político que aparece no 6º compartimento do livro, os artigos que tratam de mostrar porque hoje não fazem mais sentido certas ideias políticas que nasceram no século XIX. Não é a parte mais importante do livro, ao contrário, é a menor parte, mas acontece que o desmoronamento do “socialismo real” foi algo que acompanhei quase ao vivo e em tempo real. Vamos por partes.
O primeiro compartimento é de pedaços autobiográficos, seus encontros e troca de ideias com figuras relevantes na política e na cultura brasileiras. São diversas, de Julião ao General Nilton Rodrigues, de Suassuna a Furtado, de Raul Jungman a Cristovam Buarque, e vários outros. A rigor não dá um perfil de cada uma dessas pessoas, não obtemos, por exemplo, uma análise do papel de Celso Furtado, sua atuação imensa em muitos países e a publicação de quase um livro por ano. Uma vez perguntei a Celso Furtado, que veio dar uma palestra no Institut für Iberoanerika-Kunde em Hamburgo em 1976, se daria para ele viver de direitos autorais. Resposta e sorriso irônico: “depende do que você chama de viver”. Tem muito de didático no que conta Clemente Rosas sobre seu intercâmbio com Furtado e as outras figuras.
O capítulo dos causos, tanto os paraibanos quanto os da caserna, é o mais divertido. Historinhas curtas, escrita direta, um pouco de suspense ou desfecho inesperado, até nos causos de bichos. Não sei julgar o quanto formam um quadro da realidade do nordeste em dada época, mas mostram bastante. A mim o que causou espécie foi o quanto de violência ainda havia nos anos cinquenta e sessenta. Minha família morou no mato no interior paulista durante a II Guerra Mundial e ali eu passava férias nos anos cinquenta. E entre os sitiantes e colonos originários da Europa Central na região de Araraquara não vi nada semelhante. Que eu saiba não tinham armas, exceto o facão para cortar cipó que meu pai levava até a pequena reserva de floresta nativa. Ainda comparando, minha maneira de encarar animais é mais pragmática: vacas eram para o leite, galinhas para os ovos, cachorros para espantar raposas e avisar de cobras e gambás, gatos para matar ratos. No mato até que podia ser calmante um cão latindo ao longe no escuro. Em condomínios verticais é irritante a “sonata” de latidos. Quanto aos bichos, estou com o comentário de Gustavo Maia Gomes aqui na “Será?”. E com Clemente sobre a falta de harmonia na natureza.
Registro que é fora do convencional o “compartimento irreverente” de crítica literária e de cinema. Mas é a “voz” que fica para os literatos que queiram discutir os méritos e deméritos de Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Merquior, Suassuna, Cacá Diegues, Glauber Rocha, misturado com samba de coco e defesa da vaquejada.
Gostei dos artigos filosóficos, talvez porque em boa parte coincidem com o que percebo, que a verdade está na ciência. Apenas sou menos conciliatória. Posso ter esquecido quem disse que “religião é o ópio do povo”, mas ainda é isso que eu acho, e com quem se acostumou com opioides, de qualquer tipo, o jeito é concordar em discordar. Enfim, acho que esgotei minha cota de discussão filosófica nos quatro anos em que me formei bacharel em filosofia na Universidade do Brasil (1957-1960) no Rio de Janeiro, tentando provar aos meus colegas da JUC que deus só existe como invenção dos homens. Não adiantou lembrar Freud, Darwin ou Bertrand Russel, e não adiantaria hoje apresentar Christopher Hitchens ou Steven Jay Gould. Mas Clemente Rosas busca diálogo, até na maneira gentil como trata a vida de Jesus ou a crença de que há vida depois da morte.
Do capítulo das viagens nem poderia falar, que sou “viajante” de outro tipo, que busca captar algo do funcionamento da economia e da sociedade, e o grosso das minhas viagens foi a serviço da ONU.
Mesmo no caso dos “Artigos Políticos”, se concordo com as conclusões de Clemente Rosas, meu caminho até chegar a tais conclusões foi diferente. Não foi debate doutrinário, foi antes a observação de fatos, até fatos do cotidiano, que me mantiveram cética em relação a “ideias de revolução”, quando tive contato próximo com tais ideias nos 1950s. Por exemplo, a ideia antiga do marxismo de falta de confiabilidade política da classe média, espremida entre os “capitalistas” e “operários explorados”, que teria apenas medo de cair de nível e se tornar parte do proletariado e, por outro lado, pronta a aderir aos “capitalistas” à menor oportunidade. (Suponho que é essa a ideia por trás do berro de Marilena Chaui “odeio a classe média”. Ou do anti-intelectualismo que ainda existe em certos círculos.) Fato é que não consegui enxergar essas “classes” todas ao meu redor. E nem da leitura de “O Capital” ficou claro o conceito de “classe”. Quem entra ou fica de fora na “classe” x ou y? Pelo menos em “classes de renda” isso tem resposta – se temos estatísticas confiáveis.
É irrefutável a análise de Clemente Rosas, mostrando que no Brasil de hoje não se aplicam e estão fora da realidade aquelas ideias do século XIX (e até meados do século XX) de “classe média”, “classe operária” como “vanguarda da revolução”, “exército industrial de reserva”, e ideias adaptadas ao mundo colonial, da “burguesia nacional” que seria “anti-imperialista e antifeudal“. Tiveram sua importância, mas só posso agradecer a Clemente Rosas a paciência de desmontar o que hoje não passa de chavões, para os quais ainda sobram alguns adeptos que não viram o mundo mudar.
Tive contato próximo com essas teorias em meados do século XX (em diferentes momentos entre 1956 e 1962), mas acho que sempre me chamaram mais a atenção as contradições entre a teoria e a prática. E eu sempre gostei de história, da história de como funciona a economia e a sociedade, dei aula de história econômica na UnB, não deixei de reparar que Marx e Engels falavam da indústria na Inglaterra em meados do século XIX. Nem deixei de reparar na piada de época, dos sessenta do século XX, de que operário paulista estava mais preocupado com “Mais Walita” que “Mais Valia”.
Bem mais cedo reparei em outras inconsistências. O que primeiro li dos primeiros “marxistas” foi “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado” (acho que foi em 1959, fiz para a Editorial Vitória o cotejo com o alemão da tradução de Leandro Konder, no que deve ter sido a primeira aparição desse livro de Engels em português). E aderi à ideia (talvez em interpretação simplista ou porque já não tivesse cabeça de moça casadoura) de que isso de virgindade era um tabu capitalista para garantir a devida transmissão da propriedade privada – mas eu vi alguns dos dirigentes comunistas daquela época com casamentos patriarcais tratando de controlar suas filhas jovens. Ideias de amor livre a la Kolontai não circularam entre eles. Mais tarde me explicaram que “a vanguarda da classe operária” não pode avançar demais em relação ao “nível das massas”.
Não me explicaram que “nível” era esse, mas, no jargão da época, suponho que era “o nível de consciência revolucionária”. Pois de “classe operária” como vanguarda das massas se passara à ideia de que os comunistas eram a vanguarda da “classe operária”. Como assim? Trabalhei como repórter de economia no jornal carioca “Hoje”, que fez campanha para o General Lott. E aí, já em 1960, ficaram tênues meus vínculos com a chamada “construção do socialismo”, quando Marighela veio anunciar à equipe de jornalistas o fechamento do jornal porque Lott perdera a eleição. Continuei sem ver onde estava a classe operária nessa história toda. Mas pelo menos no “Hoje” davam leite aos que rodavam o jornal na gráfica.
Há muito mais eventos que trouxeram dúvidas. Ficaria longo falar da militância no movimento estudantil em 1956, quando existia uma classificação do movimento estudantil secundarista entre de direita, UBES, e de esquerda, UNES, sem qualquer critério de “realidade”. Eu confirmaria isso décadas adiante, quando soube da trajetória de José Luis Clerot, o garoto presidente da UBES com quem negociei como presidente da UNES, para a unificação. A “utopia socialista” não era parte importante das minhas convicções egalitárias.
Ainda por cima, por caminhos que agora não vale reportar, visitei a então União Soviética (ou URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), o suposto paraíso do proletariado, em 1962; estive nos arredores de Moscou, em Kiev (porque é perto de Moscou) e na então Leningrado (porque São Petersburgo, tão linda quanto Veneza, não se deve perder). Não vi o paraíso, a comida não era exatamente saudável, o chofer do ônibus desligava o motor na descida para economizar gasolina, vi bêbados nas estações do metrô, vi o mausoléu de Lenin na Praça Vermelha, e, o que mais me impressionou, um professor de universidade, russo e que sabia alemão, revelou orgulhoso que tinha licença especial para ler jornais estrangeiros. Licença especial? Outro teimou comigo que o Brasil não tinha indústria automobilística, país subdesenvolvido não fabrica automóvel, por definição, e eu só podia ter sofrido “lavagem cerebral” pelo “imperialismo”. Santa ignorância no paraíso! O frio era um horror, mas a calefação era boa. E pelo menos a mina de carvão que me mostraram não me pareceu infernal, e lá um mineiro ganhava muito mais que um médico.
Afinal o que sobrou do “aprendizado” foi a ideia de planejamento econômico, para acabar com a pobreza, como queria o desenvolvimentismo cepalino, e está resumido no meu Caderno do Povo “Como planejar o desenvolvimento?”, de 1963. Logo adiante nem isso sobrou, depois de décadas estudando na ONU o desempenho dos países em desenvolvimento, onde planejamento econômico centralizado tampouco deu bom resultado. Ruiu com ele a ideia de que a intervenção do Estado na economia é necessariamente benéfica para a população. É quase como está nos manuais mais elementares de teoria econômica: há erros de mercado e há erros de governo. Setenta anos de um experimento social (1917-1989) de “socialização dos meios de produção” mostraram que a estatização geral não funciona. Pelo menos não com “homo sapiens” no estágio em que está.




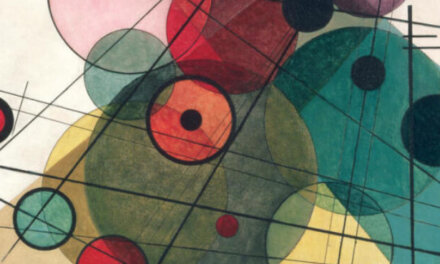










Obrigado, amiga! Tenho recebido meia dúzia de artigos de professores universitários e intelectuais paraibanos de renome sobre o meu trabalho, mas nenhum tão abrangente como o seu. E, por conta do seu texto, já recebi também manifestações de interesse sobre o livro.
Só me resta agradecer..