
Jornaleiro.
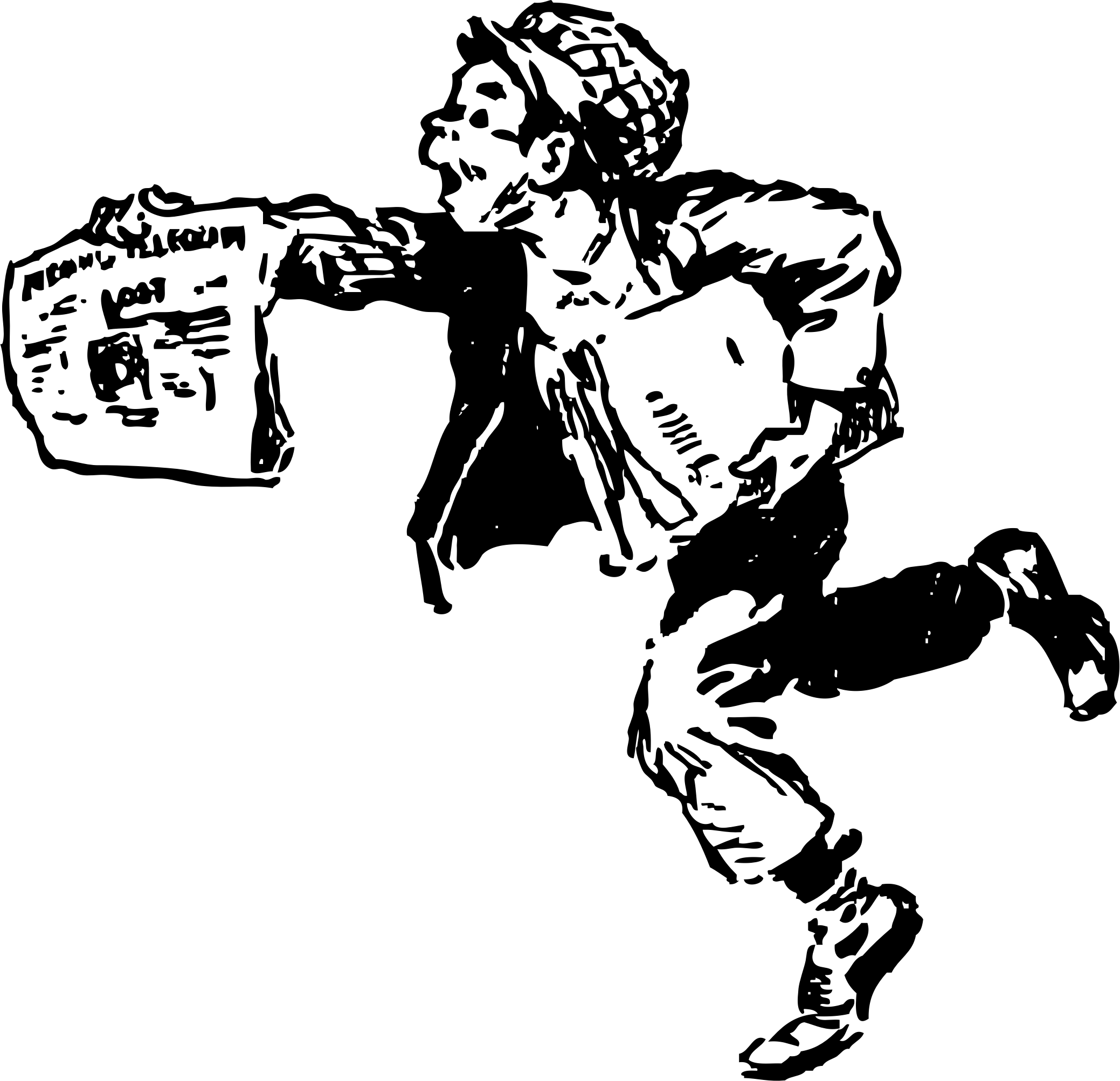 No primeiro turno das eleições fui votar com uma discreta camiseta vermelha. Senti receio, mas foi só. No domingo próximo, vou votar outra vez com a mesma camiseta vermelha. Mas desta vez o receio subiu um grau no meu termômetro interno: irei com medo. Nunca vivi isso. O país também não. Nas últimas eleições, houve muito acirramento, mas não se ouviu dizer que algum eleitor de Dilma tenha saído de casa com medo dos partidários de Aécio, e vice-versa. Parodiando Carlos Drummond de Andrade, nunca me esquecerei desse domingo na vida das minhas retinas tão fatigadas.
No primeiro turno das eleições fui votar com uma discreta camiseta vermelha. Senti receio, mas foi só. No domingo próximo, vou votar outra vez com a mesma camiseta vermelha. Mas desta vez o receio subiu um grau no meu termômetro interno: irei com medo. Nunca vivi isso. O país também não. Nas últimas eleições, houve muito acirramento, mas não se ouviu dizer que algum eleitor de Dilma tenha saído de casa com medo dos partidários de Aécio, e vice-versa. Parodiando Carlos Drummond de Andrade, nunca me esquecerei desse domingo na vida das minhas retinas tão fatigadas.
***
Nesses dias de insensatez, andei pensando n´A Vida do Espírito, de Hannah Arendt. O livro, elaborado na primeira metade dos anos 1970, assinala o derradeiro período de sua vida. Durante esses anos, ela vai abandonado o “mundo das aparências” e se voltando cada vez mais para a “vidacontemplativa”, notadamente ao empreender o que seria sua última obra. Não terminaria o livro, porque faleceu subitamente em dezembro 1975, quando servia o café depois de um jantar com amigos no apartamento de viúva onde morava. Era a volta ao seu primeiro amor, a filosofia pura– se é que se pode chamar de “pura” uma atividade em que seu representante par excellence, Sócrates, que nada fazia senão perguntas que as pessoas não sabiam responder, tenha pago com a vida uma curiosidade aparentemente tão sem propósito.
Nesse livro, terminal e inconcluso, Arendt volta a explorar um argumento que enunciara dez anos antes, por ocasião do julgamento de um dos arquitetos da “solução final” nazista, Adolf Eichmann: o de que o pensamento, o diálogo mudo que o indivíduo realiza consigo mesmo pode, em ocasiões de emergência, ser o caminho para a independência de julgamento e a coragem moral, um dique contra o mal. Como se sabe, foi refletindo sobre aquele julgamento que Arendt, para espanto dos seus amigos judeus, cunhou a expressão “banalidade do mal”, com a qual procurou entender aquele indivíduo exposto ao mundo dentro de uma gaiola de vidro, num tribunal em Jerusalém, o qual, a despeito de ter perpetrado atos “monstruosos”, pareceu-lhe um sujeito “banal, e não demoníaco ou monstruoso”.
As respostas de Eichmann às questões que lhe eram endereçadas, feitas de “clichês, frases feitas, adesão a códigos de expressão e conduta convencionais”, chamou-lhe a atenção. Arendt observa que tais clichês e condutas padronizadas “têm a função socialmente reconhecida de nos proteger da realidade, ou seja, da exigência de atenção do pensamento feita por todos os fatos e acontecimentos em virtude de sua mera existência. Se respondêssemos todo o tempo a esta exigência, logo estaríamos exaustos”. E Eichmann, a seu ver, “nunca havia tomado conhecimento de tal exigência”. Ele lhe pareceu incapaz de, em algum momento, interromper o movimento automático da mão que carimbava diretivas sobre horários de trens que levavam a Auschwitz e exercer a “atenção do pensamento” sobre o que estava fazendo. E continua: “Foi essa ausência de pensamento – uma experiência tão comum em nossa vida cotidiana, em que dificilmente temos tempo e muito menos desejo de parare pensar – que despertou meu interesse”. Estava colocada a questão que a interessava ao empreender, em seu último livro, a volta ao seu primeiro amor, as questões do espírito: “seria possível que a atividade do pensamento como tal estivesse entre as condições que levam os homens a se absterem de fazer o mal?”
Não estou seguro de que a resposta que Arendt tentou elaborar seja satisfatória. Ela explora a tese de que a atividade de pensar, sendo um exercício de “con-sciência” no sentido mais rigoroso da palavra, tem potencialidade imunizadoras, a partir da observação socrática, relatada por Platão no Górgias, de que “é melhor estar em desacordo com o mundo inteiro do que, sendo um, estar em desacordo comigo mesmo”. E aduz um exemplo que se tornou famoso: “a razão pela qual não se deve matar, mesmo numa situação em que ninguém possa vê-lo, é que você não vai querer viver com um assassino. Ao cometer assassinato, você se coloca na companhia de um assassino para o resto da vida”. O problema com esse argumento, como ela mesma reconhece, “é o fato de ser tão somente aplicável a pessoas acostumadas a viver explicitamente consigo mesmas, o que é outra forma de dizer que sua validade só será plausível para os homens que têm consciência”.
















As tuas reflexões filosóficas são sempre instigantes, Luciano. Hoje, trazendo mais uma vez a lucidez de Hannah Arendt, inconclusas, tal como você diz dela em A Vida do Espírito, que agora urge ler.
Porém gostaria de dar um palpite sobre teu estado de espírito para esse segundo turno das eleições: “irei com medo. Nunca vivi isso. O país também não”. Não vou repetir o que já escrevi no meu artigo publicado hoje. Mas acrescento. Acho que essas eleições, de uma certa maneira, estão sendo um momento de liminaridade, tal como o entende o antropólogo Victor Turner, tão apropriadamente assimilado por Roberto da Matta para analisar o carnaval do Rio de Janeiro. Um momento limite em que, um medo difuso, irmão do ódio, que vêm permeando com várias roupagens a sociedade brasileira, expressou-se agora cabalmente, com muita força e visibilidade. Acho urgente, mais do que nunca, que nos debrucemos para entender que sociedade é essa que emergiu de séculos de escravidão e de segmentação social. Uma dependência de nossas casas e apartamentos, inexistente não somente nos países avançados, mas em muitos outros semelhantes ao nosso, chama-se “dependência de empregada”. O Centro Josué de Castro tem uma importante pesquisa sobre esse tema. E o cineasta Cléber Mendonça Filho, um de nossos grandes cineastas da atualidade e com acurada sensibilidade para a sociedade brasileira, também tocou nessa ferida em seu curta “O Recife frio”.
Oi, Teresa!
Obrigado pela força!
Estou precisado e precisando dela neste momento…
Quanto à nossa mentalidade escravocrata de merda, estou há muito tempo consciente dela.
Quando morei na França, e não tinha empregada, claro, e minha vizinha de baixo era uma faxineira (sic!), desenvolvi a idéia de, voltando para o Brasil, escrever uma obra-prima enorme, para a qual até arranjei um título: “Suíte & Quarto de Empregada”, que seria (veja só o delírio de grandeza!) uma espécie de “Casa-Grande & Senzala” dos nossos tempos.
Fiquei só no título.
Além de medroso, sou preguiçoso… Além de não ser gênio, claro!
Li seu texto, bem como o de Elimar. Ambos primorosos.
É isso, querida amiga.
Abração,
Luciano