Proverbialmente brasileiro, Deus parece ter nos abandonado ultimamente ou pelo menos ter se ausentado de forma mais ou menos constante desde 2013. O longo ciclo de crises, que desde então se sucedem umas às outras, encontrou governos estruturalmente incapazes de dar alguma resposta positiva ao duplo desafio de, partindo da realidade nacional e reforçando a coesão das suas partes, modernizá-la numa perspectiva internacional, aceitando de forma ativa e criadora os termos de um mundo interdependente e hiperconectado.
Dispensável, aqui, descrever o desarranjo em que nos vimos metidos com a tentativa de exumação do nacional-estatismo nos governos de Dilma Rousseff. Aquela tentativa não redundou só em grave crise fiscal do estado: se os pobres consolidaram um palmo de terra no orçamento público, com o Bolsa Família – absolutamente defensável nos seus propósitos, como é correto frisar –, os ricos firmaram e expandiram seus mais tradicionais latifúndios, modernizando-os, quando fosse o caso, à custa de gordos subsídios e créditos de pai para filho, arruinando as contas públicas. O mais grave, no entanto, é que, a par com o desastre fiscal, as condições sociais marcaram passo, as cidades tornaram-se inóspitas, a educação e a saúde pública regrediram.
Não era inevitável que a generalizada insatisfação com este estado de coisas, que começou a se evidenciar em junho de 2013 e não se deteve no segundo mandato de Dilma Rousseff, acabasse por se cristalizar segundo o que pretendia uma pequena, estridente e bizarra minoria que, naquelas manifestações, desfilava sob a bandeira de uma “intervenção militar constitucional”. O intervalo representado pelo governo Temer foi um ensaio, muitas vezes interrompido ou mal-sucedido, de realinhar o Brasil e o mundo, retirar a economia do seu estado letárgico e implementar reformas, como a da Previdência, há muito debatidas por todos os governos da redemocratização, inclusive os petistas. Um ensaio sem dúvida malogrado, que terminou sem responder ao desafio de saber se era possível construir a tal ponte para o futuro, cujos pilares seriam o novo papel da iniciativa privada no desenvolvimento nacional e a recomposição do centro político, em oposição aos emergentes grupos de extrema direita e ao petismo em séria crise de legitimidade.
A Providência Divina, entretanto, se já parecia falhar, nos abandonaria definitivamente em 2018 – sem que até o momento dê indícios de que tão cedo volte a nos abençoar. Uma coisa é um ensaio economicamente liberal, como o de Temer, que, convivendo plenamente com as instituições democráticas, está por definição aberto à participação ativa do conjunto das forças políticas e sociais, que assim podem condicioná-lo decisivamente inclusive a partir da oposição. Outra, inteiramente diferente, é a reunião num só bloco dirigente de forças díspares e internamente contraditórias. Não há muita coerência na associação entre o mercadismo radical de um Paulo Guedes – moldado doutrinariamente décadas atrás, quando se acreditava ser o governo invariavelmente o problema, e o mercado, a solução – e os valores conservadores ou, a bem dizer, francamente regressivos daqueles adeptos do “militarismo constitucional”. E a incoerência torna-se explosiva, a ponto de ameaçar a coesão do País e sua integração no mundo, se a arbitrar os conflitos e as incongruências daí decorrentes está um político de trajetória obscura, horizonte corporativo e escassa lealdade institucional.
Estavam assim as coisas, como era patente para qualquer brasileiro que, por exemplo, embarcasse num avião e avaliasse por si mesmo a imagem internacional do País e seu presidente. Chegou-se a dizer, deste último, que se tratava de um pária em matéria de direitos humanos, respeito ao meio ambiente e observância de normas básicas de bom costume – nem radares de trânsito escaparam ao individualismo selvagem que se queria promover. O soft power que em boa parte da nossa história caracterizou a projeção externa do estado e da nação brasileira, apesar da desigualdade obscena que nunca conseguimos ocultar, também se dissolvia sob golpes de truculência. E a ideia de um “Brasil acima de todos” – uma espécie de inconsciente rememoração daquele “über alles” de infausta memória – não resistia, como não pode resistir, a uma política de alinhamento automático menos com a grande democracia norte-americana do que com uma parte beligerante e facciosa dela, justamente a extrema direita trumpista que a tem colocado sob dura prova.
Mal paradas estavam as coisas – dizíamos –, e eis que sobrevém a grande crise da economia e das sociedades proveniente do mundo natural. Sintomas de má direção tivemos desde o princípio quando a tragédia anunciada se viu descartada ou diminuída com a noção irresponsável da “gripezinha”. Ou quando serviu de biombo para manifestações de uma geopolítica rasteira e despropositada com a ideia do “vírus chinês” propositadamente fabricado em laboratório para destruir a civilização ocidental e cristã. O despropósito, contudo, não se deteve no terreno nebuloso – e, no entanto, muitas vezes decisivo – das ideias e das concepções da vida. Um rei fraco faz fraca a forte gente, como sabemos, e no presente caso temos – bem mais do que um rei fraco – todo um grupo dirigente desconexo e “fora do lugar”, como mencionamos acima. Não há de ser o liberalismo démodé de Guedes e a tal agenda conservadora cristã a nos guiar no labirinto da crise imensa que se abate sobre nós.
Esta insuficiência constitutiva se desdobra em dois planos temporais. A curto prazo ela se mostra na incapacidade, até agora patente, de fazer funcionar uma verdadeira economia de guerra nas condições de uma pandemia cujo desenvolvimento está em aberto e requer monitoração constante e muitíssimo bem informada. Apelos desatinados em prol do retorno ao trabalho aqui não funcionam. O que se exige, ao contrário, é uma capacidade inédita de liderar, formular alianças e dirimir atritos em todos os níveis da república. Algumas instituições têm surpreendido o senso comum – mas não o bom senso – ao se mostrarem eficientes e produtivas, como o Congresso Nacional ou o STF. E governadores e prefeitos, em sua maioria, movem-se em geral com o dinamismo que deles se espera: os problemas, afinal, acumulam-se e vão se acumular sempre mais nas portas dos palácios estaduais e das prefeituras, com uma contundência à prova de jejuns e milagres providenciados por quem aprendeu a viver da manipulação de valores religiosos.
A longo prazo há ainda um segundo aspecto fundamental. Na posterior reconstrução do País – uma reconstrução concreta, determinada, que não se confunde com nenhuma espécie de ruptura constitucional –, esta movimentação de governadores e prefeitos desde logo aponta para uma redefinição do pacto federativo, descentralizando fortemente responsabilidades e capacidade tributária. “Mais Brasil, menos Brasília” – o slogan fantasioso que o atual grupo dirigente nacional lançou, sem nele acreditar minimamente, poderá assim descer do terreno da mistificação e tornar-se uma exigência generalizada da cidadania, e isto já agora, como tem apontado, entre outros, o economista José Roberto Affonso, com as questões prementes da área de saúde. Nesta linha, ao enfrentar precisamente estas questões, a federação pode ser recriada a partir de baixo, o que seria de todo modo auspicioso apesar das dores do parto.
Longe de diminuir a importância do poder central, a transição para uma federação mais forte e, consequentemente, para um país mais flexível, articulado e capaz de enfrentar melhor futuras situações críticas, reforça-o: ao poder central, particularmente ao executivo, é que cabe a tarefa de coordenação do esforço de todos, respeitado o papel de síntese política próprio do Congresso Nacional e o de “errar por último” do STF, que definem uma sociedade dotada de fisionomia democrática num mundo fadado a laços cada vez mais intensos de interdependência e necessitado, por isso mesmo, de ter bons exemplos de arranjos nacionais solidários. Uma parte muito grande do impasse atual é que não estamos certos, bem antes pelo contrário, de ter um executivo em condições de liderar democraticamente a nova federação que pode se desenhar – um dux, de acordo com a tradição presidencialista, mas distante da tentação canhestra de transformar-se em duce. É o que nos faz também supor que, se Deus ainda for brasileiro, pode momentaneamente ter se ausentado para as esferas celestiais, deixando-nos a sós com nossos recursos, nossa imaginação e até, ai de nós, nossas humanas fraquezas.




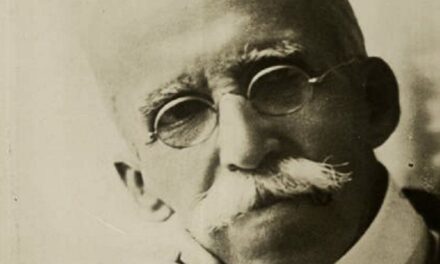










Donde será que veio essa presunção de que deus é brasileiro? De qualquer modo, se algum dia foi, nos abandonou faz tempo. Esta análise, sensata, não traz muito alento. Pois os governos estaduais assumiram agora maiores responsabilidades porque não tiveram outro remédio, dado o desgoverno central. E se uma federação de estados só pode ser forte se houver coordenação central, é mais provável que teremos no Brasil uma federação caótica. A não ser que os governadores aprendam a se coordenarem entre si, sem depender de uma coordenação central que não existe nem existirá tão cedo.