
Proust em seu leito de morte – autor desconhecido
Passado um século de sua morte neste 18 de novembro de 2022, Marcel Proust, um dos inequívocos pais da literatura moderna, ainda parece nos desafiar. Uma copiosa fortuna crítica não cessa de crescer. Seu “opus magnum”, “Em busca do tempo perdido”, continua a inspirar leitores dos quatro cantos do mundo, tornou-se um clássico incontornável e nos faz sentir que devemos atravessá-lo como se atravessa um belo e caudaloso rio ou uma floresta encantada das histórias de fada de nossa infância. À semelhança do Quixote e de outras obras-primas, seu tom é de conversa, e, à primeira vista, não há qualquer hermetismo ou dificuldade. O narrador nos aponta para uma vida, a sua vida, que é como uma planta que, a princípio, parece se desenvolver em várias desilusionantes direções. Trata-se, como escreveu o filósofo Vicent Descombes, inspirando-se no próprio Proust, de contar “a” Vida através de “uma” vida, a de Marcel, que sobe o monte do purgatório de sua existência não para encontrar o Paraíso, mas para encontrar um livro, o que escreveria, ou escreverá, isto é, a obra que estamos lendo e que não é outra coisa senão uma ascese para se amar e se compreender as artes e a vida. Uma ascese, uma memória e, ao mesmo tempo, como disse Italo Calvino, “um romance enciclopédico”.
Durante muito tempo, Proust não foi Proust, foi, como já se disse, um patinho feio… Tornar-se cisne levou-lhe quase toda a vida. À parte a genialidade que floresceria aos poucos, a natureza foi-lhe ingrata desde a gravidez. A criança inspirou mil cuidados, uma asma “nervosa” e feroz, de par com outros males, o golpearia por toda a vida. Logo no começo da adolescência ficaria estigmatizado como homossexual. Filho de mãe rica e judia, era judeu. Filho de pai católico (o famoso médico higienista Adrien Proust), nunca escondeu, sendo agnóstico, uma espécie de fé estética nos valores do catolicismo, no qual fora educado. O famoso caso Dreyfus — que rachou e polarizou a França entre nacionalistas e “traidores”, entre os que defendiam a inocência do capitão judeu Alfred Dreyfus e os que o culpavam de alta traição à pátria — fez do jovem Proust um ativista político a favor do desventurado militar. Desde muito cedo, em parte por ter uma mãe literariamente cultivada, o caminho das letras foi seu caminho. À fragilidade do corpo magro, pequeno e enfermiço logo se contrapôs uma robustez de espírito, que a maturidade só faria confirmar. Não por acaso, escreveria na “Busca” que “[…] o corpo é a grande ameaça que pesa sobre o espírito”.
Ainda na juventude, Proust publica uma coletânea de contos: “Os prazeres e os dias”. O livro é sustentado por algum talento e pelo prefácio do consagrado mestre Anatole France, o mesmo que dirá mais tarde a famosa blague: “A vida é curta, e Proust é muito longo”. O livro é um fiasco.
Posteriormente, meter-se-ia em nova empreitada na área da ficção: escreveria “Jean Santeuil”, um romance que resultou inacabado e só foi publicado após sua morte. Por esse tempo, publica artigos e pastiches de autores famosos em vários órgãos da imprensa parisiense, mas sempre o confundem com o escritor Marcel Prévost, o que o leva a dizer, brincando, que ele não passa de “um mero erro tipográfico”. De resto, acusa-se de uma contínua falta de vontade e de perseverança; falta-lhe ânimo. É uma espécie de escritor falhado; sua vocação literária parece invisibilizada e inviabilizada pelo próprio destino. É nesse tempo que frequenta os salões burgueses e aristocráticos, dos quais terminará fazendo mentalmente uma espécie de laboratório ao qual voltará para compor personagens inesquecíveis e emblemáticos; é a partir desses salões que estudará os grupos humanos e fixará algumas leis que só um olhar privilegiado poderia descobrir. À semelhança do narrador de “Em busca do tempo perdido”, Proust não apenas via, “radiografava”… Seus grandes e amendoados olhos eram, para falar como seu biógrafo italiano, o crítico Pietro Citati, providos de “onívoras pupilas”.
No caminho até sua obra gloriosa, Proust aprende, oscila, vacila, cai e se levanta, sofre a orfandade de uma mãe que sempre o tratou (ele que o diz) como se tivesse eternos quatro anos de idade! Finalmente, por volta dos 40 anos, acerta a mão. Planeja e começa a escrever um romance em três volumes, o primeiro dos quais — “No caminho de Swann” — sai, sem muito sucesso e compreensão, em 1913, às suas próprias custas. Vem a “Grande Guerra” (1914–1918), e o romance se amplia para sete alentados volumes, livros que o autor jamais verá reunidos numa prateleira, pois morre sem ter toda a obra publicada, o que só ocorrerá em 1927, graças especialmente a seu irmão Robert.
O tardio beijo da glória e, portanto, do reconhecimento, só vem ao seu encontro em 1919, quando recebe o prestigioso “Prêmio Goncourt” pelo segundo volume da “Busca”: “À sombra das moças em flor” (cuja nova tradução brasileira é assinada por Rosa Freire d’Aguiar). Catapultado a uma merecida fama, Proust, mais que autor nacional, transforma-se em autor internacional. Críticos e tradutores, sobretudo da Europa, debruçam-se sobre uma obra nova, misteriosa, sedutora, que é, ao mesmo tempo, não só tributária dos clássicos, dos grandes autores e filósofos universais, como da modernidade vibrante e irônica de um Baudelaire, sem falar que, posteriormente, seriam descobertas afinidades com Freud e outros mestres do tempo. Daí por diante, praticamente todos os grandes críticos e escritores, ao longo do século 20, gastariam alguma tinta com o estranho francês que mudou para sempre a literatura ocidental.
O crítico Gaëtan Picon, em poucas palavras, resume a revolução proustiana que impregnará toda a literatura do século 20: “Proust revoluciona o romance, trazendo-lhe a poesia […] Ele aparece como o romancista de uma experiência poética evocada no seu contexto romanesco, não como o autor de um romance poético”. Ao contrário do que parece à primeira vista, Proust não é saudosista ou intimista, como se crê popularmente. Pelo contrário, ele é, para usar as palavras de outro estudioso, Jean-François Revel, um “egófugo”. Com efeito, “[…] não pertence exatamente à literatura de confissão […]”, não é um egocêntrico. Sua obra “sinfônica”, como a chamou Edmund Wilson, foi plasmada sob um rigor construtivo que não se mostra de imediato. O que assusta o leitor é a percepção subliminar de que o enredo está como que dissolvido ou espalhado numa narrrativa em que a reflexão é, por assim dizer, o continente majestoso e excepcional.
Para concluir este modesto registro no centenário de morte de Proust, volto ao foco biográfico. No penúltimo capítulo, “Uma morte voluntária?”, da alentada biografia “L’impossible Marcel Proust” (que este ano ganhou nova edição na França), Roger Duchêne nos chama a atenção para algo de que já desconfiávamos: Proust entregou-se à morte. Praticou em si mesmo uma ortotanásia, e isso para desespero do seu irmão médico (e grande médico!) Robert Proust, de todos os outros ilustres médicos que poderiam tê-lo salvo e de todas as pessoas amigas. Seu caso, ao contrário do de seu personagem Swann, era curável. A bronquite originada de uma gripe derivou para uma broncopneumonia que o levou a óbito. Proust havia dado ordens expressas para que seu irmão não cuidasse dele e sequer entrasse em seu apartamento. Quando Celeste Albaret, sua então jovem governanta, o desobedeceu, já era tarde. “Sua morte estoica”, anota Duchêne, “em muito se assemelha a um suicídio”. No dia anterior, Proust havia dito a Celeste (um tanto infantilmente) que, se ele atravessasse aquela noite (que seria a sua última noite), “[…] eu provarei aos médicos que sou mais forte do que eles”. Arremata o biógrafo: “[…] ele quis acertar as contas com eles [os médicos], com seu pai através deles”. Impossível não vermos aí a derradeira encarnação e reverberação de um Édipo que psicanaliticamente o afligira ao longo da vida, mas ao qual talvez devesse a sua imensa e universal criação. Morto, destruiria a morte e passaria a reinar por longa e fecunda posteridade.










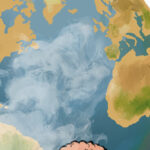



comentários recentes