
Old Friends is a painting by Ylli Haruni
Entrevistador: João Rego (JR), presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas para o fortalecimento da Democracia (IEPfD).
Entrevistado: Luciano Oliveira (LO), professor aposentado da Faculdade de Direito de Recife,
1) Olá, Luciano, seja bem-vindo a este espaço do IEPfD, Lições de Democracia. Hoje vamos conversar sobre seu livro O Enigma da Democracia – o pensamento de Claude Lefort. Eu gostaria, para iniciarmos nossa conversa, que você nos apresentasse Claude Lefort e quais os principais conceitos sobre democracia desenvolvido por ele.
LO – Claude Lefort foi um filósofo da política, nascido em 1924 e morto em 2010, em Paris. Ele teve uma significativa audiência no Brasil na década de 1980, sobretudo na sua primeira metade, quando seu livro mais conhecido, A Invenção Democrática, foi aqui traduzido e muito lido naqueles anos. Vivia-se o processo de “abertura” política do general Figueiredo e os temas da democracia e dos direitos humanos, nele tratados, favoreceram a acolhida que teve. O capítulo mais lido do livro se chamava “Direitos do Homem e Política”, e foi lendo-o, aliás, que descobri o autor, sob a orientação de quem anos depois fiz uma tese de doutorado, versando sobre os direitos humanos e o pensamento político de esquerda no Brasil. É uma história longa que talvez deva contar antes de responder a sua questão.
Como você sabe, gostamos muito de teóricos estrangeiros, de preferência europeus, para legitimar nossas opções acadêmicas. Lefort, valorizando a democracia, caiu bem naquele momento em que todo um movimento de defesa dos direitos humanos tinha aparecido no ambiente da esquerda. Era o ocaso da ditadura militar e precisávamos de novas orientações. Sai Althusser, entra Lefort! Eu, que cursara a universidade nos “anos de chumbo” e tivera alguns colegas presos e torturados, acalentava um tanto vagamente a idéia de escrever uma tese sobre a questão dos direitos humanos no Brasil. Ter vivido sob um regime que fazia da violação de tais direitos um de seus pilares, tinha-nos ensinado, a mim e à minha geração, a valorizar, na prática, o que significava a sua vigência. Havia, entretanto, um problema teórico a resolver.
Havíamos aprendido, com o marxismo, que os “direitos naturais” da Declaração da Revolução Francesa não eram senão os direitos do “homem egoísta […], um indivíduo fechado sobre si mesmo, sobre seu interesse privado e seu capricho privado”, como disse o próprio Marx num texto famoso, Sobre a Questão Judaica. A minha idéia era fazer uma análise crítica dessa leitura, considerando-a, à luz da experiência da minha geração, empobrecedora. Sentia-me, entretanto, um tanto tolhido na minha pretensão: quem era eu para criticar Marx? Um dia, por causa do seu título, tive minha atenção atraída para o artigo de Claude Lefort, de que já falei. Nele, Lefort apontava alguns silêncios e “miopias” importantes na leitura de Marx sobre os direitos humanos, reprovando ao barbudo alemão, por exemplo, o seu silêncio em relação aos artigos 7°, 8° e 9° da Declaração, os quais interditam a prisão arbitrária, instituem o princípio da reserva legal, e o da presunção de inocência de todo acusado, que Lefort via como uma “aquisição irreversível do pensamento político”. A leitura lefortiana coube como uma luva no que eu pensava. Como se diz na academia, tinha descoberto o “marco teórico para a tese de doutorado que iria escrever anos depois.
Mas o que haveria de novo no que dizia Lefort? Até aí, nada que não pudesse ser subscrito por um jurista convencionalmente liberal. Qual, então, a novidade? Ocorre que nas reflexões que em seguida fazia sobre o significado político de uma sociedade que acolhe os direitos do homem como seu fundamento, Lefort revelava-se um autor nada convencional, e sua visão da democracia, um tanto desconcertante para o senso comum. Comentando a Declaração, Lefort lembrava que contrariamente ao que acontecia no Antigo Regime – fundado sobre o “direito divino dos reis” –, “um novo ancoradouro é fixado: o homem”. E em seguida se perguntava: “Mas que ancoradouro é esse?” É aqui onde começam os problemas: tão logo fazemos um esforço no sentido de pensar empiricamente o que é esse homem, verificamos que essa imagem se esvanece. O próprio Lefort se põe a questão: “Se julgamos que há direitos inerentes à natureza humana podemos economizar uma definição daquilo que é próprio do homem?” E prudentemente esquiva-se de propor tal definição, observando que, “sem dúvida, a resposta se esconderia.” “Ora – continua Lefort –, a idéia de homem sem determinação não se dissocia da [idéia] do indeterminável. Os direitos do homem reenviam o direito a um fundamento que, a despeito de sua denominação, não tem figura”. Essa indeterminação, além disso, percorre também outras tantas figuras míticas como o Povo – que são, nas democracias, “entidades indefiníveis”. Ou, dizendo de uma maneira mais exata, a sua “definição” está sempre sujeita ao questionamento, num debate público que é sem fim. Ao ir coerentemente até o fim nessa vertente de pensamento, Lefort valer-se-á de fórmulas que na ocasião de minhas primeiras leituras recepcionei com estranhamento. Por exemplo, a da democracia como um regime que se institui – o que à primeira vista parece um paradoxo – em oposição à “boa sociedade”, ou seja, a uma sociedade que pretendesse ter abolido os “conflitos” e a “divisão social”, empreendimento que, por onde passou, degenerou em totalitarismo.
2) JR – Em Socialismo e Barbárie, revista conduzida por Claude Lefort e Cornelius Castoriadis, já nos anos 50, se denuncia o totalitarismo stalinista, instalado em nome do socialismo, com impacto no narcisismo de esquerda e sua pretensão em atingir, com suas utopias, uma sociedade igualitária. Você pode falar um pouco sobre esta fase da vida de Claude Lefort?
LO – Na verdade ela começa um pouco antes dos anos 50. O percurso intelectual e político de um Lefort ainda jovem, como era inevitável naqueles anos, encontrou o pensamento marxista, do qual tornou-se um ativo militante. E em 1948 (quando estava na faixa dos 25 anos), juntamente com Castoriadis, fundou o grupo Socialismo ou Barbárie, cuja revista com o mesmo nome tornou-se uma referência no debate contemporâneo em torno do marxismo, tendo sido a primeira publicação de esquerda na França a fazer uma crítica sistemática e qualificada do stalinismo então no apogeu. O grupo recusava a tese do socialismo soviético como um regime simplesmente pervertido pelo personalismo de Stalin, vendo ali, ao contrário, um regime sui generis, onde uma nova camada social, a burocracia, tinha se tornado uma nova classe dominante.
Mas dez anos se passam e, em 1958, Lefort abandona o grupo. Por quê? Porque o grupo Socialismo ou Barbárie, mesmo recusando o socialismo de tipo soviético, tinha a pretensão de ser um instrumento de “orientação revolucionária”, como anunciava o subtítulo da revista. Mas nessa ocasião – ou seja, no final dos anos 1950 –, Lefort simplesmente já não acreditava mais na “mitologia bolchevique, da qual Socialismo ou Barbárie era […], apesar de tudo […], um último filhote.” A essa altura, ele tinha chegado a um ponto de não retorno. Como relata ele próprio ao fazer um resumo do seu percurso intelectual, “durante um tempo acreditei ver desenhar-se uma revolução que seria obra dos próprios oprimidos e que ela saberia se defender contra os que pretendessem dirigi-la.” Mas, na sequência, faz uma drástica revisão desse projeto: “Atualmente, sei que estava enganado. Essas ilusões começaram a se dissipar em 1958, assim que se deu minha ruptura com Socialismo ou Barbárie, e desde então me empenhei em destruí-las” – diz ele com certa aspereza.
3) JR – Mais tarde, Lefort vai mergulhar na obra de Maquiavel, de onde saí convencido de que as divisões da sociedade são insuperáveis e fazem parte da sua própria constituição, cabendo à democracia avançar em outras instâncias como os direitos humanos e as desigualdades sociais. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esta influência da obra de Maquiavel sobre o pensamento de Claude Lefort.
LO – Sim. Concomitantemente à sua crítica do stalinismo, um encontro decisivo no seu percurso foi a obra de Maquiavel, cuja leitura despertou nele a convicção de que foi o conflito, e não a sua eliminação, que fez a glória da república romana. É quando Lefort abandona a perspectiva da construção de uma sociedade socialista na qual o conflito seria abolido, vendo nesse projeto o perigo da tentação totalitária, e passa a dirigir o seu pensamento a interrogar o que considera essencial no fenômeno democrático: a construção de uma mise-en-scène fundada sobre a legitimidade do conflito. Uma longa reflexão a partir da leitura do autor d’O Príncipe, mas sobretudo d’A Segunda Década de Tito Lívio (que é a sua referência principal), marcou definitivamente a concepção lefortiana sobre o fenômeno político, provocando uma reviravolta no significado que ele passou a atribuir à democracia, daí em diante quase uma idéia fixa nos seus trabalhos. Para ser mais exato, significou uma mudança de objeto na sua reflexão: do afrontamento entre capitalismo e socialismo, preocupação da época de Socialismo ou Barbárie, Lefort passou a exercitar uma reflexão ininterrupta sobre a oposição entre totalitarismo e democracia.
Mas, retomando sua pergunta, você menciona o avanço na luta contra as desigualdades sociais como uma das missões da democracia. No que me diz respeito, não tenho qualquer dúvida quanto a isso! Tenho a dizer, porém, que, se nos colocamos dentro do pensamento de Lefort, essa é uma questão a meu ver não muito bem resolvida. Voltemos ao contexto do aparecimento d’A Invenção Democrática. Lembro que, na época, ainda pairava na Europa a ameaça soviética sobre os insurgentes poloneses e na América Latina a repressão das ditaduras militares ainda se abatia sobre os esquerdistas que haviam sonhado com a revolução, a qual, por onde passou, destruiu a chamada “democracia formal”. A sua reflexão é resolutamente a favor desta última, tanto que ele nos convida a voltar “os olhos para os soviéticos, para os poloneses, os húngaros, os tchecos ou os chineses em revolta contra o totalitarismo” – e acrescenta: “são eles que nos ensinam a decifrar o sentido da prática política.” Em relação à América Latina, ele lembra que “a revolução democrática não penetrou ali, ou então, cada vez que começou a se desenvolver, seu curso foi brutalmente invertido.” Com veemência, escreve: “Somos tomados de vertigem quando entrevemos o abismo de morte que a miséria cava na Ásia, na África, na América Latina.” Ok.
Mas devo lembrar que esse problema – o das desigualdades sociais – não é o centro das preocupações lefortianas. Quando ele aborda essa questão é apenas en passant, mas, como que não podendo fugir dela (quem, escrevendo depois da Revolução Francesa, pode fugir da “questão social”?), ele faz uma série de considerações que de certa forma compromete sua visão acerca da indeterminação democrática. Como vimos, Lefort insiste na visão da democracia como um regime que aceita a legitimidade dos conflitos, num debate que é sem fim. “Debate necessariamente sem fiador e sem termo”, como ele acrescenta. Ora, essa ausência de fiador e de termo cauciona de certa forma a injustiça social. Lefort tem plena consciência dos riscos e das cobranças a que sua concepção de democracia está exposta. Como – se pergunta ele – “mensurar o que significa no totalitarismo a denegação da divisão social […] sem ter medo de me ver eu mesmo legitimar as divisões de fato que caracterizam os regimes democráticos […] nos quais vivemos? Como fazer entrever a finalidade mortífera do totalitarismo sem justificar as condições de […] desigualdade próprias dos nossos regimes?”. É na resposta que ele dá que aparece, a meu ver, uma certa inconsistência no seu pensamento.
Ocorre que, apoiando-se em dados factuais fornecidos pela história da Europa Ocidental, ele argumenta que a democracia vale a pena porque ela é capaz de mudar a sorte dos mais desfavorecidos… Ou seja: é como se o seu apego às “liberdades formais”, sob a égide das quais viceja a “divisão social”, não fosse gratuito; como se ele fosse condicionado pela perspectiva – que no caso da Europa Ocidental foi uma experiência concreta – de que tais liberdades não são puramente formais, porque, por onde passaram, provocaram conteúdos concretos: foram elas, afinal, que tornaram “possível as reivindicações que conseguiram fazer evoluir a condição dos homens.” É por isso que, se ouso assim dizer, Lefort parece demonstrar uma espécie de “preferência” pelos direitos civis e políticos clássicos em relação aos direitos sócioeconômicos, pois, mesmo que esses deixem de ser garantidos, ou mesmo reconhecidos: “a lesão não será mortal, o processo continua reversível, o tecido democrático é suscetível de ser refeito, não somente graças a circunstâncias favoráveis à melhora da sorte do maior número, mas pelo próprio fato de serem preservadas as condições de protesto.” Nos seus próprios termos, “Tudo se passa como se os novos direitos viessem retrospectivamente incorporar-se ao que foi considerado constitutivo das liberdades públicas.”
Mas o que deduzir disso? Que a indeterminação democrática não seria tão indeterminável assim? – já que se a democracia “vale a pena” é à condição de resolver a “questão social”? É o que a abordagem concreta do caso da Europa Ocidental parece sugerir. Nesse caso, o que dizer de situações como a nossa em que, apesar de existirem as condições de protesto, a sorte dos miseráveis parece imutável, como se vivêssemos numa espécie de “eterno retorno” da miséria?… Não sei o que responder e, infelizmente, Lefort não está mais entre nós para fazê-lo.
4) JR – “A Verdade efetiva das coisas”. Esta frase de Maquiavel, talvez seja a que melhor defina o pensamento dele, e que Claude Lefort a toma como inspiração para sua inquirição filosófica sobre os fenômenos da política. Minha pergunta tem um tom provocativo: esta frase não é algo que nos escapa, posto que as ideologias têm suas “verdade efetiva das coisas”?
LO – Quando Lefort fala nisso, ele está falando dos autores clássicos (Platão, São Tomás etc.) que tinham um modelo de regime a apresentar aos seus concidadãos, enquanto Maquiavel, ao contrário, via os regimes políticos como eles de fato são (“a verdade efetiva das coisas”) e procurava tirar disso os ensinamentos para o que veio muito tempo depois a ser chamado da “ciência política” (daí aquele pequeno mas instrutivo livro “Tudo Começou com Maquiavel”, de Luciano Gruppi). Ora, atento a essa “verdade das coisas”, Lefort construiu seu pensamento à margem e na contramão das grandes correntes que empolgaram a filosofia francesa na segunda metade do século XX: o marxismo, o estruturalismo, o pós-estruturalismo etc. Apesar de contemporâneo de autores como Althusser, Foucault, Derrida etc., a reflexão de Lefort sempre passou ao largo da suspeita tão típica de certo pensamento francês que esses autores representam. De uma forma ou de outra, todos eles se filiam à linhagem dos famosos “mestres da suspeita”, como se designam os três grandes nomes que nos tempos modernos trouxeram a investigação sobre os fenômenos sociais e humanos para o terreno do escondido, do bas-fond, do inconfessável: Marx, Nietzsche e Freud. Há nesses autores e seus sucessores uma sistemática desconfiança em relação à realidade visível, vivida, frente à qual os cultores da suspeição costumam fazer a conhecida pergunta: “mas o que é que está por trás disso?” As respostas são conhecidas: o modo de produção, no caso de Marx; a vontade de poder, no caso de Nietzsche; o inconsciente, no caso de Freud.
É claro que esses são princípios heurísticos valiosos, não resta dúvida. Mas (e aí há certo perigo), à força de ir ver o que está por trás das coisas, não corremos o risco de não ver o que está na nossa frente? ? ou seja, as coisas mesmas? Foi o que Lefort fez com a democracia, ou, se preferirmos, o fenômeno democrático, exercendo uma reflexão, por assim dizer, mais fenomenológica do que propriamente sociológica. Há uma conclamação sua que vale a pena ser citada:
aceitar ver no presente outra coisa que não apenas o mal, decidir-se a decifrá-lo para nele aprender o sentido dos nossos projetos, nele buscar as condições do nosso pensamento e da nossa ação, e à medida que nos tornamos sensíveis à exploração e à exigência de denunciá-la, permanecer conscientes de que falamos ainda no interior da sociedade presente e que é dela, nas condições que nos são dadas, que temos de extrair a verdade, em lugar de nos evadirmos no mito do bom passado ou no do socialismo futuro.
5) JR – Um conceito original de Lefort é do poder, em uma sociedade democrática, como um “lugar vazio”, diferente das sociedades totalitárias ou autocráticas, nas quais o Estado a tudo preenche. Você pode nos esclarecer que vazio é este, no pensamento de Claude Lefort.
LO – Essa é uma das fórmulas lefortianas mais famosas – “o poder como um lugar vazio”. Mas como, “vazio”, se ele está sempre ocupado? – perguntar-se-ia. Mas aí é que está: aqueles que o exercem são “simples mortais que só o ocupam temporariamente”. Voltemos ao texto sobre direitos humanos: “Os direitos do homem reenviam o direito a um fundamento que, a despeito de sua denominação, não tem figura”. Isso não é um simples detalhe. Adotando uma metodologia comparativa, a maneira que Lefort adota para destacar os traços característicos da “matriz simbólica” da democracia é contrastá-los com aqueles característicos do regime que a antecedeu – a monarquia absoluta – e aquele outro que, no século XX, pretendeu substituí-la e constitui permanentemente uma ameaça potencial para ela: o totalitarismo. Num como noutro caso – a monarquia absoluta a montante, o totalitarismo a jusante –, o que ele próprio chamará de “imagem do corpo” constitui uma espécie de “matriz simbólica” de uma e outra formações sociais. Cito-o:
A sociedade do Antigo Regime representava para si sua unidade, sua identidade como a de um corpo – corpo que encontrava sua figuração no corpo do rei […]. O Antigo Regime é composto de um número infinito de pequenos corpos que dão aos indivíduos suas referências identificadoras. E esses pequenos corpos se organizam no seio de um grande corpo imaginário do qual o corpo do rei fornece a réplica e garante a integridade.
Uma boa ilustração disso, aliás, encontra-se no frontispício da edição original de O Leviatã, de Hobbes, onde o “soberano”, portando espada, cetro e coroa, tem o corpo formado por uma multidão de homens minúsculos, só visíveis se aumentarmos o foco e olharmos atentamente. Já o “modo de instituição” da sociedade democrática, por oposição, caracteriza-se pelo esfacelamento dessa imagem. A “matriz simbólica” da democracia é completamente outra, e o ponto de inflexão tem, por assim dizer, um acontecimento preciso e brutal que lhe serve de marco: a decapitação de Louis XVI. O próprio Lefort destaca o fato:
A revolução democrática, por muito tempo subterrânea, explode quando o corpo do rei se encontra destruído, quando cai a cabeça do corpo político, quando, simultaneamente, a corporeidade do social se dissolve.
Como Lefort insiste repetidamente, a democracia é um regime “desincorporado”. Observando que o conceito de povo remete a algo como uma unidade dotada de identidade, Lefort lembra que tal entidade não existe empiricamente, existe apenas simbolicamente. Na “verdade efetiva das coisas”, afinal, que “figura” corporificaria o indefinível povo? As respostas dadas no século XX incluíram a raça ariana, no caso do nazismo, e, no caso do comunismo, o proletariado – ou seja, redundaram em totalitarismo. Em resumo, “a democracia inaugura a experiência de uma sociedade inapreensível, indomesticável, na qual o povo será dito soberano, certamente, mas onde não cessará de questionar sua identidade”. Nessa vertente, ele vai dizer que a democracia não é um regime que traz consigo uma solução definitiva para o problema da convivência humana, colocando o “povo” no poder e instituindo assim a “boa sociedade”. O estranhamento que se sente ao ler Lefort em momentos como esse é mais do que compreensível: o abandono da idéia de “boa sociedade”, afinal, não seria exatamente o oposto do que se entende por democracia? A resposta lefortiana, surpreendente e original, é não! Por quê?
Porque o que conhecemos como democracia é um regime em que, como vimos, se instaura uma discussão, que é sem fim, sobre o que é legítimo e o que não é. Ou seja, instaura-se a legitimidade do próprio conflito! O totalitarismo seria uma tentativa de reverter o processo, estabelecendo um corpo para o indefinido Povo. Os resultados de tudo isso, todos conhecemos: a sociedade civil perde seu dinamismo próprio, passando suas instituições a funcionar como correias de transmissão do estado; a lei, fruto de uma discussão interminável e sempre sujeita à contestação nos regimes democráticos, volta a ter um fundamento transcendente e indiscutível: a “vontade do Fürher” na Alemanha nazista, o “interesse da classe trabalhadora” na União Soviética. Em resumo, a divisão social é negada e a sociedade é submetida a um processo de domesticação.
Aqui, permita-me um parêntese curioso. Lembra-se da revolução romena de dezembro de 1989? Aconteceu ali algo imageticamente significativo. Quando a sublevação contra o regime caquético de Ceausescu explodiu, uma das imagens mais impactantes era a bandeira da Romênia recortada a tesoura. No centro da bandeira, onde havia um antigo brasão armorial representando o poder, as pessoas recortaram um círculo, de modo que a bandeira desfraldada ficou balançando ao vento com aquele buraco no meio. Na época, eu estudava na França e frequentava o seminário de Alain Touraine, e foi ele quem fez essa observação: a de que as imagens de Bucareste ilustravam bem a concepção de Claude Lefort da democracia como um “lugar vazio”. Achei a metáfora de Touraine um achado, tanto que nunca a esqueci.
6) JR – O Século XXI enfrenta um cerco à democracia. Em vários países onde democracias sólidas nos pareciam ser eternas, enfrentam agora ondas antidemocráticas e neofascistas, como as recentes eleições na Itália e na França. Na Hungria, Polónia e Turquia usam um eufemismo para regimes autocráticos, os definindo como Democracias Iliberais. Você acha que o pensamento de Claude Lefort sobre totalitarismo e democracia, pode nos ajudar a lidar com tais fenômenos?
LO – Sem dúvida, e sobre esse perigo ele adverte constantemente. O seu último livro, A Complicação (publicado em 1999 e não traduzido entre nós), trata incisivamente disso, ao lembrar que se o comunismo está morto, as questões que ele levanta não naufragaram junto. Entre outras razões porque no mundo globalizado do século XXI a insegurança é um dos elementos cruciais do nosso tempo. Cito-o:
Quando a insegurança dos indivíduos recrudesce, em consequência de uma crise econômica, ou de devastações de uma guerra; quando o conflito entre as classes e os grupos exaspera-se e deixa de encontrar uma resolução simbólica na esfera política; quando o poder parece degradar-se […], vindo a aparecer como algo de particular servindo a interesses e apetites de torpe ambição […], então se desenvolve o fantasma do povo-um, a busca de uma identidade substancial, de um corpo social solidamente preso ao topo […], de um Estado liberado da divisão.
Nessas condições, é sempre possível a gestação de um novo “ovo da serpente”, a tentação de uma identidade substancial, capaz de livrar as pessoas da incerteza que a desincorporação democrática, e portanto a legitimidade da “divisão social”, traz consigo. Já disse alguma coisa sobre essa legitimidade quando reportada à desigualdade socioeconômica – sobretudo à desigualdade abissal de sociedades como a nossa – e não vou me repetir. Mas, seja como for, é importante ressaltar uma coisa. Lefort tem um olhar bastante acurado sobre a realidade para perceber que a divisão social é um fenômeno bem mais vasto do que o conflito entre capital e trabalho, e que não se refere apenas à divisão entre classes, para usar um termo marxista. Por divisão social, diz ele, “eu entendo a divisão dos grupos, mas também das esferas de atividade”. Retenhamos essa fórmula: esferas de atividade, pois ela é mais importante do que a banalidade da sua formulação sugere.
Como lembra ele n´A Invenção Democrática, o princípio da desincorporação que anima esse regime não se limita ao âmbito da política propriamente dito, pois se infiltra e atua também no conjunto da chamada “sociedade civil”, tornando possível a “emergência de relações sociais” que escapam ao domínio do poder – relações “não apenas econômicas, mas jurídicas, pedagógicas, científicas” etc. que têm nelas mesmas seus próprios critérios de validade. Contrariamente a isso, no totalitarismo a sociedade civil perde seu dinamismo próprio, passando suas instituições a funcionar como correias de transmissão do estado. E assim as atividades pedagógicas, artísticas, científicas etc. – que Lefort classifica genericamente como a esfera do saber – são submetidas igualmente à esfera do poder. Ou seja: o totalitarismo, a pretexto de acabar com a “divisão social”, termina por aniquilar toda a diversidade de que a sociedade é feita. Como a experiência histórica do stalinismo demonstrou, a ideia de uma sociedade-corpo, desde que chegue ao poder, traz consigo não apenas um – e apenas um – partido proletário, mas também uma ciência proletária (como é o caso da “genética anti-burguesa” de Lyssenko), uma arte proletária (como é caso do “realismo socialista”), e mesmo uma moral proletária (como é o caso da “construção do homem novo”) – e assim por diante.
Essas remissões me levam de volta à sua pergunta sobre as “ondas antidemocráticas e neofacistas” que têm aparecido nas eleições em países como a Itália e a França, bem como sobre os “regimes autocráticos” instalados em países como Hungria, Polónia e Turquia, que têm sido definidos como “democracias iliberais”. Valendo-me de um livro recente de Pierre Rosanvallon (O Século do Populismo), ele próprio um historiador bastante influenciado pelo pensamento de Lefort, elas seriam “democracias polarizadas”. Nelas, a sociedade é reportada a uma dicotomia elementar de tipo schimittiano (amigos vs. inimigos) e a um processo de radicalização generalizada na atividade política e mesmo na vida social. As instituições da democracia liberal continuam funcionando, mas postas à prova constantemente. À representação clássica, tenta-se substituir a identificação da massa com o líder, através de um face-a-face sem intermediação das instituições e dos poderes constituídos. É uma democracia de forte acento plebiscitário, na qual os dois outros poderes da tripartição clássica, Legislativo e Judiciário – sobretudo este último – são insistentemente chamados a se enquadrar, ou serem fechados.
Tudo isso é grave e perigoso, e não devemos levar esses movimentos na brincadeira. Mas, ainda me valendo da tipologia de Rosanvallon, a “democracia polarizada” instalada nos países que você cita se diferenciaria do que o historiador chama de “democracia essencialista”, que teve sua maior expressão nas experiências totalitárias do comunismo e do nazismo no século XX. Certo, a “democracia polarizada” compraz-se na denúncia de “inimigos” como imigrantes, comunistas imaginários, usuários de drogas, militantes pela legalização do aborto, gays etc., todos denunciados como pondo em risco as tradições e a “comunidade orgânica” da nação. Em que pese isso, parece ainda estarmos longe da “democracia essencialista” adotada pelo nazismo e pelo comunismo.
Para argumentar, vou pular fora do que ocorre nesses países, cuja dinâmica desconheço quase inteiramente, e me reportar ao que aconteceu no nosso próprio país durante os quatro anos da presidência de Bolsonaro. Foi, sem dúvida alguma, uma “democracia polarizada”. Uma divisa que apareceu no 7 de Setembro de 2021 entre os apoiadores do presidente em manifestações claramente golpistas – “Eu autorizo!” – é uma boa ilustração da hostilidade dos adeptos da democracia polarizada às instituições da democracia formal e do próprio estado de direito. Mas, para mim, importa destacar que, apesar desse plebiscitarismo típico das democracias polarizadas, entre nós conseguiu-se por um dique às pretensões autoritárias do presidente Bolsonaro pela atuação dos outros atores em jogo, notadamente o Poder Judiciário, certamente, mas também parte relevante da imprensa e da comunidade científica. Aqui, a vontade do presidente Bolsonaro – ou seja, o poder – não conseguiu prevalecer contra o saber e a lei. Darei, em seguida, dois exemplos, ambos referidos à questão da pandemia da Covid e, respectivamente, dizendo respeito a uma e outra instâncias.
A instância do saber: quando, depois da queda do ministro Henrique Mandetta e da nomeação do general (com jeito de sargentão da revista Recruta Zero) Pazuello para o Ministério da Saúde, o governo tentou tratar os dados referentes à pandemia de modo a minimizar sua gravidade, formou-se um “consórcio de imprensa” que passou a divulgar dados independentemente do poder. Até hoje, é a esses dados que as pessoas se dirigem para saber a quantas anda o vírus entre nós.
A instância da lei. Quando, alguns meses depois de instalada a pandemia, ficou evidente que a estratégia da União era, como diria Michel Foucault, “deixar morrer” para que pudéssemos chegar à chamada imunidade de rebanho, o STF decidiu que os outros entes federativos, Estados e Municípios, tinham competência concorrente para legislar sobre a matéria, liberando prefeitos e governadores (que viam pessoas morrendo em corredores de hospitais superlotados, enquanto o presidente tentava administrar cloroquina às emas do Alvorada) para assumir tarefas independentemente do poder. Por essas e outras é que, malgrado tudo, pode-se considerar que a sociedade brasileira permaneceu democrática durante o quadriênio tenebroso do presidente Bolsonaro, porque, voltando a usar um termo lefortiano, ela se mostrou “indomesticável”.
Isso não significa dizer que não corremos perigo – que, aliás, continua nos rondando, como prova essa tentativa de golpe no dia 8 de janeiro último, onde uma malta aparentemente constituída em sua maioria por uma massa de manobra de idiotas úteis tentou tomar de assalto a Praça dos Três Poderes. É uma turba herdeira dos gritos de “Eu autorizo!” de 2021. Mas o quê?
Pensando livremente em alguns dos feitos mais notáveis (utilizando o termo no sentido literal daquilo que mais se nota) do então governo Bolsonaro, na época me perguntei a que se referia essa “autorização”: liberar irrestritamente as armas de fogo? Prender comunistas? Matar bandidos? Privatizar as estatais? Incentivar a devastação ambiental? Escrachar o movimento LGBT? Cooptar militares oferecendo-lhes “boquinhas”? Livrar a cara da “república das rachadinhas”? Continuar a desacreditar a eficácia das medidas sanitárias contra a Covid? Tudo sempre me pareceu muito insensato e confuso. Tanto mais que o ultraliberalismo de Guedes sempre foi impopular, o próprio Bolsonaro nunca a ele aderiu, e não resistiu à gastança que foi necessário promover na tentativa de se reeleger. Pensando bem, a única política pública de Bolsonaro que deu certo foi a do liberô geral da armas de fogo no país, medida que nunca contou com o apoio do contingente eleitoral evangélico, o seu forte. De um ponto de vista simbólico, o nosso equivalente da “raça ariana” no caso do nazismo e da “classe proletária” no caso comunismo foi (e continua sendo) uma vaga noção de “cidadãos de bem”! Mas, apesar disso tudo (ou seria graças a isso tudo?), o candidato Bolsonaro, com um “programa” desses, perdeu as eleições de 2022 por menos de 2% do eleitorado… Foi por pouco. Mas é isso. Como Lefort sempre advertiu, é próprio dos regimes democráticos serem permanentemente postos à prova pela “tentação totalitária. Parodiando Guimarães Rosa, viver em democracia é muito perigoso!
Isso dito, e para concluir, acho que se faz necessária uma reflexão final sobre a legitimidade da “divisão social” e dos “conflitos” numa sociedade democrática. A meu ver, a perspectiva lefortiana da legitimidade do debate sobre o que é legítimo, ou não, nos deixa de certa forma desarmados diante de uma questão importante: que demandas não seriam legítimas numa sociedade democrática? Esse não é um assunto que ele explore teoricamente. Na prática, entretanto, ele riscou uma linha no chão quando se defrontou com uma questão concreta: as eleições legislativas na Argélia em 1992, interrompidas por um golpe de estado naquele país.
No primeiro turno, uma Frente Islâmica de Salvação teve um crescimento surpreendente e avassalador, e a perspectiva de que o segundo turno a levaria ao poder não era mera projeção, era uma certeza. A Frente pregava a criação de um estado teocrático semelhante ao dos Talibãs e assumia claramente que, ganhando as eleições, iria suprimi-las. Um de seus porta-vozes não escondia seu desprezo pela chamada soberania popular: “Se o povo vota contra a lei de Deus, isso nada mais é do que uma blasfêmia. É preciso matar esses incréus pela simples razão de que eles querem substituir a vontade de Deus pela deles”. Resultado: o exército interveio e acabou com a festa, anulando as eleições. Para minha surpresa inicial, Claude Lefort, numa entrevista, apoiou o golpe! E não hesitou em assumir o apoio com todas as letras:
Trata-se, de toda evidência, de um golpe de estado […] as eleições legislativas haviam criado uma situação extrema, que não se pode julgar com os critérios que se aplicam em tempos normais. Chamo de extrema uma situação na qual são ameaçadas […] as liberdades fundamentais que são constitutivas de uma verdadeira sociedade política.
E disse mais:
Nenhuma preocupação com a legalidade formal deve impedir de barrar o caminho a um inimigo que está prestes a destruir nossos valores fundamentais. A opinião da maioria, contrariamente a uma tese espalhada e perversa, não pode ser um critério absoluto para julgar o caráter democrático de um regime. A democracia supõe a aceitação da pluralidade dos interesses e das crenças, e o respeito aos direitos humanos. Nenhuma maioria pode arrogar-se a onipotência e impor sua lei ao conjunto da população.
Passado o susto inicial, concordei e concordo com ele. Foi frente a uma “verdade efetiva das coisas”, e não num plano meramente teórico, que Lefort enunciou um limite que, nas democracias, não pode ser ultrapassado: não é legítimo valer-se de suas instituições para dar cabo dela.



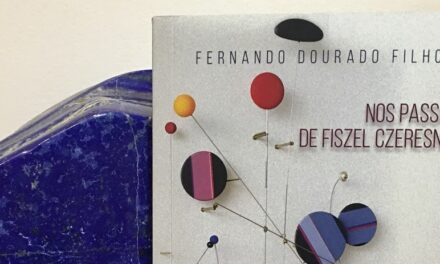










João / Luciano
Essa conversa é um refrigério de inteligência e conhecimento nesses tempos trevosos. Alta densidade por cm2. Meus cumprimentos.
Valeu Homero, visite o site do Instituto em http://www.iepfd.org