
Allende
40 dias intensos.
No terceiro dia de liberdade fomos, finalmente, liberados, após sermos devidamente documentados com um papel que só era aceito como identidade no próprio Chile e que, portanto, restringia a liberdade de viajar. Eu nem fiz questão do dito papelucho e me dirigi, logo na primeira manhã de portões desaferrolhados, para a embaixada Suíça, que ficava no Centro de Santiago, em uma das muitas transversais da Alameda Bernardo O’Higgins, e cujo nome me escapa.
Antes de sair do hogar recebi a visita do José Serra, o representante da AP no Chile. O Serra já tinha uma pinta parecida com a que tem hoje. Já era totalmente careca, com os olhos esbugalhados e uma boca que, no Rio de Janeiro, chamamos mole. Nos cumprimentamos meio formalmente e ele me informou que a Marijane, a Márcia e a Marta tinham chegado um dia antes de nós e que o Travassos tinha chegado alguns dias antes, mas estava isolado em um aparelho “por segurança”. Ele me deu algum dinheiro, pois eu não tinha absolutamente nada além da roupa do corpo. Nem escova e pasta de dentes eu tinha. A roupa, com quatro dias de uso sem desodorante já causava reações estranhas entre pessoas que se aproximavam. Lavava a camisa e a cueca de noite esperando que secassem até a manhã seguinte. Foi um alívio poder comprar alguns produtos de higiene e uma muda de roupa. Logo chegaria, pela mãe da Nancy, uma das primeiras a ir ver os filhos no Chile, uma malinha mandada pela minha mãe que não podia deixar o seu emprego para ir me ver.
Voltando ao Serra, ele criou alguns empecilhos para um encontro com o Travassos, mas acabou aceitando marcar um ponto, se bem me lembro, na praça Zañartu, no dia seguinte. Criou mais uns outros problemas para um encontro com as três Ms, mas também cedeu e me deu o endereço da casa onde estavam albergadas. E me disse que estava esperando uma orientação da direção da AP para saber o que fazer comigo. Ficou um tanto ansioso quando lhe disse que tinha meus próprios planos para o futuro imediato e que depois conversaríamos.
Fui recebido pelo embaixador, cujo nome me pareceu familiar, Dominicé. Ele confirmou que tinha sido cônsul no Brasil e conhecido os meus pais. Mas apesar disto, não se mostrou mais do que seca e formalmente eficiente. Claramente, ele não tinha a menor simpatia por mim, mesmo sabendo que eu não tinha responsabilidades com os grupos armados e com os sequestradores do seu colega no Brasil. Saí da embaixada com o passaporte tirado na hora e a oferta de uma passagem para a Suíça quando eu quisesse viajar. Esta “oferta”, não era um presente, mas um crédito e isto só ficou claro para mim quando, meses mais tarde, minha avó argentino/suíça recebeu a cobrança da passagem emitida no meu nome. Sem dinheiro para bancar o longo voo entre Santiago e Zurich, passando por New York para evitar uma escala no Brasil, a velhinha entrou em pânico e mandou a conta para os meus pais no Brasil. Só fui saber do rolo meses depois e paguei esta passagem durante alguns anos, devolvendo a grana para os meus velhos e mantendo o princípio de não fazê-los pagar pelas minhas opções políticas.
Com o passaporte novinho em folha e, melhor do que tudo, sem que nele constasse qualquer referência ao Brasil, senti-me invulnerável, dono de poderes mágicos. De fato, este passaporte foi um tremendo talismã ao longo de todo o meu exílio. Com ele entrei em todos os países do mundo que quis visitar e em apenas um deles deu ruim: na Inglaterra, mas isto é outra história que não tem a ver com o Chile.
O abraço no Luiz na praça Zañartu foi emocionado para ambos. No nosso último encontro tínhamos nos despedido na praça da cidadezinha de Ibiúna depois de caminharmos em fila indiana desde a fazenda onde se realizava o XXX congresso da UNE, interrompido pela repressão. O Luiz foi reconhecido por um agente do DOPS paulista que, felizmente para mim, me ignorou. Segui meu rumo no meio da massa de mais de 800 estudantes, para escapar da prisão via Paraná e dirigir os esforços da AP para conquistar a diretoria da UNE.
Contamos os nossos itinerários, que incluíam prisão e troca em sequestros sendo que ele teve um longo ano de exílio em Cuba e um perigoso périplo pelo mundo até chegar a Santiago. Os cubanos fizeram uma sacanagem com o Luiz, apoderando-se dos três passaportes que a AP, desde Paris, tinha mandado para que ele pudesse sair da ilha. Acabaram entregando um passaporte de um militante conhecido da ALN onde apenas a foto foi trocada. Como é que ele passou pela fronteira da Áustria vindo de Moscou para tomar o voo para Santiago é algo que desafia a sorte, pois o passaporte tinha o nome verdadeiro de um militante para lá de “queimado”. Os cubanos não tinham a menor simpatia pela AP, que depois de uns anos de namoro com o regime cubano tinha rompido e denunciado o foquismo quando aderiu ao maoísmo. Segundo me contou o Betinho, que representou a AP em Cuba depois do golpe de 64, os cubanos tinham ficado impressionados com a devolução do dinheiro doado para a criação de um foco guerrilheiro pela AP.
Em Cuba, o Luiz foi isolado do grupo dos banidos que para lá se dirigiram após serem soltos no México. Só conseguiu participar do treinamento guerrilheiro do grupo pela intervenção dos companheiros, puxada pelo Vladimir. Depois do treinamento ele foi hospedado no Hotel Nacional por quase um ano, sem contato com outros brasileiros até conseguir os meios e a permissão para viajar.
Luiz estava em processo de ruptura com a AP, namorando as organizações da luta armada e muito discutimos sobre os rumos a tomar. Eu estava disposto a partir para a Europa e usar o meu passaporte recém adquirido para fazer uma campanha de denúncia dos crimes da ditadura, mas não pretendia romper com a AP, apesar das minhas muitas contradições com a opção maoísta do partido. Esta posição foi reforçada pela proposta do “comando” dos 70, que me propôs fazer esta campanha em nome do nosso grupo de banidos. Aceitei a missão, com a condição de que a campanha fosse feita com a participação da AP.
Nosso papo na praça terminou com a nossa visita ao aparelho chileno, arranjado pelo Serra, onde estavam albergadas as três Ms, Marijane, Márcia e Marta. Era uma simpática casinha em Vitacura e lá os dois amantes, Luiz e Mari, se reencontraram, reclamando muito dos desnecessários segredos que os tinham mantido separados por uns dias a mais.
O reencontro com as três foi outra festa, com aquela sensação intraduzível de alívio e segurança, depois de anos de clandestinidade e prisões. A euforia chilena com o novo governo colocava esperanças que nos contaminavam, apesar de, como gatos escaldados, sempre nos perguntássemos se ia durar. Talvez estivéssemos tomados pelo pessimismo da dona Letícia, mãe de Napoleão, que no dia do seu coroamento como imperador todo poderoso comentou, em francês carregado de acento corso: “pourvu que ça dure” ou, em bom português, tomara que dure.
Serra não gostou de termos violado as suas recomendações de segurança, mas engoliu a afronta e passou a discutir comigo e com o Luíz o destino que a AP nos reservava. “O partido vai mandá-los para a China. A missão é formá-los em táticas e técnicas de guerrilha, mas sobretudo, prepará-los em um curso de Estado Maior do Exército Popular de Libertação”. Desconfiado, perguntei quanto tempo estes cursos levariam e Serra respondeu que seriam pelo menos dois anos. Olhei para o Luiz e nem pensei duas vezes. “Estou fora disso. Estado Maior de qual exército? Acham mesmo que em dois anos, ou mesmo que em dez, teremos um exército popular com dimensões suficientes para necessitar de um Estado Maior? A direção da AP pirou da batatinha ou está pensando em nos afastar da luta interna no partido”. Luiz disse o mesmo de forma ainda mais peremptória quando o Serra afirmou que era um comando a ser obedecido. “Já decidi partir para a Europa e começar uma campanha de denúncias da ditadura, aproveitando que o meu passaporte me permite circular e o fato de que falo, embora meio enferrujado, francês e inglês”. Serra concordou que era uma opção interessante e que ia apoiá-la no seu contato com a direção da AP. Resolvi dar um tempo até ter o apoio formal do partido, mas decidido a romper se insistissem na história do estado maior.
Luiz queria voltar para o Brasil, mas andava namorando os partidos da luta armada e pronto para deixar a AP. Discuti com ele que a minha avaliação era muito pessimista e que a luta armada estava no caminho da derrota e uma volta ao Brasil naquelas circunstâncias era como marcar um encontro com a morte. Continuamos discutindo estas opções até a minha partida para a Suíça no fim de fevereiro. Marijane tendia a fechar comigo e criticava o que chamava de ilusões do Luiz.
Enquanto esperava a resposta da direção da AP eu seguia vivendo no hogar, que ia aos poucos se esvaziando com a saída de vários dos 70 para outros aparelhos ou mesmo para viagens de treinamento guerrilheiro, em Cuba ou, mais tarde um pouco, na Coreia do Norte.
O comando dos 70 decidiu que devíamos usar o tempo para nos prepararmos para o combate. Eu esperava que o nosso tempo disponível seria usado para discussões políticas, em particular para avaliarmos os problemas da luta armada, que pretendia ser rural e que estava confinada na área urbana. Na Ilha das Flores travamos inúmeras discussões, envolvendo, na nossa cela 424, militantes da AP (eu e o Mario Fonseca, jornalista de São Paulo e operário em uma metalúrgica da zona norte do Rio), do PCBR (Nicolau Abrantes, membro da direção do partido), da VAR (Jaime Cardoso, ex-dirigente do movimento secundarista), do MAR (José Duarte, ex-cabo da marinha e da direção do movimento dos marinheiros em 1964 e guerrilheiro treinado em Cuba) e Jorge Vale (bancário e não partidário). Os pegas sobre a viabilidade da luta armada eram constantes e lembro de uma vez em que desafiei os guerrilheiros a definirem como viam a criação de uma força armada revolucionária. Cada um falou da forma de iniciar a luta nas áreas rurais, enfatizando a necessidade de escolher regiões de difícil acesso pelas forças armadas da ditadura, como a Amazônia. Em todas as propostas tudo começava com um grupo armado externo, vindo das cidades, fazendo ações de “propaganda armada” junto aos agricultores. Era o modelo cubano do foco guerrilheiro que o Regis Debray tinha idealizado e divulgado, mais do que os escritos do Che, embora o último exemplo da aplicação desta estratégia tivesse resultado no extermínio da guerrilha na Bolívia, e na morte do Che. Mas no hogar não se discutia política e o comando insistiu na necessidade da preparação física. Fui convocado como instrutor de ginástica, indicado pela turma da Ilha das Flores, onde eu tinha este papel.
Todos os dias, às 6 da matina, partíamos para os amplos espaços do parque Cousiño e fazíamos uma hora de exercícios. Alguns de nós ainda nadávamos uma meia hora na piscina gelada. Depois de uma semana o grupo foi minguando e só os mais disciplinados permaneceram. No fim de um exercício, estava recolhendo o material que usávamos quando fui abordado pelo Bona, gaúcho simpático e discreto, um dos dirigentes da VPR no hogar. Começou por elogiar o trabalho de preparação física e me perguntou como tinha aprendido. “Fiz muito exercício em preparação esportiva, natação e vôlei”, respondi. “E também no treinamento de contra-guerrilha no corpo de fuzileiros navais onde fui tenente”. Os olhos do Bona brilharam e ele passou o braço nos meus ombros e disse: “companheiro, precisamos conversar”. Anos depois, passado o surto militarista, eu e o Bona compartilhamos a primeira coordenação do Comitê de Anistia de Paris e aí discutimos muita política, em geral com grandes convergências. Mas no Chile os valores eram outros e o que atraiu o Bona e outros militantes da luta armada foi a minha experiência como militar.
(continua)


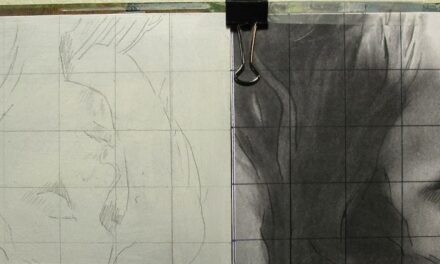












comentários recentes