Ivanildo Sampaio >
Já são 49 anos, mas um dia como aquele a gente nunca esquece. Eu, calouro, recém-ingressado na Universidade, vinha acompanhando aqueles dias de março com a mesma preocupação que tinham os de minha idade – ou seja, nenhuma. Isso, apesar das greves trabalhistas que tumultuavam o Recife, dos discursos radicais estimulados pelo PCB, de uma certa apreensão que se sentia na sociedade, especialmente por conta da pregação nacionalista de Leonel Brizola e das posições mais extremadas do deputado Francisco Julião, que entre outras coisas queria a reforma agrária “na lei ou na marra”. Deve ser dito que eu concordava com tudo aquilo, me alinhava, na Universidade, com as correntes mais à esquerda, combatia o que chamávamos de “burguesia”, execrávamos os “barões” da atividade canavieira e as poucas multinacionais que atuavam no Estado. Na noite do dia 31 de março, findas as aulas, tomei o último ônibus na Rua do Príncipe, desci na avenida Guararapes e ouvi, quase sem querer, um diálogo travado entre o general Justino Alves Bastos e o presidente João Goulart, via Italcable, cujo escritório era colado ao antigo Café Nicola, bem ao lado do Bar Savoy. Justino dizia ao presidente que “aqui no Recife está tudo bem, está tudo sob controle, o senhor não precisa se preocupar”.
Quem não precisava se preocupar era eu, que segui rumo à Rua Direita, para a “república de estudantes” onde morava. No dia seguinte, acordamos com os tanques na rua. Ávidos por informações, buscávamos o noticiário das rádios. Algumas já estavam sob censura. Decretou-se feriado bancário, as repartições públicas fecharam, eu e outros companheiros, meio perdidos, fomos até a Universidade Católica em busca de luz e guia, até porque ninguém sabia o que de fato estava acontecendo, embora todos soubéssemos que estava acontecendo alguma coisa. No final da Avenida Guararapes, esquina com a Dantas Barreto, tropas do Exército isolavam lá atrás o Palácio do Governo, onde morava e despachava o governador Miguel Arraes. Na Universidade Católica, soubemos que os diretórios estudantis haviam convocado uma passeata “em defesa da normalidade”. A passeata deveria sair da antiga Escola de Engenharia, localizada na Rua do Hospicio. Fui para lá, mas a essa altura eu quase não conhecia ninguém: havia gente de todas as tribos, estudantes dos mais variados cursos, secundaristas, universitários, agitadores, o diabo. E a passeata saiu. Caminhamos pela Rua do Hospício até chegarmos à Praça Maciel Pinheiro, de lá tomamos à rua da Imperatriz e continuamos em frente, com o objetivo de chegar ao Palácio das Princesas, para hipotecar nossa solidariedade ao governador. Não se sabe de onde, logo no início da caminhada apareceram três bandeiras, duas de Pernambuco e uma bandeira do Brasil. Com cada uma dessas bandeiras passando de mão em mão, seguíamos cantando o Hino Nacional e dando gritos de “viva a liberdade”. A medida que a passeata avançava, as lojas ao longo do percurso iam fechando as portas, talvez conscientes de que aquilo não ia acabar bem. Final da Rua Nova, em frente de uma loja chamada Remilet, a bandeira brasileira veio para as minhas mãos. Dobramos à esquerda, passamos em frente à Igreja de Santo Antonio e continuamos. Do lado lado direito, com as mesas arriadas, estava o bar Brahma Chopp; do lago esquerdo, o edifício Santo Albino. De um lado ao outro, tomando toda a avenida, tropas do Exército, ninhos de metralhadora, soldados em posição de combate. E a gente marchando… Eu, à frente, com a bandeira de Pernambuco, dois estudantes quase no mesmo plano com as outras duas bandeiras. E o Grupo, a essa altura, já não era tão grande quanto o que dera largada à passeata.
Quando chegamos perto, mostrando nossa intenção de furar a barreira, um oficial que nunca vou saber a patente, gritou, com rispidez:
-“ Alto lá! Nem mais um passo!”
Cantando o Hino Nacional, nós insistimos. E veio a ordem: “Abrir fogo”. E começou o pipocar das balas.
Joguei a bandeira de lado e corri de volta, o coração estourando de bater e quando olhei de relance vi dois corpos caídos e a multidão se dispersando em todas as direções. Atabalhoado, corri até a Praça da Independência e subi pela Primeiro de Março. No sentido contrário, estavam vindo, a cavalo, soldados do Batalhão de Cavalaria da PM . Dei meia volta e busquei a rua Duque de Caxias. Na esquina da Praça 17 havia, então, o Café São Paulo – uma torrefação de grãos bastante popular mas que estava, também, com as portas arriadas. Ofegante e Já diminuindo a correria vi, sentada num dos batentes do café, uma jovem gemendo e arfando, com a mão colocada acima do peito e o sangue jorrando por uma marca de bala. Parei, tirei do bolso um lenço e pedi que ela colocasse sobre o ferimento. Nessa altura, os soldados da Cavalaria já apontavam no início da Duque de Caxias. A moça, com o olhar perdido, gemia, o sangue jorrava, eu deixei com ela meu lanço e mais uma vez corri em busca de abrigo. Cheguei ao Pátio do Livramento, desci pela Rua Direita subi as escadas do número 74, onde ficada nossa república. Os soldados não haviam acompanhado a minha correria. O resto é história. Dois jovens mortos, assassinados em nome da democracia, alguns feridos, os sonhos de liberdade sepultados. Os militares derrubaram o Governo Goulart, o governador Miguel Arraes manteve a dignidade, foi deposto e preso, o Brasil ingressou num regime ditatorial que se prolongou por 21 anos. Eu nunca soube quem era aquela moça, se morreu ou se sobreviveu, algumas pessoas que viveram aquele momento, com quem às vezes troquei reminiscências, nunca identificaram quem poderia ser a bela jovem, que vi silenciosa e de olhar perdido. Espero que ela tenha sobrevivido e que possa contar aos netos como ganhou de um jovem desconhecido o lenço que tentou estancar seu sangue e os sonhos da juventude que também ajudaram na construção de um novo horizonte.
Ivanildo Sampaio é jornalista
Este texto é parte da Série 1964 – Memórias de Abril, um resgate coletivo e fragmentado da história.



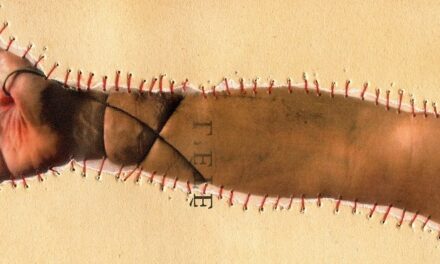










Está sendo importante conhecermos via retalhos distintos, tantas brutalidades iniciadas naquele dia depois revelado começo de período tão nefasto.
Não sabia que, além de Jonas e Ivan, alguem mais tinha sido ferido naquele tiroteio mas era de esperar que tanta bala tivesse atingido mais alguém mesmo pessoas que não tivessem participando diretamente. A cronica de Ivanildo Sampaio mostra este aspecto da manifestação e permite na possibilidade de outras pessoas atingidas. Como seria bom que esta jovem baseada há 49 anos aparecesse e encontrasse o jovem Ivanildo que ofereceu o lenço e o afeto solidario daquele fatídico dia. Belo e sentido depoimento.
Belo texto sobre aqueles tempo. Muito bom mesmo. Me fez recordar meus tempos de aluno na UFRJ, quando conheci o que gás lacrimogêneo pela primeira vez, no Largo da Carioca. Comecei a chorar e não sabia por quê. Depois que vi as tropas vindo pela Av. Rio Branco em cima dos estudantes.
Caro Ivanildo,
Você omitiu, em sua crônica, um fato de que tenho conhecimento (v. mesmo me contou) e que merece registro.
Você tinha um amigo de ginásio, natural de Brejinho, distrito de São José do Egito, filho de barbeiro e doméstica, que estava entre os soldados que atiraram contra nós. Ele prestava serviço militar e foi mobilizado para a operação. Cumpria o seu dever. Mas reconheceu você na linha de frente da passeata, e levantou a mira da metralhadora para poupar a sua vida. Alguns anos depois, ele mesmo lhe revelou o acontecido, em conversa de calçada, na sua cidade natal. Já não é vivo para confirmar o fato, mas deve figurar entre os que merecem o nosso respeito e a nossa homenagem. Manoel Muniz de Brito era o seu nome, e que seja lembrado e louvado por todos nós.