Quem quiser reconhecer um alemão no restaurante, no avião ou em qualquer lugar público onde comensais de várias nacionalidades estejam reunidos, não será preciso sequer lhes escutar as vozes para identificar os praticantes do idioma de Goethe. Basta procurar os indivíduos que abrem o pão em duas bandas e, diligentemente, besuntem ambos os lados de manteiga, espalhando-a uniformemente. Em hipótese alguma – e aqui reside o traço tedesco -, eles fraudarão o procedimento e atropelarão esse rito tão meticuloso quanto ginasiano. Latinos, em geral, só à guisa de comparação, cortariam o pão em fatias grosseiras e, antes de levá-las à boca, as cobririam com requeijão ou as mergulhariam na geleia. Árabes fariam o mesmo na pasta de grão de bico, na coalhada seca ou no babaganuche. Se, antes do fim, faltar pão para o recheio ou recheio para o pão, azar. Mas no caso dos bons germânicos, esse regramento é de lei. Com a manteiga atapetando uniformemente a superfície que vai do miolo à casca, se garante prazer perene e regular a cada mordida, e, assim, se chega ao fim. Logo, não haverá nacos premiados com excessos nem tampouco superfícies deserdadas de uma cobertura condigna. É claro que o princípio vale para tudo que seja espalhável e untuoso.
Outra característica inconfundível do jeito alemão de ser, vem à tona na sobremesa. Mousses e flans serão submetidos a escrutínio meticuloso, digno de Lineu ao classificar plantas, ou de um geólogo na boca da mina. Avaliada a textura, profundidade e viscosidade da guloseima, eles escolherão a colher certa, como faz o golfista com o taco. E, não importa a idade que tenham, gênero ou a inclinação sexual que professem, o mais provável é que segurem-na como se fossem bebês testando os primeiros movimentos rotatórios em ambiente controlável. Não, não ria. Até o presidente da Volkswagen embarca nessa pantomima. Es schmeckt gut, murmurarão. Então, dando início a outro rito bem ensaiado, eles mostrarão técnica. Se forem tomar um iogurte ou sorvete, por exemplo, percorrerão as bordas com a ponta do talher e, só depois da sexta tentativa de imersão, explorarão a zona central do potinho. Levarão sempre a colher à boca como fazem as crianças: emborcada, com a parte convexa voltada para o véu palatino. Sacudirão então os joelhos um contra o outro e parecerão regredir. Quem diria, um homem de milhões de euros de salário à beira do gugu-dada? Eles acham que ninguém está percebendo e, cá entre nós, até Angela Merkel é capaz de agir assim.
Há ainda os que mergulham a colher na sobremesa e se contentarão em levá-la à boca e lamber-lhe com estudada displicência. O próprio Herr Fassbender, amigo do patrão, agia assim. É como se houvesse uma erotização do momento; uma carnavalização lúdica do ato de comer doce. À custa de observá-los, concluí que essa parte da refeição era, historicamente, um prêmio a que faziam jus quando ainda usavam calças curtas e, obedientes, tinham comido as batatas até o fim. Ou o Gulasch da avó Frida. Logo agiam feito cãezinhos agradecidos porque se sentiam premiados. E isso ficou, ora. Já ao comer doces secos, tais bolos e tortas, alemães serão tão criteriosos com o chantilly quanto o são com a manteiga no pão. Uma planilha internalizada tratará de harmonizar cada garfada a uma porção de Sahne. Tudo para que acabem ao mesmo tempo – o prato e o acompanhamento. Milk shakes e similares também pedem critério. Um deles é aspirar sempre as bolhinhas das bordas para que o sorvete derreta em paralelo ao leite. Eles jamais mergulharão um canudo no meio do copo e começarão a sorvê-lo duto acima, como numa plataforma de petróleo. O prazer tem que ser constante e duradouro. Quase tântrico. Daí serem elas, surpreendentemente, grandes amantes.
*
Tive o privilégio de trabalhar por mais de trinta anos para uma família muito culta e acolhedora. Logo devo admitir que cheguei mais longe do que poderia ter pensado. Não digo isso por ter amealhado dinheiro para presentear parentes com a casa própria e lhes dar, vez por outra, o capital para começar um negócio – destino dos cearenses empedernidos, como eu. Não. O grande privilégio foi ter privado da inteligência do patrão e de tê-lo visto exercer seu ofício com arte e sagacidade. Digo arte porque era um homem que parecia dignificar tudo o que fazia. Do bom dia que dava a Ruy, o motorista, ao uísque que tomava, tudo que emanava dele realçava e envolvia. Isso fascinava e, vez por outra, incomodava. Se sagacidade é uma palavra em desuso, e associada a uma esperteza finória, prefiro retirá-la e substituí-la por visão, já que era do feitio dele enxergar o amanhã como um profeta; e agir no aqui e agora com a presteza de um marechal de campo. Se avaliou mal alguma coisa, não viveu para lhe atestar os desdobramentos negativos. Mas foi assim que ele conseguiu ter uma vida de monarca sem coroa. Que soube construir um nome mundial e ter um filho adorável que, infelizmente, não soube acolher com alegria. O mais impressionante é que galgou a glória sem nunca ter derramado uma gota de sangue alheio – traço comovente. Para manter uma criação de cabras, meu avô Eunápio não pôde se dar ao desfrute de manter as mãos limpas.
Falar do dinheiro que ganhei a seu serviço a essa altura, é uma enorme bobagem e uma discrepância falaciosa. De que me valia economizar sessenta ou setenta mil dólares por ano, se quase nunca tinha ocasião de gastá-los? Qual era a serventia de uma quantia que nada significava diante do padrão de vida que me era dado desfrutar? Até os livros da biblioteca pessoal do patrão, eu podia pegar livremente. Li primeiras edições raras. Uma delas foi a obra completa de Rousseau, comprada em um sebo de Genebra, e cujo valor sustentaria uma família de trinta bocas por dois anos no meu rincão natal. Quanto à música, perdi a conta das vezes em que ganhei ingresso para acompanhá-lo à ópera, o que no começo me causava algum constrangimento. Mas foi com essas mãos, em que hoje percebo as primeiras manchas azuladas, que servi Kiri te kanawa, Pavarotti e o próprio Lorin Maazel, durante anos um discreto frequentador de nossa residência. Digo, da casa da família que servi e cujo nome me proibi de declinar. De quanto eu não teria precisado para pagar os voos de jato e helicóptero que nos levaram a três continentes e dezenas de países? Não, o dinheiro que ganhei pode até estar bem guardado, mas o tesouro maior é aquele que trago entre os ombros.
*
Ingleses costumam ser pessoas engraçadas. Mas, e aqui vai uma recomendação, para apreciá-los plenamente se impõe entender a língua, elevada hoje a moeda de troca mundial. Assim, podemos lhe desfrutar as sutilezas e, até mesmo, aproveitar melhor o lado não-verbal da conversação – objeto último das reflexões de um serviçal treinado para não falar nem ser percebido. Destarte, mesmo para quem ignora leitura labial, vale destacar os lordes, adeptos do chamado stiff upper lip, e os que mais divertem o patrão com a fleuma forçada que afetam. Se não usam mais chapéu coco, estes observam a tradição a ponto de não movimentar o lábio superior ao falar, mesmo que talibãs tenham invadido Buckingham. Em igual medida, esses homens de valentia camuflada, porém inegável, podem discorrer sobre um massacre hediondo no coração do Estado Islâmico e nada, rigorosamente nada, em seus gestos atestará indignação. É como se tudo pudesse ser esperado de certo tipo de bárbaros. O lábio superior permanecerá onde ficará quando o ilustre for velado em capela ardente. Imóvel, ele cumprirá, simplesmente, a missão de evitar que narinas e boca formem uma só cavidade antes da hora. Da fenda preguiçosa, sairão breves interjeições monocórdias, emitidas com parcimônia de emoção.
Já nos salões, uma forma recomendável de identificá-los é lhes acompanhar a movimentação da cabeça. Pois a balançam não raro como lagartixas sob lâmpadas fosforescentes. Descendo para uma dimensão mais pândega, contudo, certo é que eles são careteiros. Basta ver o apresentador da meteorologia da BBC. No momento em que descreve borrascas ou chuvas esparsas, um ar de desolação lhe perpassará o rosto. O cenho ficará franzido; a boca entrará em regime de economia e funcionará só pela metade, como se ele tivesse sofrendo um mal circulatório grave em pleno ar. Mas, para nosso alívio, o desconforto dura pouco. Pois não tardará o momento em que ele anunciará um dia ensolarado – nem que seja nos distantes Emirados. Nessa hora, então, agindo como se ele próprio fosse desfrutar do sol da avenida Atlântica ou do frescor de Alexandria, abrirá um sorriso com três quartos da boca, e gesticulará, contrito, como se tivessem acabado de lhe propor um aumento. Ou, melhor ainda, uma editoria de cobertura de crimes hediondos.
Outra circunstância em que os britânicos são inconfundíveis é na atitude atestada ao receber os pratos no restaurante. Seja onde for, na serenidade do The Connaught – nosso favorito – ou num gorduroso Fish and Chips de Liverpool, um inglês sempre olhará o prato alheio e, num átimo, estabelecerá comparações de custo-benefício entre ambos. Fez a escolha certa? Quanto menos gosta da aparência da torta de rim, contudo, maior será o empenho em provar o contrário. É aqui que entra o fair play, quintessência dos maiores inventores de jogos. Sendo assim, balançar a cabeça enquanto fala e modular os movimentos de acordo com a ênfase que pede a boa comunicação, é outro desses desportes. Servi vários que costumavam entrecerrar as pálpebras nervosamente, como se sofressem de tique ou estivessem entrando em transe. Trata-se de uma tática – quase hitchcockiana – para nuançar sentimentos. Os cílios baterão ao ritmo de voo de colibri e, por trás deles, só se verão as órbitas brancas enquanto a mensagem verbal mantém o curso. O patrão dizia que era nessa hora que entravam em temas financeiros, passado o small talk.
Quando sentados, a postura é espigada. Eretos, muitos observam a posição dez para as duas com os pés. No balcão dos bares, ficarão horas ao lado de um copo de cerveja, sem temer que ele absorva a temperatura ambiente. Rápidos na avaliação das origens, em dois tempos identificam um estrangeiro pelo sotaque. Ou mesmo um conterrâneo britânico, cuja educação formal ficará patente em sílabas. Todo esforço será recompensado quando atentamos para o irrefreável humor autodepreciativo que é de lei. Nada diverte tanto o patrão que, malandramente, adere ao jogo e risca no ar pistas confusas. Raramente, contudo, um inglês contará uma piada com um sorriso antecipatório, como fazem os portugueses, pois ela perderia a graça. Quando causa grande efeito, contudo, para mostrar que não passaram ao largo da zona de contágio, eles vão rir. Mas não com a boca escancarada – a ortodontia é dividendo recente. Eles o farão tomando um gole de bebida e sacudindo o tronco para cima e para baixo, como se o humor tivesse explodido em algum ponto interno do tórax e estivesse trilhando o longo caminho que leva à expectoração pela boca.
Nada, nada, porém, será tão patético quanto os traços faciais de um inglês ao fazer uma declaração de amor. Já tive o duvidoso privilégio de ver uma cena dessas em que uma jovem banqueira foi a Julieta da noite. Aconteceu na sacada interna do hotel Westminster, de Paris, na rue de la Paix, nos idos dos anos 80, antes de adquirimos a propriedade da Avenue Foch. Corrijo, antes de o patrão adquiri-la. Nesse terreno, o casal de Shakespeare deixou uma marca indelével no jeito ilhéu de realçar os sentimentos, e todo cuidado deveria ser tomado para evitar sucumbir ao ridículo. Pois da confissão do amor resultam caretas tão desconexas que a noiva geralmente não se furtará ao sim, mas pensará depois no caso. Aquele lapso devocional, não raro embriagado, poderá significar o ponto de inflexão do casal em formação. De simpático, o pretendente pode transpor o limiar do patético. Ela o poupará de humilhações; aceitará o anel de safira e conversará a respeito com uma amiga chamada Sarah, no chá do Ritz. É possível que dali saia convencida de que casar não é morrer e que um pouco de estabilidade dará cores novas à mobília, finalidade ao aparelho uterino e alguns ginetes nas baias. E que nada a impedirá de acorrer a um serviçal taciturno. Coisas de Lady Chartterley e o guarda-caça.
*
Meu patrão estava bem num dia e morto no outro. Nunca me perdoei por não ter detectado um sintoma que indicasse estar ele tão perto do fim; e que este seria fulminante. O mais desconcertante foi que a morte não adveio de uma parada cardíaca ou de um derrame. Tampouco de acidente. Ele apenas se queixou de uma dor na altura da nuca, mas tratou de atribuir o incômodo à posição em que cochilara na espreguiçadeira de Angra dos Reis. Quase não dormi naquela noite e acho que ele tampouco. No dia seguinte pela manhã, lhe tomei a temperatura e o bom homem ardia de febre. O comandante Bueno nos levou para o Rio sem tardança e, com as primeiras luzes da manhã, pousávamos na clínica da Gávea. Sequer pude lhe trocar o pijama porque já o enfiaram naqueles trajes patéticos da terapia intensiva. Meu patrão morreu de meningite, assim disseram. Nunca imaginei que, entrado nos 60 anos, eu pudesse vir a sentir tanto a falta de alguém. Pensando pelo lado dele, a morte prematura foi um castigo imerecido. Digo isso porque ele só sabia fazer o bem: tanto para si – falava da importância de cuidar-se, na perspectiva de um grande filósofo alemão -, quanto para os outros. No mais completo anonimato.
Depois do sepultamento, me recolhi por algumas semanas na propriedade da Serra, e sequer me animei a visitar os meus no Ceará. Se é que assim podia denominá-los. Os primeiros dias foram lancinantes. Com quem conversar sobre o papel orientador das elites na construção da sociedade? Com quem desabafar sobre o valor real que eu atribuía ao povo? Para quem mais imprimir pela manhã o clipping com o noticiário do mundo? Para quem temperaria uma fatia de salmão escocês com alcaparra e cebola picada à hora de dormir? O que seria feito de dezenas de ternos de Saville Row, imaculadamente alinhados em closets espalhados por quatro endereços no mundo? São as tais pequenas coisas que fazem da vida grande. E, no entanto, eu sabia que tinha por missão levá-la adiante. Meus atos e meu luto eram estranhamente dissociados, mas assim ficava melhor. Olhando-me no espelho, afinal, vi que o convívio me fizera bem. Aprendera com o patrão a ter ojeriza às dobras de gordura abdominais. Elas dizem muito do laxismo de alguns e dos maus hábitos. Por uma estranha razão, perdera a cabeça achatada de meus ancestrais e o penteado para cima fazia dela oblonga. Meus olhos cor de oliva sempre foram vivazes e aprendi a cultivar um sorriso confiante sem ser insolente, traço fatal para meu ofício.
Apenas um par de meses mais tarde, a Condessa – ela fazia questão que todos os serviçais a tratassem pelo título paterno -, agora viúva, me pediu para acompanhá-la à residência de Vevey. Fui bastante claro: só iria por alguns meses. Orientaria os empregados domésticos da propriedade, quase todos portugueses de há muito radicados na Suíça e já familiarizados com ela, e com o ciclo íntimo de frequentadores de ocasião – formado por banqueiros, chefes de estado, embaixadores aposentados e um ou outro marchand. Depois disso, voltaria para o Brasil e, possivelmente, para a Serra, onde descansaria de uma vida devotada ao bem-estar de um homem probo. Quem sabe não investiria numa pequena pousada em Itaipava, como ele recomendava. Poderia também visitar alguns países que tinham me marcado de forma especial. Era o caso da Turquia e do Marrocos. O dinheiro rendera e até no testamento fora contemplado. Mas tudo isso podia – e devia – esperar. E acho que fiz bem em não me apressar. Digo-o porque a vida foi dando voltas e certo é que, sem que sentisse a passagem do tempo, semana passada se cumpriu o décimo aniversário da morte do grande banqueiro. Uma cerimônia discreta foi celebrada no Brasil e o culto principal aconteceu aqui em Genebra, nessa Suíça que adotamos. Foi lá que recebemos velhos dignatários que não me negaram um cumprimento respeitoso. Noblesse oblige.
*
Reconhecer um francês pelo não-verbal é missão simples, quase amadora. Ora, nenhuma língua, salvo o turco, pede que o falante faça tantas vezes boca de cone. Ademais, tirando o biquinho que empresta sensualidade às mulheres, o francês de rua usa e abusa de onomatopeias de gosto duvidoso para se safar de situações corriqueiras. É claro, sempre coreografadas por uma gesticulação de suporte. Assim, dificilmente eles dizem eu não sei. Seja por má vontade, soberba, desprezo pelo tema ou em reação a um sentimento de impotência por não poder ser útil, eles arquearão os ombros, esticarão o lábio inferior e ritmarão o corpo para frente e para trás, como faria um judeu ortodoxo ao pé do Muro das Lamentações. Por fim, quando achamos que a tração mecânica vai parir a informação, ele deixará escapar o ar comprimido pela comissura dos lábios, sob forma do que, em nossa cultura, soaria como uma flatulência inodora, porém sempre sonora e persistente. O universal e aclamado je ne sais pas, não virá. Só o barulho caótico do ar a empurrar os lábios trêmulos. Inevitavelmente, assomará um hálito de vinho tinto.
Já numa situação em que eles queiram demonstrar descontentamento, a boca ganhará o aspecto proverbial de cu de galinha – expressão chula, pela qual rogo o perdão do leitor -, e por ela transitará um sopro prolongado que, vindo do fundo da alma, imitará uma caldeira a ponto de estourar, ou o silvo remoto de um turbo-hélice das antigas em aproximação para o pouso. Ato concomitante, nessas horas eles reviram os olhos e miram o teto, ou o céu, para plena obtenção do efeito dramático pretendido. Já a admiração e o estímulo, os chamados retornos positivos, tampouco são traduzidos em palavras. É claro que num concerto espocarão alguns bravo guturais, acompanhados de aplausos ritmados. Mas como a vida não se toca em ritmo de sinfônica, como dizia Herr Maazel, o comum mesmo é que eles arqueiem as sobrancelhas e assoviem um apito. Sem ser seco como o dos guardas de trânsito, este obedecerá a uma nota longa, e pode até ser modulada, a depender da saúde pulmonar do emissor. Ouvia-o muito na adega do patrão. Significa admiração.
Foi nas corridas de cavalo de Auteuil que atentei para as formas francesas de dizer que estão de partida. Sendo o interlocutor em questão um gaulês de estirpe, ele anunciará que está de saída com um gesto estranhíssimo. Espalmará uma das mãos e posicionará os dedos fechados da outra em forma de vela náutica. Fará então um movimento rápido de três acenos de ida e volta e emitirá dois assobios curtos. Substitui assim os tantos verbos criados para esse uso. Conquanto sejam formais e mantenham alguma distância física, uma ocorrência deixará o não-iniciado atônito. Quando se chega ao aeroporto na hora de troca de turnos de controladores de passaporte, a turma rendida e a que chega se cumprimentará calorosamente. E não só individualmente. Pois cada um percorrerá toda a bateria de guichês. E os colegas deixarão os sicários da Charlie Hebdo passar despercebidos para reciprocar o cumprimento deslocado. Há valores caros à França no aperto de dedos dos homens e nos sonoros bisous que espocarão em torno das moças. e aqui vale ressaltar como meu patrão enxerga longe.
Ora, não podendo haver hora mais inapropriada para uma confraternização longa e que se dá às expensas dos passageiros, ele julga que o momento-ternura se deve a um treinamento para que não se engalfinhem em ódio mútuo. Afinal, estão armados. Algum consultor sugeriu que a repetição desse rito reforçava os valores republicanos, dava senso de fraternité a pessoas que estão na linha de frente de recepção aos elementos hostis que chegam de fora. Acarinhar-se soldaria laços de solidarité e limaria ranços hierárquicos em nome da égalité. Só mesmo o patrão para ver tanta poesia num ritual despropositado. Como se pode concluir, todas essas pantomimas expressam, no fundo, a opção de buscar a individualização. Questão de liberté. São essas mesmas pessoas que me cumprimentam por falar francês sem sotaque ou sans accent – fato incomum entre eles próprios. Ou alguém pensa que um marselhês fala como um parisiense? Esse galardão que coroa décadas de familiaridade com o idioma, seria risível nos Estados Unidos onde ter um sotaque de origem é de praxe.
Nesse contexto, até Secretários de Estado o têm e, na paz de meus bastidores, ri muito do inglês germanizado de Henry Kissinger, comensal habitué de nosso penthouse da Park Avenue. Digo, do apartamento de meu patrão. Ocorre que no seio de uma sociedade onde o idioma é a porta de entrada para o coração da cultura, caso da francesa, sequer muito dinheiro poderá substituir o primado linguístico. Salvo, talvez, nas lojas da avenue Montaigne, onde um American Express Platinum valerá um diploma Summa cum Laude. Por grato que o país tenha sido ao talento de Zidane, a elite local não hesita em se queixar de seu sotaque de subúrbio. Nesse terreno, jamais deixam de louvar o accent parisiense da Condessa que, tendo passado temporadas de férias em Deauville, se esmera em cantarolar todas as sílabas. Como faria, segundo ela, Emma Bovary. Que, essa é sua tese, teria muito a ganhar se, na ficção em que navega, tivesse conhecido Constance Chatterley, a czarina Catarina II e, por que não, ela própria. De tanto amar Paris, foi lá deu à luz a nosso filho. Digo, ao herdeiro do casal elegante e circunspecto que formou durante tantas décadas enquanto o patrão esteve entre nós.
*
A Condessa de há muito virou Louise, née von Mettenheim, minha esposa, e meus pequenos planos de aposentadoria, como se vê, não se realizaram. Não, não foi fácil desposar a ex-patroa. Mas sei que de pouco adianta discorrer a respeito. Não obstante os juízos menores que se possam fazer sobre mim, até por parte de familiares que ajudei à distância a criar, resolvi publicar, por ocasião desse aniversário, os pequenos textos acima. Acostumado a lidar com miríade de culturas e sendo um linguista muito mais aplicado do que eu próprio me tornaria, o velho Afrânio – é assim que Louise insiste para que eu me refira a ele – se divertia com as observações que eu fazia sobre as pessoas que costumávamos receber e, creio eu, as achava úteis. Ora, tê-lo tido como leitor foi uma distinção. E um consolo de consciência antecipado por algum mal que lhe viesse a causar um dia. Entrado nos setenta anos, ao ver impressas essas reflexões, volto a dias felizes como são todos aqueles consagrados ao aprendizado. Dedico-os também a Louise que, superando os obstáculos, foi sensível aos apelos do destino e, ao modo dela, lhe deu um empurrãozinho prussiano. E, por fim, ao jovem banqueiro e herdeiro que, vivendo em Nova York, vez por outra nos vem visitar. Vendo-o chegar num Audi salpicado de neve alpina, lembro de seu bisavô Eunápio que pastoreava cabras na caatinga e sonhava grande. O que pensaria desse bisneto?
***




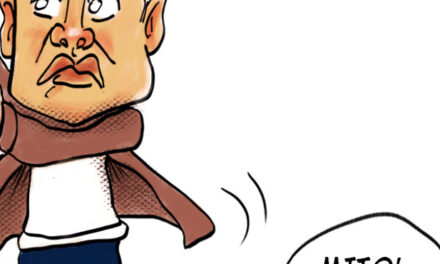












Experiência de vida, argùcia de observação, sensibilidade, são os ingredientes para um belo texto como esse.
Mudei o “mouse” para o lado esquerdo do teclado, pois o braço esquerdo já está atacado pela velha L.E.R. Que jeito?
Retifico: o braço direito é o que está temporariamente afetado.
Prezado Clemente,
Tenho uma cisma cinquentenária com o mês de agosto. À medida que nos aproximamos do fim, sinto um alívio. Mas nessa primeira quinzena, eis que já tenho dois registros positivos para compensar as rebordosas. O primeiro foi tê-lo conhecido pessoalmente. O segundo foi ver que fizeste uma gambiarra tecnológica em casa para navegar pela mente brumosa do mordomo Apolônio. Creia-me, fiquei feliz e lisonjeado.
Abraço,
Fernando
Amigo Fernando,
Muito gostosa a sua crônica de hoje,parabéns.
Forte abraço,
Rogerio
Obrigado, Rogerio.
Quem melhor do que o amigo para entender as sutilezas do personagem? Cunhado de dois ilustres embaixadores, família oriunda das finanças e da agro-indústria na Boa Terra, folgo em ver que curtiste essa alegoria não de todo inverossímil.
Abraço,
Fernando
Oi Fernando,
Que delicia! Machado de Assis com certeza sentou com você pra escrever o texto.
Adorei, li de um fôlego só e dei muita risada.
Quem sabe vira um romance?
Beijo grande,
Great!
Obrigada e beijos!
É engraçado, divertido de ler. E, repito mais uma vez, Fernando Dourado escreve maravilhosamente bem. Mas….. Será? Será que não tem mais imaginação que observação? Acho que estou viciada em buscar “O Mundo na Ficção” e, além do mais, desde pré-adolescente sempre indago Será? Quando fiz primeira comunhão, aos 10 ou 11 anos, andei do altar até a saída da igreja com a ostea na boca pensando todo o tempo: vou morder essa ostea para ver se é verdade o que disse a professora, que “ela é o corpo e o sangue de Jesus Cristo” (foi o que disse a professora do primário lá em Santos). Será? Eu vivi quase 3 anos em Cambridge, England, e quase 5 anos entre Hamburgo e Kiel. Mas meus personagens locais não eram bem assim, então não consigo deixar de observar: será que é boa essa caricatura? Até que mais ou menos aceitei a caricatura dos alemães e suas sobremesas, pois quando criança a gente às vezes ganhava doce como prêmio:”se vocês falarem alemão a tarde toda ganham um doce de leite”. Mas não era chique como os personagens de Dourado, era de leite condensado, e era em Santos.
Amigos,
Quem se candidata a vir em socorro desse escriba diante das reminiscências mais do que legítimas de nossa querida Helga?
Quem entende bem dos limites da liberdade ficcional e das licenças que nos faculta a realidade concreta? João Rego, habilite-se. Acessas atalhos à montanha por muitos camimnhos.
Outra que podia acorrer seria Teresa, nossa editora-chefe, ultimamente tão silenciosa aqui nessas páginas que ajuda a triar e formatar. Seria uma solidariedade entre garanhunhenses.
Fernando Mota Lima, acho que a bola está quicando também em sua quadra. Você pode nos dar régua e compasso sobre essas fronteiras e nos dizer onde a retina de Apolônio e a do autor se confundem. Homem de tantas praias, sei que essa não é estranha a um intelectual de seu calibre.
Vamos lá, ainda é domingo. Todos já protestaram a cota da semana.
Aquele abraço,
Fernando
Caro Fernando:
Vejo a ficção literária como uma extraordinária forma de ver – ou de reconstruir pela escrita? – o nosso mundo. No seu caso, somos brindados periodicamente com textos que nos transportam a lugares e emoções valiosas.
A criação literária, por ter seus fortes laços com o que foi vivido pelo escritor, muitas vezes exige um enorme esforço para sair de dentro dele. Lembro de Ferreira Gullar, em uma entrevista, dizendo que a sensação dele, após concluir um poema, era de enorme alívio e dizia que quando publicava pensava que estava passando a bola para o leitor “Toma que o filho agora é teu” – desligando-se para sempre daquela obra.
É uma importante lição a ser seguida e que, tenho certeza, nosso especialista Fernando da Mota Lima, concordaria. Assim como a obra de arte o texto causa efeitos distintos em distintas pessoas. Você conseguiu evocar em Helga lembranças da infância dela em Santos. Atingiu um importante objetivo.
Quanto mais formos explicar ou defender uma obra de ficção mais poder ela perde em fazer efeito no imaginário do leitor.
Tinha um colega que sempre que eu contava uma piada ele pegava um caderninho e me dizia “Conta de novo, conta de novo!”. Era a cosia mais sem graça do mundo.
Não “conte de novo” seus excelentes textos.
Um forte abraço
J.Rego
Nunca sei onde começam e terminam os personagens ficcionais do Dourado. Com tanta bagagem a distribuir, só mesmo inventando pessoas e histórias para dar vida a este arcabouço imenso… é como se Fernando não desse conta de ser só ele! Adorei!
Querida Andréa,
É quase impossível não te dar razão.
Gostei da ideia dos clones espalhados por aí.
Obrigado por aparecer nesse espaço mais uma vez.
Fernando
Fernando,
Muito bom !
Vc tem o dom da palavra! Parabéns!
Carinhosamente ,
Lídia e Cezar
Querida amiga Embaixatriz,
Sempre um grande prazer saber que você e Cezar prestigiam com sua leitura esse escriba desmazelado.
Ontem mesmo pensei em vocês porque estou em Chicago, logo bem pertinho. Recomende-me a nosso Embaixador e, se estiverem por essa região nesses dias de verão quente, é só avisar. Seria uma alegria revê-los.
Abraço,
FD
Obrigada Fernando. Gostei muito. Levarei comigo até Berlim as reflexões de Apolônio sobre os alemães já que lá estarei no próximo sábado. Bjs,
Márcia
Ótimo, querida, obrigado.
Observe os berlinenses e me diga depois se o mordomo tem alguma razão. Desconfio que seja um tipo meio sinistro, de qualquer forma.
Beijo e boa viagem,
Fernando
Caro Dourado,
Li, deliciado, os textos do Apolônio! Para mim, você sempre foi escritor. “O escritor não toma as palavras, é tomado por elas.” Karl Kraus.
Se tivesse que dar um depoimento sobre você como cronista, diria: o cronista Fernando Dourado tem isto de exuberante: o colorido da narração e um vocabulário tão rico quanto refinado. Tempera-lhe o estilo um humor que, à falta de melhor adjetivo, podemos chamar de anglo-brasileiro. O convívio cosmopolita com várias culturas – tão profissional quanto apaixonado – fornece-lhe a matéria-prima dos seus textos. Textos em que sempre vislumbramos o prazer da escrita e o gosto maroto de nos supreender. Eis, em poucas palavras, o cronista que já nos acostumou, por força de seu talento, a frequentá-lo com a assiduidade que merece.
Grande abraço,
Paulo Gustavo, escritor e Mestre em Teoria da Literatura
Prezado Paulo Gustavo,
Não posso deixar de registrar aqui minha alegria com seu testemunho. Se pensarmos bem, assim é há mais de 45 anos, quando, lá no Aplicação, você afirmava em tom inequívoco que seu compromisso era com as letras. Imagine o que não era ouvir isso da boca de um menino de 12 anos. Enquanto a maioria sonhava com as três profissões imperiais, você dizia com serenidade perturbadora que o universo da língua portuguesa era grande o bastante para abrigá-lo, preenchê-lo e enfeitiçá-lo.
Sem jamais ter tido sua coragem, talento e desassombro, me refugiei em certo limbo e nele estou até hoje. É portanto uma alegria quando o vejo reaparecer e estender uma mão amiga a quem é só um garimpeiro do ofício. Por oportuno, a alegria de vê-lo entrar na Academia Pernambucana de Letras logo mais em setembro é o coroamento da admiração sincera que lhe devoto. Daí sempre tê-lo achado um dos poucos homens perenemente felizes que conheci. Que assim permaneça.
Um abraço,
Fernando
Muito obrigado, João Rego. Como eu desconfiava, você tinha um bom conselho para dar. E é difícil não concordar tanto no caso específico – porque já logrou um resultado palpável na memória de Helga, logo cumpriu a finalidade com que veio ao mundo -, tanto no terreno genérico em que, em se tratando de um texto que não lida com a realidade objetiva e verificável, é admissível que desague nas entrelinhas da incerteza. Em suma, como vês, posso até ser um escritor amador. Mas jamais me arvorar de conhecedor de Teoria da Literatura.
Para Helga, contudo, sem querer “explicar a ficção” , e em consideração à generosidade de suas intervenções em meus textos, faço um pequeno comentário. Afinal, não estamos aqui como acadêmicos, mas como amigos que se apóiam. Não sei discernir o que é exagero, caricatura ou imaginação. Começo a elaborar o personagem a partir de traços esparsos, ancorados em algum ponto da memória, e ele vai ganhando vida própria. Passado esse limiar, a gente já não tem controle sobre quase nada da História. Vira transe, juro. É esse o grande barato de escrever ficção – é droga lícita, inodora e incolor, embora cause dependência e aliene pelas horas que toma.
Lembra um episódio narrado por Jorge Amado com relação a “D. Flor e seus dois maridos”. Em dado momento, o autor chama e esposa e confidente literária e diz, tomado de perplexidade : “Zélia, corre aqui. Veja só o que essa danada de Flor está fazendo. Quem diria, tão certinha e não é que virou uma sem vergonha?” Em tempo: um mordomo não vive com pessoas comuns como eu e a maioria dos leitores. Logo é normal que ombreie com personagens que nutram uma leitura do mundo a partir de uma lente muito própria, entre frívola e aloof. Os serviçais, por necessidade de empatia, incorporam essa mundivivência – palavrinha filha da mãe para nossa mais conhecida Weltanchauung.
Foi sua observação bem calibrada, contudo, que levantou o debate em minha mente de amador – onde ainda não tinha chegado – e só tenho a agradecer. Para um sujeito que não está em nenhuma rede social e que só interage eletronicamente por meio de raros e-mails, essa faceta da experiência em Será constitui um profícuo aprendizado. É praticamente o único fórum em que estou envolvido. Daí ser um carente que gosta de aprofundar pontos de vista um pouco além do que pediria uma publicação eletrônica. No frigir dos ovos, graças a discussões como essa, sinto que cresço. Nem que seja à custa da paciência alheia. Danke sehr.
Fernando
Perceber a crônica quinzenal do nosso amigo Fernando dentre as outras mensagens do meu correio eletrônico é como perceber uma orquídea que brota espontaneamente junto aos arbustos.
Obrigado Fernando.
Fernando novamente nos brinda com uma mescla de ficção e observação da realidade. Um vastíssimo conhecimento das culturas estrangeiras e de sua própria cultura.Uma enorme bagagem que o permite perambular pelos diversos estilos de escrita. Existe algum povo, alguma cultura que Fernando ainda não conheça? Esquimós, talvez? 🙂
Obrigado, Tamara. Muitas delas conheci pelas suas mãos, é bom que se diga.
A propósito, quem se interessar mais pelo tema das culturas em seu dia a dia, começo no dia 17 de setembro uma série de 4 conferências na Casa do saber, de São Paulo, a respeito. O programa detalhado está no site da instituição.
Como Será tem amplo público na capital paulista, fica o lembrete para aprofundarmos as discussões. Que, por sinal, não têm necessariamente a ver com as digressões desse estranho mordomo Apolônio.
Beijo,
Fernando
Hoje é que cheguei ao mordomo de Fernando. Das duas uma: ou ele já foi mordomo e eu não sabia ou ele já teve um a serviço, também uma novidade. Seja como patrão ou empregado, as observações bem humoradas sobre os traços dos povos são a diversão maior dessa pessoa que a gente pensa que conhece. Ele pode ficar uma tarde toda sentado numa cadeira vendo o povo passar e fazendo comentários. Quem está do lado termina se envolvendo e fazendo igual.
Lavínia,
Fico feliz em saber que meus hábitos excêntricos contagiam. Efetivamente, já estive mais perto de ser mordomo do que jamais estarei de ter um. Mas a imaginação já me serve a contento. Se você quer saber mais sobre o resultado das observações, abra o link abaixo. Você vai se divertir. De cara, você já tem a autoria da foto.
http://www.amanha.com.br/posts/view/1047/como-fazer-negcios-com-a-aldeia-global
Beijo,
Fernando
Her Dourado, Adorei a leitura. Engraçado , leve e profundo! Abc, Duca.
Abu,
Salam aleikum!
Que bom ter notícias do Califado de Petrolina nessa tarde de sexta-feira de uma São Paulo chuvosa e feia. Tê-lo como leitor ilustre das barrancas do Velho Chico (anda meio sem água, né?) me enche de alegria. Pena que não estejas por aqui para prosear sobre o Brasil, essa telenovela quase mexicana onde até um Don Mercadante temos.
Viste Geddel aqui semana passada? Pois é, nos deu uma exclusiva e saímos na frente da grande imprensa. Como Pais, estamos a um passo do cadafalso. No mesmo pé que a Bulgária (coincidência genética ou modelo de gestão balcânico?), Indonésia, Turquia e Rússia. Só 48 horas mais tarde, Michel falaria da sobrevivência política Dela com tão baixos índices de popularidade. Sei não. Pobre Levy. Está enxovalhando uma biografia opaca, mas bem arrumada. Quando voltar para o Bradesco, vai ter que frequentar o programa de treinee lá em Osasco para reciclagem. Até Delfim está lavando as mãos, imagine.
Como somos mesmo é do time da boa prosa, leia então na edição que saiu hoje o “Latitudes” – belamente ilustrado por João Rego, com duas das boas coisas desse mundo: Cognac e charuto. Depois diga o que achou. Sua opinião é importante como parceiro de viagens a 4 continentes e tantos países. Divulgue-o para nossos amigos (Augusto, Rafael, Genoveva e Tequinha). Eu não tenho o e-mail de quase ninguém, sou do tempo da Internet a lenha.
Grande abraço e bom fim de semana,
Fernando
.