
Estudantes de Radolfzell.
Radolfzell
Quando cheguei a Radolfzell, era abril e a primavera tinha me antecedido em alguns dias. O Bodensee – o lago de Constança – começava a se preparar para a grande festa do verão, muito embora ainda estivéssemos a mais de 60 dias de calendário do início oficial. Mas, francamente, o que são dois meses para um alemão? Nada, é quase ontem para quem o planejamento tem o fascínio de um esporte olímpico. Pela primeira vez em muito tempo, eu me permitia circular de dia sem agasalho e, como é comum às energias reprimidas, um ou outro mais ousado já tirava a camisa ao meio-dia, ainda que a bravata só durasse escassos minutos. A estação ferroviária de Radolfzell ficava a um quarto de hora de caminhada do jardim público e contava com seis plataformas, as duas últimas quase à beira do grande lago que assinalava a fronteira natural entre a Alemanha, Áustria e Suíça. Central à vida alemã, o trem cobria Konstanz, Lindau e Singen, com conexões fáceis para Stuttgart, Zurique e a Basileia. Logo conheci as sonoras cataratas de Schaffhausen, na Suíça, e a pequenina Stein-am-Rhein, que assinala a nascente do rio Reno. Mais tarde, faria a primeira viagem à Floresta Negra, mas as expectativas em Friburgo não se materializaram a contento em função da neve tardia, que deu o ar da graça bem às portas de maio. Enfim, eram acidentes de primavera, humores das estações.
Minha nova residência ficava a quinze minutos de bicicleta do Goethe-Institut, que funcionava numa mansarda de três andares, a que se acoplava um anexo, acessado até hoje por uma passarela metálica. Confiante no bom alemão que já vinha falando, constatei com alívio que acontecia aquilo de que chegara a duvidar seriamente, qual seja, que as declinações do idioma já me saíam da boca com espontaneidade, sem que eu tivesse que parar para pensar nos artigos “der, die, das”. Tampouco me incomodavam mais as regras de uso dos verbos modais, que condenavam a ação a ser a última palavra das frases intermináveis. Algo como: “Eu gostaria de hoje ao final da tarde com Lisa ao cinema do centro da cidade ir“. A única desvantagem da proficiência linguística é que quanto mais avançamos, menos nos damos conta do processo de aprendizado, já que o idioma se incorpora à nossa natureza de forma tal que não conseguimos mais nos ouvir com ouvidos estrangeiros. Em Radolfzell, meu quarto não era tão aconchegante quanto o de Rothenburg-ob-der-Tauber, mas creio que isso se devia à chegada dos dias quentes. Minha Hausfrau era uma mulher rústica e de poucas prendas. Falava com o forte sotaque daquela zona de Baden-Württemberg, o que me disseram ser uma espécie de dialeto suábio. A qualquer hora do dia, ela vestia uma camisola frouxa e, pelas cavas das axilas felpudas, divisavam-se os seios flácidos que não combinavam, na minha compreensão, com o olhar meio libidinoso com que me fuzilava. Eu tinha mesmo muito a aprender na vida.
Se Rothenburg-ob-der-Tauber era de topografia acidentada em sua feição de burgo medieval, e não comportava bicicleta na cidadela de paralelepípedos, não era o caso de Radolfzell, onde as pedaladas à beira do lago eram de praxe, especialmente à medida que a primavera avançava e que podíamos deixar a roupa mais pesada em casa. Nessa etapa, já estava bem acostumado aos ritos da vida independente. Comprava laticínios que estocava na janela do sótão, suco de frutas, cerveja, e comia salsichas no trailer do iugoslavo, bem diante da estação. Dessa primeira etapa na cidade – haveria uma segunda mais adiante -, tenho especial lembrança de uma sul-africana sôfrega que conseguia me tirar do prumo só com um olhar. Desengonçada de corpo, mas linda de rosto, levava-me vez por outra até a casa que tinha em Meersburg, não longe dali, e mal saíamos do carro, já íamos tirando a roupa, como se o mundo fosse acabar a qualquer momento. Uma vez, perturbamos a concentração do escritor Frederick Forsyth, hóspede frequente da propriedade e amigo daquela família de judeus de Durban. “Hi Fred, sorry for the mess“, disse ela. Eu simplesmente adorava a atitude sexual daquela mulher, uns seis anos confessos mais velha do que eu, embora vez por outra a irreverência dela me soasse meio desconcertante. Mais tarde conheceria alguns adultos que teimavam em permanecer infantis e se reconheciam como tais sem nenhum complexo, por puro comodismo. Era o caso dela.
Como acontece em qualquer temporada de estudo digna do nome, os professores contavam demais. Em Rothenburg, gostara especialmente de Herr Kappel, um homem alto, de ventre proeminente, ex-professor do Goethe em Estocolmo, na Suécia, terra que venerava. Com toda a reserva que costumam ter os alemães para falar de assuntos considerados íntimos ou pessoais, ele não obedecia à regra. Contou-nos de forma pausada que, ao cabo da Guerra, tinha perdido todos os parentes. Prisioneiro na França, foi liberado com a condição de que cuspisse na suástica nazista. Aparentemente, isso não lhe custou o menor esforço. Como não tinha mais qualquer referencial doméstico, aceitou o convite de uma família católica da Normandia para cuidar das poucas vacas e do campo. Assim ficou durante dois anos na propriedade. Aprendeu bom francês e foi o tempo de cauterizar as enormes feridas que trazia na alma. Só então voltou à Alemanha e foi atrás da escolaridade perdida. Numa época em que isso ainda era tema tabu – apenas 30 anos depois da Guerra -, foi um baita desabafo e ele ganhou minha simpatia nesse dia. Mas ali onde eu agora estava, Herr Kappel era só uma lembrança e deu lugar a Herr Knobel, fumante de cachimbo, metódico e, diziam, provindo do Leste.
As professoras, Frau Jacobi e Frau Tortur, eram menos inspiradas, mas cada uma deixou sua marca. A primeira coxeava e usava um sapato com enorme salto para compensar a perna mais curta. Tinha a voz encorpada das fumantes e não se separava de um pacote de cigarros HB. Protótipo da solteirona com histórico farto de rejeição, Frau Jacobi se escandalizava com qualquer erro dos alunos e conseguia dar aulas monótonas em tom dramático, sem qualquer dividendo didático. Ninguém gostava da desventurada mulher. Um dia, banhada de pó do giz com que recheava a lousa, escorregou e se estatelou no chão com toda a força do corpo malemolente. Foi terrível. Muitos não contiveram a vontade de rir – eu estava entre eles -, mas nos levantamos para a delicada operação de colocá-la de pé. O suíço-italiano Angelo, que mais se empenhou em ajudá-la, ganhou um agradecimento bizarro: “Já estou bem, não seja patético, me largue. Tenho horror a inspirar piedade”. Já Frau Tortur, uma filóloga muito ilustrada, passava boa parte da aula a checar seus próprios conhecimentos em vários idiomas, dando sinônimos das palavras ensinadas em árabe, latim, espanhol, russo, polonês, grego, português e assim por diante. Era uma mulher também árida, descarnada, de óculos de tartaruga e ar de beata de interior. Mas sabia rir de vez em quando, apesar do sobrenome que soava funesto em várias línguas.
Toujours Paris
Lá pelo mês de maio, quando o calor chegou de vez durante o dia e os folguedos no lago se confundiam com o ronco dos motores e as risadas estridentes, recebi um telegrama de papai que me instruía a ir a Paris por alguns dias para lá recepcionar seu amigo Alfredo Amaral, da revenda Chevrolet Frutos Dias, de Salvador, pessoa que ele adorava. Acompanhado da esposa, o bom baiano queria uma trégua numa excursão que já durava um mês, durante a qual percorrera dez países, visitando igrejas e museus a ponto de saturar. Queria deixar o grupo na última escala, mas só teria confiança de fazê-lo se estivesse em boa companhia. Enfim, para mim poucos encargos poderiam ter sido tão encantadores quanto esse. Um colega de escola ia visitar a família e me ofereceu uma carona. Bem de vida, dispensou a ajuda para o combustível que eu ofereci e atravessamos o Leste do país à noite, chegando à capital de madrugada. Ele então sugeriu que eu dormisse em sua casa, já que ninguém aparecera na sacada de meu primo, na rua Auguste Bartholdi, onde agora também vivia um bebê chamado Luizinho. Eu então me instalei num lindo apartamento no décimo-sexto arrondissement, considerado o local mais chique da cidade-luz. Em pleno governo Giscard, a sombra de Mitterrand já pairava sobre a França. No quarto, uma faixa dizia: “O socialismo significa antes de tudo, o nivelamento por baixo da cidadania”. Não gostei e sumi no dia seguinte enquanto todos dormiam. Sim, tinha mesmo muito a aprender na vida. Inclusive que não se subestima em vão o vaticínio das velhas fortunas. Elas enxergam longe porque têm mais a perder.
O casal baiano estava hospedado no Hilton, ao lado da Torre Eiffel. Dez anos mais tarde, eu me tornaria habitué do endereço, o que garantia conforto americano em cenário francês, já que o inverso não seria nada tentador. Mas ainda faltava tempo para isso acontecer. Eu passava lá logo cedo, folheava os jornais e esperava-os descer para o café da manhã. Um dia, D. Maria percebeu um homem solitário, isolado numa mesa dos fundos, a estudar um croissant como quem contemplava um inseto fascinante, antes de levá-lo à boca. Parecia treinar uma performance. Não será que o conhecíamos de algum lugar? Claro, era o comediante Jerry Lewis, em temporada na cidade. A ordem era desintoxicar. Nada de museus, igrejas, catacumbas ou masmorras. Eles queriam ar puro, terraços iluminados, gente bonita e boa mesa. Sem o complexo brasileiro clássico de se esfolar vivo para não “dormir em moeda forte”. A cidade estava como eu a conhecera, em junho de 1973, anos antes. Seu Alfredo ficou grato a papai por ter deslocado seu jovem soldado em seu socorro e, voltando ao Brasil, fui intimado a passar uma semana em Salvador para lá receber as manifestações de gratidão. O único deslize foi ter cedido ao apelo de D. Maria para ver uma ópera em seu templo maior. Ele cochilou na frisa, e só se consolou do programa enfadonho graças aos copiosos sanduíches de salmão que roía durante a função, para espanto da família real da Noruega, nossa vizinha de camarote. A cada dez minutos, ele me perguntava: “Falta muito? Já pensou onde vamos jantar?”
E o Recife?
À distância, é claro que o Recife parecia mais convidativo do que de fato era. Embora não sucumbisse à melodia enganosa da mais brasileira das palavras – saudades -, evocava com romantismo a boa vida que deixara para trás, mas que estava guardada para mais adiante, possivelmente com prestígio reforçado, devido à bagagem internacional. Cuidava, mesmo à distância, para que meus pais permanecessem entretidos com minha agenda e, quem sabe, fossem menos belicosos entre si. Um terapeuta certa feita insinuou que meu exílio dourado foi uma tentativa de unir meus pais; ou de me poupar dos entreveros periódicos que os inflamava. Mas isso foi muito mais tarde. Se muitas das evocações idealizavam um paraíso tropical, nunca fui do time que se mortifica por falta de feijão com arroz, uma combinação, aliás, de que nunca gostei. Ademais, nem a melhor praia urbana do mundo substituía as delícias da independência e da mais irrestrita liberdade de locomoção a que poderia aspirar um jovem daquela época. Mesmo assim, as digitais do Recife estavam no fundo da retina, fato reforçado pela correspondência que mantinha com vários amigos. Relendo-a hoje, vejo que aduziam aos tipos populares que conhecia, e aos passeios que fazia ao centro da cidade. É certo que boa parte dos prazeres tinha a ver com a expatriação em curso. Idas ao aeroporto para ver aviões; aos consulados para pegar discos emprestados e peregrinações domingueiras ao cais do porto, onde certa feita fiquei preso na escadaria de um submarino da Marinha, devido ás pernas longas. De maneira que eu não me iludia: estava onde lutara para estar. O momento pedia pragmatismo e intensidade, meu traço identitário mais marcante.
Verão alemão, mais do que uma rima
Na escola, fiz alguns amigos novos. Nesse contexto, conheci bem dois israelenses que personificavam, sem que até então o soubesse, perfis ilustrativos de seu aguerrido país, que eu não tardaria a visitar. O primeiro deles era Pinchas Zimmerman, um tipo quieto e observador, que estudava filosofia em Haifa e era a moderação em pessoa. Não duvido que tivesse opiniões bastante claras a respeito de muitos temas que nos obcecavam, mas nada nele transparecia arrogância ou ansiedade. Pelo contrário, falava de suas fraquezas com naturalidade e nos divertíamos com a paixão que tinha por uma francesa casada, de nome Madeleine. Seu amigo mais próximo e antípoda, chamava-se Israel, um míope de bochechas rubras, cabelos espetados, sardas irregulares e uma eletricidade que o fazia disparar as palavras como dardos, sempre e quando se sentia no meio de um debate, ou seja, sempre. A exemplo de Zimmerman, era um rapaz culto. O que pesava em seu desfavor, contudo, era que sua intelectualidade não repousava sobre um lastro mínimo de serenidade. Quando contestado, ficava nervoso e se tornava professoral. Certa feita, gritou: “Eu sei tudo”. Ao que Pinchas me apaziguou, cúmplice: “Fernando, um judeu também tem o direito de ser idiota”.
É interessante que boa parte dos israelenses que conheci ao longo da vida, a começar por aqueles com quem conviveria em Israel dentro em breve, orbitavam de forma aproximada em torno de um desses polos. Não saberia dizer se esses paradigmas de comportamento e atitude se aplicam a todo jovem de toda cultura. Mas como Israel era, e continua sendo, fonte de grande curiosidade intelectual para mim – para não falar de certa satisfação emocional -, a experiência que tive com ambos foi marcante uma vez que eu estava, inconscientemente, preparando terreno para voar mais alto. Quando perguntado sobre política brasileira, por eles e pelos demais, eu fazia uma clivagem nítida entre o País dos militares e da ditadura, que então vivia os estertores, e o Brasil mágico e sedutor, alinhado ao conjunto de possibilidades que antevia para minha geração. Que engodo. Quanto engano. Toda semana eu recebia a “Veja”, expedida por papai e, vez por outra, ela vinha premiada com uns dólares, o que só me chamava à responsabilidade. O fato é que as remessas me davam fôlego para pretextar uma dilatação da permanência. Dinheiro, em definitivo, não ocupava um lugar central na vida. Eu era espartano – e gostaria de ter permanecido assim -, e sequer quando cogitava de uma profissão, pensava no quanto ela me renderia. Um turco me falou que eu poderia me tornar tão rico quanto Pelé. Fechei a cara e tomei o elogio como ofensa. Minha vida já era meu prêmio. Assim a vejo até hoje, nunca corri atrás de bônus em dinheiro sonante. Nisso continuo o mesmo.
Mas, é claro, esse desprendimento comportava nuanças. Sem querer converter meus dólares em marcos para depois ter que fazer o trajeto inverso e perder no câmbio, resolvi abrir uma conta na Suíça. Paramentei-me, botei o dinheiro na pasta e saltei na Bahnhofstrasse, em Zurique, em busca de um lugar seguro para minhas finanças. Coube ao Züricher Kantonalbank essa honra duvidosa. Expliquei a situação em alemão escorreito na recepção e causei impressão forte. O gerente a que fui encaminhado também se sentiu diante de um jovem milionário sul-americano. Quando percebeu que falávamos de meros cinco mil dólares, fez cara de desdém, xingou a secretária e me instruiu a me dirigir a qualquer caixa. Achasse ele pouco ou muito, era o que eu tinha e pretendia ainda espichar aquele orçamento por quase um ano. Certo é que saí de lá com uma conta corrente que mantive aberta, porém inativa, por alguns anos. Soubesse eu naquela época que minha vida adulta transcorreria num País que consagraria práticas vis, e que se tornaria sequioso em cutucar o fundo do bolso do contribuinte à procura dos frutos de seus maiores esforços, certamente teria mantido a conta e, mais do que isso, a teria abastecido com uns cobres ao longo da vida. Pelo menos teria construído um histórico com um banco que, pensando bem, até hoje está no mesmo lugar. Mas ainda era muito cedo para eu saber que todo homem tem obrigação de procurar pagar o mínimo de imposto possível. Naqueles dias, de fato, o que me interessava era me juntar à turma que ia nadar no lago e que gritava alto quando a pele quente era beijada pela água fria. Como foi bom viver a pleno aqueles dias ruidosos.

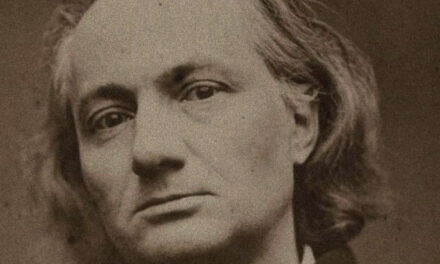













comentários recentes