
.
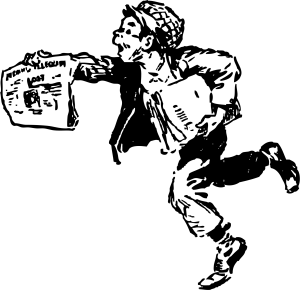
O dobre de finados já tangeu o primeiro mês de 2018, e o novo ano parece ir repetindo as “chacrinices” do velho: Lula vai para a cadeia, ou não vai? Luciano Huck vai para o trono, ou não vai? Ando cansado de tudo isso, e acho que muita gente também. Chamou-me a atenção fato de que a condenação de Lula não gerou nem panelaços da direita, nem uma daquelas manifestações da esquerda que terminavam com “black blocs” quebrando vidraças do Bradesco e a polícia baixando democraticamente o cacete em todo mundo. À parte explicações sociológicas mais sofisticadas para o (não) fenômeno, penso cá com meus botões que do mesmo jeito que não existe “revolução permanente” (Trotsky), também não existe “democracia permanente” (Oliveira)… Em resumo: malgrado tudo, a “República dos Bruzundangas”, como dizia Lima Barreto, vai bem, obrigado. Afinal, ninguém é de ferro e, “em fevereiro, tem carnaval” (Benjor).
***
Pois é justamente no carnaval de 2018 – ano em que poderemos ser condenados a escolher entre Lula e Huck para presidente – que inicio este “hebdomadário”. A palavra é esquisita. Mas os da minha geração (aqueles que se formaram cultural e politicamente entre o fim dos anos 60 e começo dos 70) talvez a conheçam ou dela se lembrem, se foram leitores d´O Pasquim. O jornal, um dos nossos respiradouros nos anos de sufoco do regime militar, qualificava a si próprio de “hebdomadário”, acho que para tirar sarro dos seus leitores. Não me lembro mais como (se deduzi, ou se consultei o dicionário) descobri que hebdomadário significava simplesmente, como adjetivo, semanal; como substantivo, semanário. E no momento em que pensei no título que daria a uma participação semanal nesta revista, veio-me a idéia de resgatar o espírito crítico e bem-humorado do Pasquim, chamando-a Hebdomadário da Corte. O “da Corte”, como o leitor talvez já tenha percebido, é uma piscadela ao “diário da corte” de Paulo Francis, que na época em que pontificava no jornal foi um dos gurus da geração a que pertenço. Claro, éramos todos de esquerda. E Paulo Francis, se já não era mais o trotskista que fora, tinha ainda uma sensibilidade de esquerda. Depois, vivendo nos Estados Unidos (de onde enviava seus “diários”), converteu-se ao capitalismo, convencido de que só uma economia de mercado produz riquezas. Como sempre foi um desmedido, terminou virando (ou interpretando…) uma espécie de bufão da direita mais desabrida. Isso não impediu que eu permanecesse sendo um leitor fiel seu, mesmo quando ele escrevia coisas que chegavam a chocar. Eu ria, e não o levava a sério.
O Paulo Francis por quem tinha respeito e admiração como que exalou o seu canto de cisne num livro precoce de memórias, O Afeto que se Encerra, que é de 1980, e que é uma espécie de divisor de águas entre o primeiro e o segundo Francis. Nesse livro, ele ainda chegou a escrever: “Aos 50 anos, politicamente, continuo, de coração, na esquerda” – confissão surpreendente para quem o conheceu como comentarista da Globo, “bobo da corte” do Manhattan Connection, articulista da Folha e, depois, do Estadão, locais onde exercitou a arte do deboche a praticamente tudo em que tinha acreditado no passado.
Menino criado “nos confortos de classe média do circuito Zona Sul do Rio de Janeiro”, em 1951 Francis viajou com a trupe de teatro de Paschoal Carlos Magno pelo norte e nordeste do Brasil. Foi quando descobriu a “desolação” de Manaus, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife. “E nem fui ao interior”, acrescenta. E continua: “Pela primeira vez vi o Brasil, vi a nu o crime secular de uma classe dirigente que em crueldade conhece poucos paralelos”. Tinha virado um homem de esquerda, engajamento do qual ainda se veem vários vestígios no livro de 1980, onde chegou a afirmar que “o fim do capitalismo me parece certo”. Dá para acreditar? Mesmo Roberto Campos, que ele tanto depois admirou, mereceu então o título de “maior torturador e assassino da nossa História”, ainda que com a ressalva de que “não em atos diretos, mas pelo que inspira de gabinetes”. Era um Francis que ainda fazia reflexões sensíveis como esta, que sempre foi a minha preferida do livro: “como é possível não ser, ou não ter sido comunista, no Brasil?” (itálicos no original). Gosto tanto da frase que, mais de uma vez, a citei, a parafraseei, a parodiei. Hoje, tomo-a como mote!
É claro que não sou comunista. Nem sei se já terei sido de verdade um dia. Leitor, na minha mocidade (isso foi antes d´O Pasquim), de liberais como Bertrand Russell e frankfurtianos (na época não sabia o que era isso) como Erich Fromm (a leitura de Meu Encontro com Marx e Freud foi decisiva para mais de um da minha geração), aqueles regimes cinzentos do Leste europeu nunca me atraíram. E, lembro ainda hoje, quando já estava na faculdade e li um livro de uma jornalista chamada Jurema Finamour, “Vais bem, Fidel?”, onde a autora se deleitava com a imagem de jovens fidelistas cubanos cantando hinos revolucionários no caminho da escola com lenços vermelhos no pescoço, anotei uma interjeição na margem da página: “Mas isso parece um jardim de infância!”. E no entanto, tomando a palavra não no sentido literal, mas num sentido metafórico, a questão do Paulo Francis anterior ao admirador de Ronald Reagan e Margaret Thatcher ainda me interpela: “como não ser comunista num país como o Brasil?”
***
Sem me dar conta, este texto de apresentação do que pretende ser esta coluna terminou virando um necrológio do autor que inspirou seu título. Raté! – como diriam os franceses. Afinal, a impressão que fica é a de que irei invocar o espírito de um ex-comunista convertido ao capitalismo para criticar o “capitalismo malandro” da “República dos Bruzundangas”… Não rejeito a perspectiva. Mas ela é estreita e não contempla todas as minhas nuances. Como diria o personagem de um filme que adoro (o escritor C. S. Lewis, em “Terra das Sombras”), “não dá para dizer tudo, seria muito longo”. Neste caso, recorro a Marx. Não a Karl, mas a Groucho: “Estes são os meus princípios. Se você não gosta deles, tenho outros”.
***


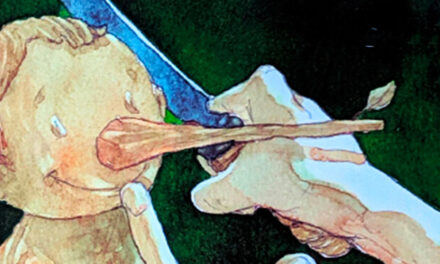








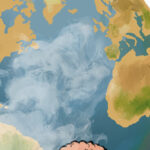



comentários recentes