
Jornaleiro.
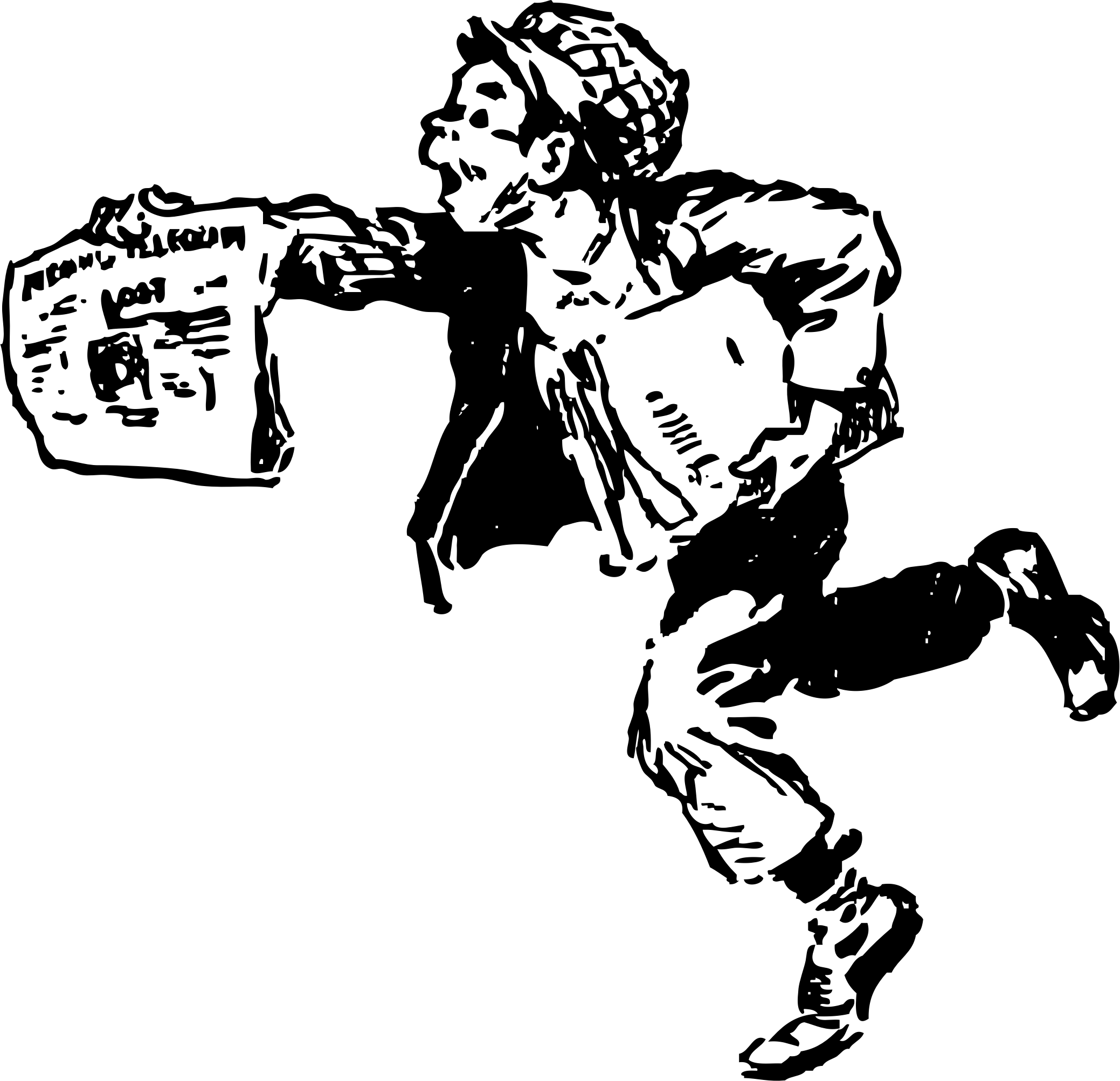 Depois de uma depressão passageira (toc! toc! toc!) que me acometeu a semana passada, volto a encarar o mundo: como sempre, barricado atrás dos livros. Ando lendo La société punitive, de Michel Foucault (curso que ele ministrou noCollège de Franceentre 1972 e 1973). Textos esquecidos e extraídos do arco da velha pelo historiador mostram como as elites que nos séculos XVIII e XIX – primeiro na Europa e, a partir daí, irradiando-se pelos países periféricos como o nosso – edificaram os sistemas penais que ainda hoje estão em vigor, eram de uma franqueza desconcertante, impossível de ser afixada hoje em dia. Seus representantes, malgrado a generalidade da lei estabelecida pelos grandes princípios de 1789, diziam aquilo que todo mundo intuitivamente sabia: que o sistema punitivo moderno (composto de polícia, ministério público, judiciário e prisão) não era para todo mundo; que ele tinha por destinatário aquilo que, sem pudor, era então designado por “classes baixas” da sociedade.
Depois de uma depressão passageira (toc! toc! toc!) que me acometeu a semana passada, volto a encarar o mundo: como sempre, barricado atrás dos livros. Ando lendo La société punitive, de Michel Foucault (curso que ele ministrou noCollège de Franceentre 1972 e 1973). Textos esquecidos e extraídos do arco da velha pelo historiador mostram como as elites que nos séculos XVIII e XIX – primeiro na Europa e, a partir daí, irradiando-se pelos países periféricos como o nosso – edificaram os sistemas penais que ainda hoje estão em vigor, eram de uma franqueza desconcertante, impossível de ser afixada hoje em dia. Seus representantes, malgrado a generalidade da lei estabelecida pelos grandes princípios de 1789, diziam aquilo que todo mundo intuitivamente sabia: que o sistema punitivo moderno (composto de polícia, ministério público, judiciário e prisão) não era para todo mundo; que ele tinha por destinatário aquilo que, sem pudor, era então designado por “classes baixas” da sociedade.
A expressão, como em tantos outros, é encontrável em Edmund Burke, grande liberal inglês na época da revolução francesa (de quem foi crítico), que recomendava àslower classes“paciência, trabalho, sobriedade, frugalidade, religião”; e eminentes pregadores recomendavam às higher classesque também seguissem as leis, porque “sua observação pelas classes superiores constitui, pela via do exemplo, o instrumento graças ao qual poder-se-á conseguir que as classes mais baixas igualmente as observem”. Na mesma época, Patrick Colquhoun (não tenho a menor ideia de como se pronuncia isso…), fundador da primeira instituição propriamente policial na Inglaterra, sonhava com o momento em que um “sistema de penitência” (tudo a ver com a palavra penitenciária) poderia contribuir para “a regeneração dessa classe miserável e extraviada que pode ser vista como o refugo da sociedade”. É o mundo dos romances sociais de Charles Dickens, autor do famoso Oliver Twist– que, vale lembrar, era um “menino de rua”! É também a época, na França, d´Os Miseráveisde Victor Hugo, que imortalizou Jean Valjean, condenado na juventude a trabalhos forçados pelo furto de alguns pães para matar a fome dos irmãos pequenos. O sistema era cínico e cruel, mas tudo parecia estar no seu devido lugar. Hoje, parece haver alguma coisa de estranho no reino da Dinamarca…
Ultimamente, pessoas tradicionalmente imunes à repressão penal, independentemente de serem de “esquerda” ou de “direita”, têm experimentado o que significa ser preso no Brasil. Quando isso acontece, o sistema penal, que não foi edificado para elas, aparece como um escândalo. Mire e veja – como diria Riobaldo: acho que nenhum de nós consegue evitar a impressão de que alguma coisa está fora de lugar quando vemos um Sérgio Cabral algemado e arrastando correntes nos pés numa operação de transferência de prisão, ou quando ficamos sabendo que um Geddel Vieira Lima desabou no choro ao ser tosquiado quando deu entrada na carceragem para onde foi enviado. E chegamos a nos solidarizar com um Paulo Maluf quando ele proibiu a mulher de ir visitá-lo na cadeia, para que ela não tivesse de se submeter ao ritual humilhante da “revista íntima”. Como diria o bispo Edir Macedo (que, aliás, deve ter feito por merecer ter passado uma pequena temporada no xilindró): “é, ou não é, pessoal?” De minha parte, é! No entanto, quantos de nós alguma vez na vida já se comoveu com o fato de que tais rituais são o pão cotidiano da massa carcerária brasileira que compreende mais de 700 mil presos – entre os quais mais de 40% em regime de “prisão preventiva”? Que eu saiba, nem um Sérgio, nem um Maluf se importaram com isso quando estiveram no poder. Claro: como diria Machado, “suporta-se com paciência a cólica do próximo”… Tais rituais de humilhação sempre foram para as “classes baixas”, todos sabemos; quando passaram a atingir o que Elio Gaspari chama da “andar de cima”… Bem, parece que alguma coisa está fora de lugar. E agora?
***
Corte para a beleza. Uma notícia na imprensa me lembra de que neste 2018 faz cinquenta anos que apareceu nas telas de cinema 2001: uma odisseia no espaço, de Stanley Kubrick, que na minha lista de “maior filme de todos os tempos” costuma figurar em primeiro lugar (mesmo se às vezes enfio também no topo Um corpo que cai, de Hitchcock). A longa sequência inicial que começa na pré-história e, graças ao corte mais extraordinário da história do cinema (quando um osso jogado para o alto por um homem-macaco “vira” um módulo espacial flutuando no vazio), desemboca no ano de 2001, já devo tê-la visto umas cinquenta vezes! Sem exagero. Minha filha Júlia, que não me deixa mentir (e que não gosta do filme!), pode confirmar. Classificado como filme de ficção científica (que não deixa de ser), eu juntaria um complemento para reclassificá-lo como filme de ficção científico-metafísica. Afinal, se é verdade que, de um lado, o tema da vida extraterrestre (lugar comum no gênero) se faz presente, de outro, pelo menos na minha opinião, o que constitui a temáticaverdadeira do filme é a tríplice questão que assombra os homens desde que eles começaram a pensar: quem somos?, de onde viemos?, para onde vamos?
Nesse nível, o filme de Kubrick não tem nada a ver nem com as aventuras de Flash Gordon, nem com as franquias do tipo Star Warsou Star Trek. Trata-se, a meu ver, de um filme único – no sentido de que não se parece com nada que veio antes, nem com nada que veio depois. Quando, nos anos 80, tentaram transformar 2001em franquia e fizeram-lhe uma “continuação” (2010: o ano em que faremos contato), o resultado só confirma o que disse antes sobre a unicidadeda obra-prima de 1968. Quem quiser tirar a prova, veja os dois…
(Aqui, confesso, estou blefando: porque nunca me interessei em ver a “continuação”!)


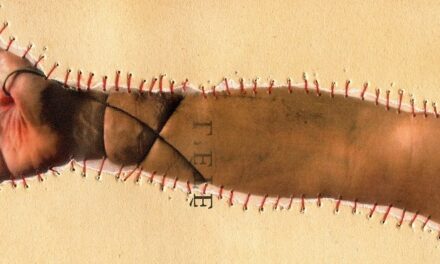

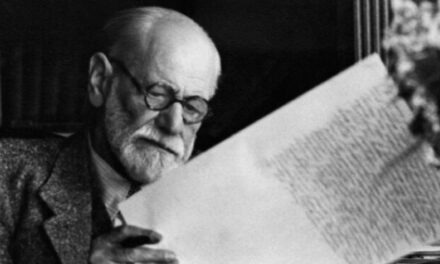










comentários recentes