
Jornaleiro.
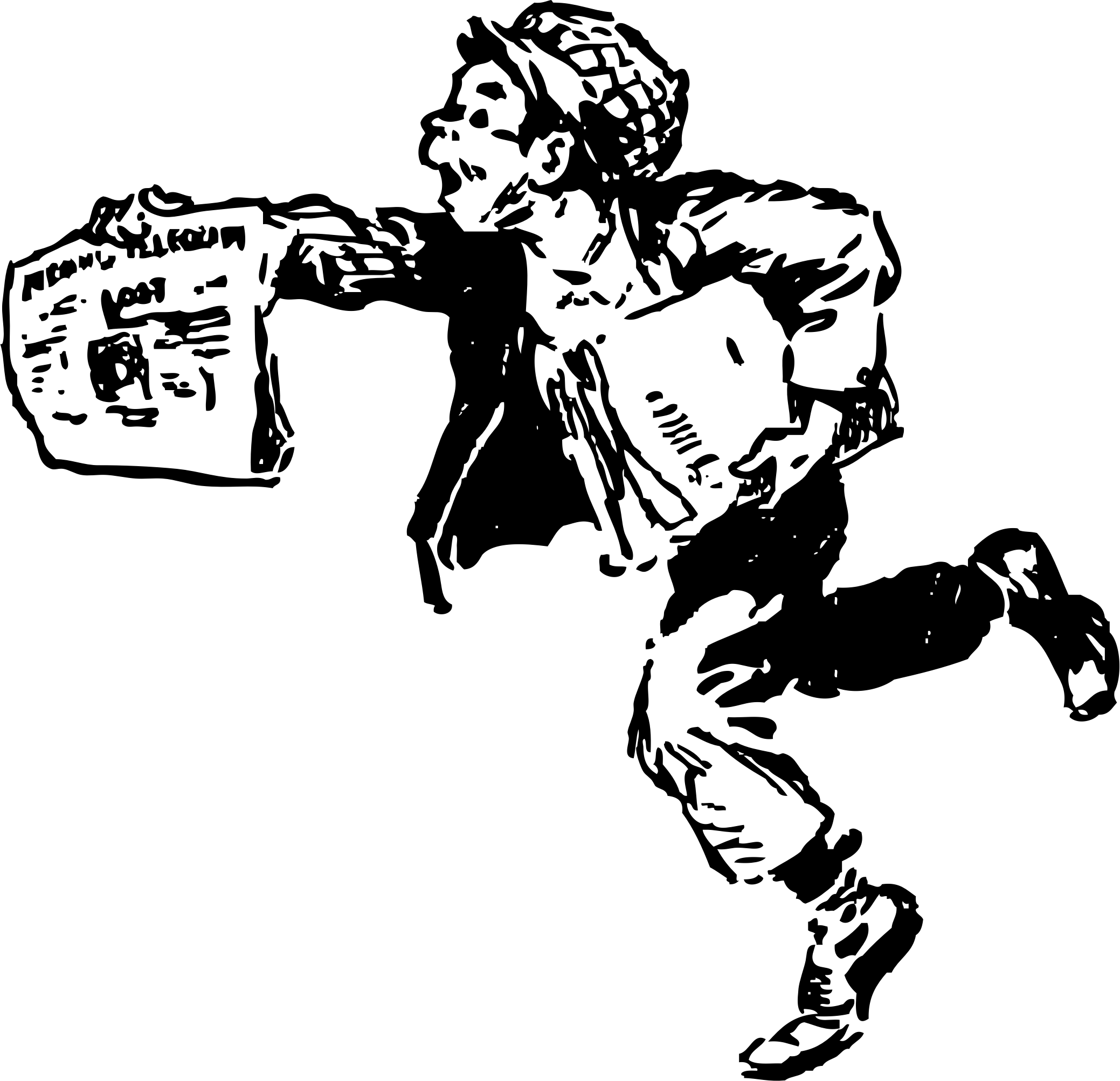 Li a semana retrasada na Folha um artigo de Hélio Schwartsman em que, falando sobre a sucessão em Cuba, o autor fazia uma reflexão a respeito do papel da violência nas mudanças sociais, e escreveu uma frase um tantinho debochada – da qual gostei: “Quase todos amamos a Revolução Francesa, mas só porque não a vivemos”. A frase levou-me a pensar sobre a tese tão marxista da “violência como parteira da história”. Os dois acontecimentos mais representativos disso no imaginário moderno são as revoluções francesa (fim do século XVIII) e russa (começo do século XX). A primeira, segundo Tocqueville n´O Antigo Regime e a Revolução, teria sido uma carnificina inútil. Para ele, as reformas que o claudicante Louis XVI estava empreendendo antes de ser engolido pela tormenta revolucionária teriam resultado em nada muito diverso do que veio a ser a França depois que a chamada “restauração”, reunindo as cabeças coroadas europeias e as diversas burguesias nacionais, pôs ordem na casa depois do furacão chamado Napoleão Bonaparte. A ordem, claro, foi aquela que seguidamente, em 1832, 1848 e 1871, mandou bala nos descontentes de Paris: os miseráveis de Victor Hugo. Quanto à revolução russa, bem, deu no que deu. Seria a História, como diria o bardo inglês, “um conto / contado por um idiota / cheio de som e fúria / significando nada”? Boa questão, para a qual não sei se é possível alguma resposta. “Pão ou pães é questão de opiniães” – diz Riobaldo no Grande-Sertão de Guimarães Rosa. Como o meu temperamento é, por natureza, agnóstico – não exatamente ateu –, tendo a ficar com Riobaldo. Como o temperamento de Tocqueville era conservador – ele que era nobre por nascimento e consta que teve um parente guilhotinado durante o Terror –, seu julgamento, como o meu, pode também estar sujeito à suspeição. “O que é a verdade?” – Teria perguntado Pilatos a Jesus. E o Cristo se calou.
Li a semana retrasada na Folha um artigo de Hélio Schwartsman em que, falando sobre a sucessão em Cuba, o autor fazia uma reflexão a respeito do papel da violência nas mudanças sociais, e escreveu uma frase um tantinho debochada – da qual gostei: “Quase todos amamos a Revolução Francesa, mas só porque não a vivemos”. A frase levou-me a pensar sobre a tese tão marxista da “violência como parteira da história”. Os dois acontecimentos mais representativos disso no imaginário moderno são as revoluções francesa (fim do século XVIII) e russa (começo do século XX). A primeira, segundo Tocqueville n´O Antigo Regime e a Revolução, teria sido uma carnificina inútil. Para ele, as reformas que o claudicante Louis XVI estava empreendendo antes de ser engolido pela tormenta revolucionária teriam resultado em nada muito diverso do que veio a ser a França depois que a chamada “restauração”, reunindo as cabeças coroadas europeias e as diversas burguesias nacionais, pôs ordem na casa depois do furacão chamado Napoleão Bonaparte. A ordem, claro, foi aquela que seguidamente, em 1832, 1848 e 1871, mandou bala nos descontentes de Paris: os miseráveis de Victor Hugo. Quanto à revolução russa, bem, deu no que deu. Seria a História, como diria o bardo inglês, “um conto / contado por um idiota / cheio de som e fúria / significando nada”? Boa questão, para a qual não sei se é possível alguma resposta. “Pão ou pães é questão de opiniães” – diz Riobaldo no Grande-Sertão de Guimarães Rosa. Como o meu temperamento é, por natureza, agnóstico – não exatamente ateu –, tendo a ficar com Riobaldo. Como o temperamento de Tocqueville era conservador – ele que era nobre por nascimento e consta que teve um parente guilhotinado durante o Terror –, seu julgamento, como o meu, pode também estar sujeito à suspeição. “O que é a verdade?” – Teria perguntado Pilatos a Jesus. E o Cristo se calou.
Isso dito, o fato é que, ao final da II Guerra Mundial, a existência e a presença ameaçadora da União Soviética de Stalin ali juntinho foi um dos fatores que levaram os países da Europa ocidental, aí incluídas a França e a Itália – onde, aliás, os partidos comunistas eram muito fortes –, a adotar, com ajuda dos Estados Unidos e o chamado “plano Marshall”, o que ficou conhecido como socialdemocracia, um regime que combinava os valores das liberdades civil e política com os da igualdade socioeconômica. A combinação sempre foi tensa e nunca foi perfeita – como, aliás, nada é nesta “região sublunar” do universo em que vivemos. Mas era um regime do qual hoje em dia, com o processo de globalização roendo-o, todos temos saudades. O mais complicado é que é legítimo especular se a socialdemocracia europeia teria podido existir sem o medo da brutalidade do regime de Stalin – o qual, lembremos, foi por sua vez edificado por revolucionários como Lênin e Trotsky, que viam a revolução que estavam fazendo como uma espécie de herdeira e continuadora da violência desencadeada em 14 de julho de 1789, em Paris… Realmente, a História não é para sujeitos de nervos fracos como eu.
Vejam: como Marx, acredito que todas as sociedades históricas que existiram até hoje são atravessadas pela luta de classes. Também a socialdemocracia – e como! – era atravessada por ela. Mas as instituições da democracia formal (como a geração de jovens marxista de que fui parte a nomeava com certo desprezo) eram capazes de incluir conteúdos sociais nas suas decisões. Mais de um autor de nomeada coloca essa “ideia-valor” como uma condição para a existência da própria democracia na modernidade – até Tocqueville, imaginem, apesar do seu conservadorismo chegou a definir a “igualdade” (no clássico A Democracia na América) como “o fato dominante dos nossos tempos”. E, de fato, a considerar a experiência histórica do que foram as democracias europeias desde que essa ideia ganhou as ruas e começou a inspirar barricadas, “a dinâmica das sociedades democráticas consistiu essencialmente em integrar, progressivamente, os excluídos da igualdade” – como lembra o historiador François Furet, leitor atento de Tocqueville, nada simpático ao jacobinismo francês e de forma alguma um esquerdista. É como se no pensamento político moderno (e não apenas de esquerda!) o valor formal da democracia exigisse um mínimo de conteúdo igualitário dos indivíduos como ponto de partida para que funcionem as chamadas “regras do jogo”. A metáfora, aliás, é bastante elucidativa, pois contém a ideia de que os jogadores dispõem de alguma coisa para colocar na mesa, e que se eles nada têm, o jogo também não existe…
***
Acho que está faltando um mínimo de filosofia política nos nossos debates sobre itens importantes para o país como reforma da previdência. Há cálculos demais e grandeza de menos. Ok, não se briga com os números, mas pode-se brigar sobre os critérios de escolha dos números a serem discutidos. Por exemplo: quando se privilegia, nas discussões para salvar as contas do país, cálculos atuariais mostrando por a + b que a previdência social não se sustenta a longo prazo no ritmo em que vai, e não se discute o nosso sistema tributário altamente regressivo e indireto que condena quem ganha pouco a pagar relativamente muito, e quem ganha muito a pagar relativamente pouquíssimo, faz-se uma escolha desse tipo. Eu, por exemplo, se fosse deputado ou senador, escolheria as duas. Na minha estreia em plenário, falaria aos meus colegas sobre Maria Antonieta – a que, invertendo a fórmula célebre de Camões, “foi rainha antes de ser morta”…



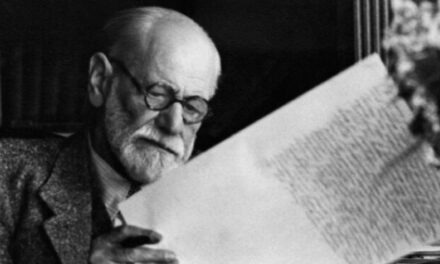











comentários recentes