
Philip de Laszlo, The Storyteller, 1891.
I
Todo homem tem histórias que não se cansa de ouvir. Não sei ao certo quantas vezes minha mãe contou a mim e a meu irmão “A festa no céu”. Tratava-se de um urubu que se vangloriava perante o sapo das delícias que o esperavam no monumental evento. No grande bufê de recepção, haveria sorvete à vontade, canudinhos de camarão, empadas de palmito, coxinhas com mostarda, cachorro quente de carne moída com rodelas de cebola e pimentão, pastéis açucarados e casquinhos de caranguejo com farofinha. Ocorre que sendo o urubu um bicho alado e de prestígio, podia comparecer sem dificuldade. Já o sapo, coitado, que estava condenado a dar pequenos saltos sobre brejos e charcos, escancarava a bocarra, desolado, e pedia ao urubu – de quem não chegava a ser grande amigo, apenas aliado de ocasião – para levá-lo até lá de carona. “Deixa eu ir com você, seu urubu. Prometo ser obediente.” Em algumas versões, o sapo se comportava direitinho no trajeto, acomodado dentro do guarda-chuva do urubu, que se chamava Tiburtino. Em outras, acontecia um desastre. Pouco acostumado às alturas, o sapo começava a enjoar, tal como acontecia com meu irmão quando atravessávamos a Serra das Russas, e tínhamos que parar para ele vomitar no acostamento. Além de nauseado, rezava outra leitura que o sapo fora acometido de monumental diarreia. E assim o guarda-chuva inglês do urubu metido a lorde ficara imprestável, se é que me faço entender. “Chega por hoje. Agora durmam”, dizia ela. “Mais um pouquinho, mamãe. O sapo não tinha nome?” Cansada, ela desconversava. “Era Zezinho, meu filho”. Eu protestava: “Não era Pedrinho, da vez passada?” E assim adormecíamos. Aos 61 anos, ao vê-la recentemente aos 87, à guisa de curiosidade intelectual, pedi que me contasse mais uma vez a história. “Você ainda lembra disso?” E fechei os olhos para ouvi-la, agora em voz mais hesitante. Imaginei que lá embaixo fazia sol, que os remadores singravam o rio, que um navio apitava na saída da barra, que o cheiro dos biscoitos Pilar entrava pelos janelões e que o Recife voltava aos anos 1960, a década que jamais deveria ter acabado.
II
Nesse contexto fértil da experiência humana, que é o de contar histórias, relatos de amigos podem ser inspiradores. Uns são tão engraçados que pouco importa quantas vezes os escutemos, as gargalhadas serão as mesmas. O narrador sorri junto muitas vezes, ou fará pausas para que a gente recupere o fôlego, embora ele próprio tenha dificuldade de entender o que pode ter o caso de tão hilário, especialmente se ouvido pela décima vez. É o que acontece com um querido amigo do Nordeste que, tendo levado clientes para uma viagem de negócios à Ásia, aproveitou para fazer uma pausa com a comitiva em Los Angeles para quebrar o fuso e descontrair. Instalados num badalado hotel em Beverly Hills, ele saiu para escolher um lugar adequado para jantarem quando a noite caísse. Diante de um restaurante que tinha pinta de atrair todos os astros de Hollywood, fez a reserva. Mas então achou que a ocasião pedia um adendo. Chamou a hostess, uma loura de 1,90 m, saia preta curtíssima, cabelos platinados, olhos de lince e ares de quem sabe tudo da vida, e perguntou-lhe se ela estaria trabalhando à noite. “Pois faça-me o seguinte favor. Quando eu chegar aqui com os amigos, corra até mim, me dê um abraço, pule no meu pescoço e diga My god, is it you, Casimiro? Oh, I was missing you so much, darling. Welcome back. Let me take you to your favourite table. Everybody is going to love to know you are with us tonight with your lovely friends. Julia Roberts asked about you last week. She looked so sad. Do you have plans for after dinner? If not, let´s go to Malibu both of us. It is going to be wild. Wow…” Ela entendeu no ato o script. E na hora aprazada, executou a sua parte com tanto ardor e brilho que aqueles foram os U$100 mais bem pagos da expedição. “Os comerciantes ficaram bestas, rapaz. Um deles disse que jamais tinha imaginado que eu era um sujeito de tanto trânsito internacional. Ele pensava que meu prestígio se resumia à Sulanca. Minha palavra dali para frente acabou tendo peso de lei. Não me deixaram pagar mais um centavo até o fim da viagem e compramos milhões na Coreia. Bendita loura que multiplicou por mil a gorjeta.”
III
Poderia contar aqui muitas outras histórias, todas com os condimentos da irreverência e ousadia bem dosados. Mas para não perdermos o foco, vamos direto àquela que me mobiliza hoje e que, para os padrões das lendas vivas, é até recente visto que a ouvi pela primeira vez há menos de 3 anos. Ela é da lavra do pintor Zé Cláudio, de quem tenho o privilégio de ser amigo, e de cuja hospitalidade já desfrutei muitas vezes, no avarandado de sua casa em Olinda, tomando o cafezinho de D. Léo, ou sorvendo doses generosas do bom uísque que ele reserva para as ocasiões. Dele, na verdade, coleciono com carinho alguns episódios que acho de grande beleza e verve. É chapliniano seu relato sobre a vez que chegou com uma malinha ao porto de Barcelona para tomar o navio para o Brasil, depois de sacolejar no trem desde Madri. Sonhando com um mínimo de conforto a bordo, qual não foi sua desolação ao saber que só teria direito a embarcar no dia seguinte. Sem dinheiro para se acomodar dignamente, foi salvo pelo gongo. Ou melhor, por uma voz que, na vigésima-quinta hora, sussurrou-lhe ao ouvido que poderiam ir a uma pensão cercana. Era um passageiro como ele, uma figura providencial, dessas que aparecem sem outra explicação que não as urdiduras do destino e da providência – a depender do credo do agraciado. Gosto muito também da história que ele nos conta sobre seus dias com Di Cavalcanti, em São Paulo, mais precisamente em torno da praça Júlio Mesquita. O dono do “Filé do Morais”, um português de tamancos e bastos bigodes, certa noite foi consolar um habitué que se descabelava porque descobrira a infidelidade da esposa. Numa prova de empatia ímpar, o lusitano não hesitou em dizer que fora justamente por esse motivo que atravessara o mar com o cônjuge, ou seja, para mantê-la longe da tentação de um colossal africano que aparecera na Alfama e por quem a lusa enlouquecera. Fora um mal que trouxe um bem. Continuava corno, é claro, porque esse é um status que não prescreve. Mas tornara-se um empresário de sucesso, e seu endereço era dos mais frequentados da cidade. Tudo isso ele ouviu ao lado de Di.
IV
Mas nenhuma história é tão completa e cativante quanto a que envolve as peripécias que aconteceram antes e durante a grande exposição de Picasso em Nova York. Poderia dividi-la em alguns capítulos e tentar dar-lhe os contornos com toda a riqueza que merece. Mas não quero correr riscos de perder a atenção do leitor e, por um deslize meu, ou por uma redundância nauseante, fazer com que ele veja prolixidade no que só tem encanto e beleza. Passemos ao ponto. Zé Cláudio estava em São Paulo e vendera uma obra importante a um expoente da indústria paulista. Acho até que era uma escultura, mas não ouso dizer quem a comprou, até mesmo para preservar o sigilo da fonte, como se convencionou chamar hoje em dia. Com o bolso tão recheado quanto poucas vezes estivera, leu no jornal que estava acontecendo uma grande exposição de Picasso em Nova York. Picado pela curiosidade e pela intuição de que aquela era uma rara oportunidade de conhecer de perto o trabalho do mestre, confidenciou a Dona Léo ao telefone que estava tentado a ir. Grande mulher que é, ao invés de botar gosto ruim, ou de revirar os planos do marido para tentar se encaixar no programa, ela respondeu que ele tinha que ir aos Estados Unidos. E instou-o a sair em campo para, afinal, viabilizar a temporada no que ela tinha de mais crítico: obter o ingresso, que, ao que tudo indicava, devia ser mais difícil de conseguir do que uma cédula de quinze dólares. Com efeito, as primeiras abordagens se revelaram um desalento só. Era unanimidade que a exposição estava sold out e não havia amigo, por influente que fosse, que pudesse mudar aquele estado de fato. Entre os muitos abordados, um deles foi Zé Almino Arraes, que trabalhava na ONU, e que, portanto, era morador de Nova York. “Esqueça, meu amigo. Espere a próxima em Paris ou Madri que vai ser mais fácil entrar. Aqui até o Presidente da República teria dificuldade, se quisesse”, exagerou. Angustiado diante da perspectiva de morrer na praia, ele resolveu que mesmo assim embarcaria. E que lá tentaria a sorte. Era ou não Nova York a cidade dos grandes sonhos?
V
Mas a verdade é que em toda família tem alguém providencial. Na maioria das vezes, pessoas que sequer frequentamos no dia a dia, mas cujos bons ofícios podem cair dos céus. Que família não descobria, em outros tempos, um militar que era primo em terceiro grau e de quem, até pelo fardamento e pela época, queria distância? Mas um dia, eis que um jovem universitário precisava de um pistolão para escapar do serviço militar. A quem recorrer senão àquele primo que, ainda um pouco surpreso com a súbita aproximação, recebia uma garrafa de uísque de presente e, sorridente, ainda dizia: “Tem certeza de que não quer servir? Você tem altura, rapaz, daria um bom goleiro. E depois, você sabe, perderia até um pesinho.” No caso de Zé Cláudio, o serviço à pátria pelas armas não estava em questão. Mas eis que ao chegar a Nova York para tentar a sorte, acomodado num hotel da Broadway, Dona Léo tinha novidades para o marido. Ora, um primo distante seu trabalhava na embaixada do Brasil em Washington, ligado ao adido militar, no caso um oficial da Marinha. “Ele me falou que a embaixada recebeu uns convites e já pegou um pra você. É só dar o endereço que ele te manda.” Todo mundo nessas horas se torna um pouco místico. Some o escárnio costumeiro para com os que dizem que nada é por acaso, que não há coincidências na vida, e que o que tiver que ser, pois bem, será. O que poderia, no caso, ser mais primoroso para um artista do que ver ao vivo o trabalho de um ícone? E o que seria tão frustrante quanto apostar todas as fichas numa viagem a uma cidade sabidamente hostil e apressada, impessoal e trituradora, e voltar de lá cabisbaixo, amargando a derrota suprema? Há ou não uma componente de fé subjacente no coração daqueles que embarcam na máxima romana de que Deus ajuda bravos e corajosos? Pouco me lembro do que aconteceu a Zé Cláudio na Big Apple nesses dias. Não sei se foi tomar um drinque com Zé Almino ou se vagou pelas sendeiras do Central Park, à procura de uma luz outonal. Aliás, não sei sequer se era mesmo outono. O que sei é que chegou a hora de entrar no museu e ver a obra do grande artista.
VI
“É difícil para um leigo, ou para um não-iniciado, imaginar o que foi aquilo. O sujeito pode até ser um imenso admirador das artes plásticas e se render a Picasso, ainda que mais não seja pela fama que se impõe. Mas coisa bem diferente é você, sendo pintor de ofício, ter um quadro daquele a um metro de seu nariz, e chegar quase a sentir o cheiro da tinta. Teve uma determinada hora que eu fiquei tão enfeitiçado que me debrucei para além da corda de isolamento. Se perdesse o equilíbrio, o que não era difícil, caía de cara nos peitos do Les demoiselles d´Avignon. Foi então que um negrão uniformizado que ficava bem na porta, me deu uma bronca. Excuse me, excuse me, foi tudo o que eu consegui dizer. E continuei. Nem que eu quisesse, eu saberia descrever a emoção de ver a textura das telas, o jogo de tintas, o preparo delas, o vigor das pinceladas, a economia de recursos, a exuberância de um detalhe que, não fosse Picasso, ficaria só como um adereço despercebido. Mas tinha um problema. Embora eu já estivesse lá dentro há horas, era quase certo que a exposição estivesse chegando ao fim. E então, eu não teria direito a replay, entende? Porque uma coisa é você engolir a comida porque quer saciar a fome. Outra bem diferente é, uma vez satisfeito, degustar cada garfada e identificar os temperos. Especialmente naquele caso, que tinha a ver com o aprendizado. Quando eu já embicava em direção à última galeria, e via um grupo novo que estava só começando o trajeto, me ocorreu fazer uma malandragem. Com ar desacorçoado, fui até o balcão e registrei uma queixa. Dando o melhor de minha bagagem linguística de ocasião, disse que tinha recebido um par de fones de ouvido programados para o castelhano. O resultado é que não entendera nem metade do que queria. Então a mulher me perguntou qual seria o idioma de eleição, já que eles não tinham português. Eu disse que era o italiano, e que já tinha vivido em Milão. Ele trocou os fones, pediu desculpas, abriu a corda e me mandou voltar para ver tudo de novo desde o começo. Para quem esteve para perder a viagem, vi a exposição não uma, mas duas vezes.”
Epílogo breve
Pergunto ao leitor: é ou não uma maravilha?


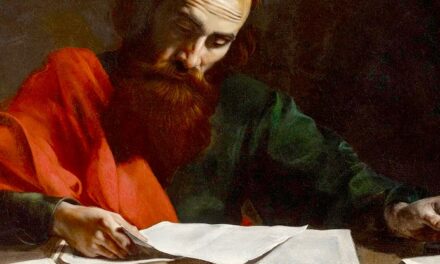













Duas coisas me impressionam em você, amigo Fernando: a capacidade de fabulação e a fluência – escrita ou verbal. Falar de maneira corrente, sem qualquer “gap”, sem qualquer atraso das palavras em relação ao pensamento, é coisa muito rara. Na verdade, além de você, só conheci uma pessoa com essa virtude: San Tiago Dantas. Uma companhia honrosa, não acha? E o texto também. Até esquecemos que é, costumeiramente, longo.
verdade, Clemente. Fernando Dourado não tem delay. abs.
Amigo Clemente, essa de me comparar a San Tiago Dantas, ainda que mais não seja por um pequeno pormenor, me deixa envaidecido. Mesmo porque você o conheceu. Há um detalhe, contudo, que merece menção. Se tudo na curta vida do ex-Chanceler foi brilho e fulgor, na minha foi sombra e peleja.
Na verdade, a fluência verbal a que você alude resulta de uma luta desigual que travei com as palavras na adolescência. Sendo gago em português, embora não em outras línguas, tive que me dotar precocemente de uma excruciante sinonímia para ter alternativas à mão (ou deveria dizer na ponta da língua?) para me safar de sílabas duras que pudessem me fazer gaguejar, expondo-me ao ridículo.
Tão ferrenho e continuado foi esse esforço que a maioria das pessoas sequer desconfia que eu possa ser gago, e se deleita com narrativas sem atinar para a navegação prudente e sinuosa que faço entre as palavras. Como todo malabarismo, ele tem que passar despercebido para mesmerizar a audiência – quando este for o caso.
Enfim, esse pressuposto talvez já não seja tão cruelmente válido quanto era há 50 anos, mas resiste como princípio ativo. Antes de dizer a frase seguinte, dir-se-ia que a gente a escaneia à procura da sílaba fatal para desarmá-la enquanto é tempo. Quase sempre dá certo. Tão doce foi seu elogio que me senti no dever de revelar a face oculta da lua.
Um abraço.