
Nagasaki.
Foi numa noite de março do ano de 1988 que jantei na casa de Clifford Tayllor, um americano nascido na Nova Inglaterra, engenheiro metalúrgico formado pela Universidade de Pittsburgh, onde morava com sua mulher, Jane – já aposentado e depois de ter trabalhado cinco anos no Brasil, residindo em São Paulo. Alto, louro, já meio calvo, falando um português “enviesado”, era fã da música brasileira, e tinha na sua coleção discos de João Gilberto, Sérgio Mendes, Tom Jobim, Agostinho dos Santos, Elizete Cardoso, Johnny Alf e outros nomes famosos da MPM dos anos 60 e 70 do século passado. Tinha paixão também pelo jazz. Naquela “aventura” pelos EUA, nós éramos três jornalistas numa viagem de intercâmbio patrocinada pelo Departamento de Estado do Governo norte-americano – eu, do Jornal do Commercio de Pernambuco; Paulo Romeu Neto, do Jornal O Globo, Rio de Janeiro; e Maria Isabel Timm, do Diario do Sul, um jornal gaúcho que fazia concorrência ao poderoso Zero Hora. Completavam nosso grupo mais dois políticos: Eduardo Chuai, deputado estadual brizolista no Rio de Janeiro; e Ricardo Seitenffus, então secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Rio Grande do Sul, na gestão de Pedro Simon. Naquela noite friorenta de Pittsburgh, cada um de nós foi “escalado” para jantar com uma típica família norte-americana.
Na programação traçada pelo Departamento de Estado, não havia, no nosso entendimento, um roteiro lógico. Depois de uma semana em Washington, ouvindo palestras algumas vezes interessantes e outras vezes monótonas, conversando com assessores do Congresso e enfrentando um “friozinho” que variava entre três e cinco graus negativos, fomos dali para Nova Iorque, depois para Boston, Pittsburgh, Memphis, Los Angeles e San Francisco, antes do fim do programa oficial. No Estado do Arkansas, visitamos uma base militar de alta segurança, numa cidadezinha remota de apenas 25 mil habitantes, dos quais 23 mil eram militares. Vimos a “fortaleza voadora” que carregava no seu ventre o plano de defesa interna e de contra-ataque dos Estados Unidos frente à antiga União Soviética, num possível ataque nuclear, com os códigos secretos que abriam as portas dos silos com seus arsenais, prontos para a desintegração do planeta. Também ouvimos jazz e música country em Memphis, nas margens do Mississipi, onde comemos churrasco e conhecemos uma bisneta do Marechal Rondon, que estudava e ensinava português para os americanos. Mas, antes disso, eu jantei na residência dos Tayllor, o engenheiro metalúrgico pacifista, e Jane, sua mulher.
Corria o ano de 1943, Clifford Tayllor, recém-formado engenheiro metalúrgico, aguardava a chamada para ocupar um emprego para o qual se candidatara. E enquanto esperava, resolveu alistar-se na Marinha de Guerra norte-americana, como estavam fazendo muitos jovens de sua geração, preocupados com os rumos que o mundo em guerra tomava naqueles dias de incerteza. Ele esperava ficar pouco tempo na Marinha, mas acabou ficando até o final da Guerra, em 1945. Tão logo alistou-se na Marinha, e à sua revelia, Clifford, com seu diploma de engenheiro metalúrgico, foi imediatamente transferido para trabalhar no secretíssimo “Projeto Manhattan”, que construiria a primeira bomba atômica, destruiria as cidades de Hiroxima e Nagasaki, daria início à chamada “era atômica”. Com seus conhecimentos em engenharia metalúrgica, Clifford ajudou, sem saber, a fabricar o mais mortífero artefato bélico jamais visto na face da terra.
Naquele nosso jantar, com um conjunto de jazz tocando suavemente ao fundo, o engenheiro aposentado lembrou aqueles dias terríveis vividos no deserto de Nevada – e disse guardar daqueles anos apenas uma boa recordação: foi lá que conheceu Jane, sua mulher, com quem, naquela noite, já estava casado há mais de 30 anos, era a mãe dos seus filhos e avó dos seus netos. Durante o desenvolvimento do Projeto Manhattan, tudo corria em segredo – e só o altíssimo escalão sabia que se desenvolvia ali uma “nova bomba”, capaz de encerrar a guerra tão logo fosse detonada. Não havia folga, não se podia deixar os alojamentos, cada departamento cuidava de sua tarefa, sem saber o que acontecia no departamento vizinho.
Durante o jantar, Clifford Tayllor relembrou os cinco anos vividos em São Paulo, onde trabalhou na Oxiteno e se tornou um “rotariano” fiel, amante da paz e da solidariedade humana. Antes disso, no finalzinho daquela tarde, como um bom anfitrião, ele me levou para conhecer alguns pontos icônicos de Pittsburgh, como o Museu de História Natural, a Praça da Estação e o Museu da Criança, sem esquecer de salientar que o hotel onde eu estava hospedado havia sido construído em 1914, no melhor estilo vitoriano da Nova Inglaterra. No final do jantar, quando só então descobriu que eu morava no Recife, revelou que conhecia a capital pernambucana, onde estivera num encontro internacional do Rotary, e que havia deixado aqui um bom amigo, chamado Eudes de Souza Leão Pinto, ”rotariano” como ele. Da aposentadoria que recebia, Clifford Tayllor doava mais de metade para as obras sociais do Rotary Club, pois, segundo dizia, isso também era uma forma de trabalhar pela paz mundial. No final do jantar, já na hora de nos despedirmos, ele coloca a mão no meu ombro e, olhando para algum ponto do infinito, fala daqueles tempos que preferia esquecer: — “Nós só tínhamos três bombas, mas os japoneses não sabiam disso. A primeira serviu para um teste em Alamogordo. A segunda foi jogada em Hiroxima; e a última em Nagazaki. E felizmente os japoneses resolveram se render e acabar a guerra”. Disse isso e uma lágrima solitária desceu pelo seu rosto.
Naquela época, 43 anos depois do fim da guerra, Clifford era um pacifista convicto, ajudou a construir a bomba atômica sem saber o que fazia nem o seu poder de destruição, tornou-se rotariano não por remorso o arrependimento, mas por acreditar na paz e na harmonia entre os tantos povos que vivem sobre a terra. Se ainda viver, que Deus o conserve assim: humanista, solidário, apreciador do jazz e da boa música brasileira, com os braços abertos para os seus semelhantes, estejam eles onde estiverem.




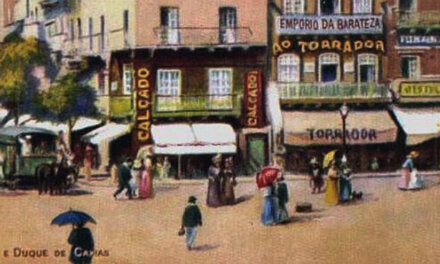










Saúdo o retorno de Ivanildo Sampaio à nossa Revista, com uma história das mais enriquecedoras.
Só espero que continue, enquanto tiver o que contar. Que não será pouca coisa.
Maravilha de narrativa. O que uma pessoa pode sofrer…