No sabemos lo que passa y eso es lo que se pasa.
Ortega y Gasset
Um dos traços da sociedade contemporânea são os movimentos sociais, normalmente considerados como periféricos e marginais, em direção ao centro da dinâmica social, ao mesmo tempo em que se registram reações contrárias. O exemplo mais visível, segundo Alain Touraine, são as mulheres. Essas atrizes sociais, que sempre foram ativas e perseguidas, e continuam perseguidas, movimentam-se em direção ao centro da sociedade, para ocupar espaços e introduzir saberes e percepções recusadas pelas forças hegemônicas da sociedade, representadas pelo masculino. Entre as reações contrárias destaca-se, por sua violência, o aumento do feminicídio. Segundo a ONU, mais de 80 mil mulheres foram assassinadas em 2021 no mundo, a maioria por ex-maridos, companheiros ou parentes da vitima. No Brasil, segundo o Monitor da Violência (G1, 2023), o número de vítimas de feminicídio no Brasil aumentou em 2022, alcançando 1.410 vítimas. Sinais de como a ascensão do protagonismo feminino incomoda aos machistas e homofóbicos. Ainda segundo o sociólogo francês, as mudanças introduzidas pelas mulheres tendem a culminar com a construção de uma sociedade regida pela dinâmica cultural, que nada tem a ver com a “feminização da sociedade”.
A sociedade moderna e com ela sua base material o capitalismo ou, como preferem alguns, a economia de mercado, parece se encontrar em uma encruzilhada, cujas manifestações são diversas, entre elas: financeirização crescente da economia mundial; perda de produtividade; agudização da crise ecológica; crescimento das desigualdades social e regional; surgimento de novos conflitos sociais e aumento da velocidade das inovações tecnológicas. Acrescente-se o crescimento das tensões internacionais, o risco de novas pandemias e o aparente fenecimento da democracia liberal. Encruzilhada que tem alimentado múltiplas reações como a recusa do desenvolvimento capitalista, com o surgimento de propostas pós-desenvolvimentistas. Aqui tratamos de uma dessas manifestações, de caráter muito singular, do mundo rural brasileiro.
O movimento de atores periféricos para o centro da sociedade, ocupando espaço, introduzindo práticas e percepções distintas, fazendo-se ouvir, como no caso das mulheres, não é acompanhado por todos atores/atrizes. Povos originários, quilombolas, caiçaras, pescadores, assentados, comunidades tradicionais, em parte, não seguem uma trajetória de adentramento da sociedade moderna para modificá-la. Alguns preferem uma atitude de defesa, criando seus próprios caminhos, permanecendo na periferia da modernidade. Não que rejeitem qualquer intercâmbio, eles sabem que uma relação de troca com a economia de mercado é essencial a sua sobrevivência, mas evitam aprofundar esses laços e, sobretudo, lutar pelo poder em seu interior, pressionar por reformas, exceto aquelas que concernem a sua sobrevivência.
Ultimamente uma dessas vozes ganhou visibilidade para a Nação, os quilombos. De forma violenta, com o assassinato de Mãe Bernadete, líder do Quilombo Pitanga dos Palmares na Bahia, em agosto de 2023. De forma científica, com o último censo do IBGE, que deu visibilidade aos quilombos, revelando que neles habitam 1. 327.802 pessoas, correspondendo 0.65% da população nacional. A maioria (50,16%) estão na Bahia e o Maranhão.
De outra forma, a realidade quilombola pousou na mesa da Nação por meio do livro Torto arado, de Itamar Vieira Junior (2023), que se encontra entre os maiores sucessos literário do ano. No livro, o escritor baiano conta a história de uma família de pretos sob o jugo do latifúndio. Mas, além dele, há dois livros curiosos, e que estiverem longe de ter a mesma visibilidade. São eles: Por Terra e Território: caminhos da revolução dos povos do Brasil (2021), de Joelson Ferreira e Erahsto Felício. O primeiro é ex-dirigente do MST e do movimento dos quilombolas, criador do movimento social – Teia dos Povos, enquanto Felício é um professor de história. Como dizem os autores: “Este livro é uma síntese do pensamento rebelde de Joelson Ferreira escrito por Erahsto Felício”.
O outro livro é – A terra dá, a terra quer (2023) de Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, formado no quilombo Saco-Curtume, Piauí. Atuou na Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí (CECOQ/PI) e da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), sendo poeta, gravador e escritor.
Os dois livros têm similitudes e diferenças.
Comecemos pelas similitudes. Ambos os livros são publicados por editoras “alternativas”, ou seja, fora do circuito das grandes editoras. O primeiro é um livro autofinanciado pelo movimento, Teia dos Povos. O segundo, pela associação entre a editora UBU e a plataforma/revista – PISEAGRAMA. Os autores são de proveniência popular, líderes camponeses e do movimento dos quilombolas, um na Bahia e outro no Piauí.
Uma similitude a mais é que as suas reflexões são assentadas nas suas vivências cotidianas. Seus livros são repletos de reflexões provenientes de suas práticas e ensinamentos adquiridos com as populações “afro-pindorâmicas”, na expressão de Nego Bispo. Os autores fazem esforços visíveis de se libertarem das cosmovisões dos colonizadores-capitalistas, que compõem as elites dominantes do País, segundo a expressão dos mesmos.
Ambos os livros, finalmente, travam uma batalha semântica, pois acreditam que o domínio dos colonizadores se faz, inicialmente, pela linguagem, pois ela rouba e deforma a cosmovisão dos subalternos.
Diferenças, porém, também se fazem presentes. Por Terra e Território é um manifesto pela soberania dos povos do Brasil, pela soberania da “aliança dos pretos, índios e populares territorializados”. Terra quer, terra dar é uma aula sobre a batalha semântica que os populares têm que travar para se libertarem do jugo do colonialismo.
Por terra e território propõe o caminho da libertação dos povos subalternos do Brasil por meio de uma revolução distinta daquelas do século XX. Suas referências são os quilombos e as comunidades rebeldes como Palmares, Canudos e Contestado, e as manifestações de revolta como a Cabanagem, no Pará, e a balaiada no Maranhão, além do Zapatismo no México, entre outras.
A estratégia da mudança sugerida é a da negação e não a da participação política, pois “tomar o poder pelas regras que os brancos burgueses criaram não nos interessa”. A experiência das esquerdas no Brasil – ao se constituírem em partidos e participarem das eleições – mostra que “elas acabam sendo cooptadas pelos dominantes. E esses partidos querem definir de cima para baixo o que os povos devem fazer, sem os conhecerem”.
Os “inimigos dos povos” têm uma longa história de “enganação”. Eles são definidos de forma distinta ao longo do livro, mas predomina a trilogia do capitalismo, racismo e patriarcado, da qual por vezes faz parte o latifúndio, o imperialismo e o Estado, incluindo os três poderes. O diálogo com os governos não é completamente afastado, pode eventualmente ser utilizado, mas o ideal é ter o mínimo de demandas ao Estado e de contatos com o mercado. Ser autônomo é o ideal. Por isso o conceito de soberania é tão importante: soberania de recursos hídricos, de alimentos, de energia, pedagógica e de autodefesa.
“Quando paramos de falar de terra e território e passamos a reivindicar direitos e políticas públicas fazemos o jogo do capital e do racismo”. Os povos territorializados devem usar, sobretudo, a força das massas, da pressão de grandes contingentes para fazer recuar os inimigos e o Estado em sua sanha destruidora, por isso devem treinar a autodefesa. A vitória será obtida na medida em que os povos territorializados cresçam, e o capitalismo se afunde.
Vivendo na franja do capitalismo, dependendo minimamente do Estado e do mercado, os “povos” devem cultivar valores e relações sociais novas, combatendo o racismo e o patriarcado, inclusive entre eles. Todos os membros dos territórios são estimulados na filosofia do cuidado: cuidado consigo, com os outros, e no caso dos homens adultos, particularmente com as mulheres, as crianças e os idosos. Mas, também, com os animais e seres vivos em geral, sejam animais ou vegetais.
Aparentemente, a ideia da mudança é de que o capitalismo se afunda por suas próprias contradições no emaranhado do individualismo e da destruição ambiental, enquanto as comunidades se autonomizam em suas soberanias, ampliam suas alianças, ganham novas terra e territórios, novas populações. Trata-se de uma visão que tem raízes no passado, entre rebeliões camponesas, no cooperativismo, mas também nas experiências de autogestão operária e mesmo do socialismo utópico, como os falanstérios de Charles Fourier.
Se o livro de Ferreira e Felício é um manifesto pela libertação dos “povos do Brasil”, o de Nego Bispo é um libelo contra a dominação colonial-capitalista no terreno sutil da semântica. O livro se inicia fazendo uma comparação entre o ato de adestrar e colonizar que, segundo o autor, “são a mesma coisa”. Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por “desterritorializar o ente atacado quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando-o de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome. Processo de “denominação” que os oprimidos devem responder por uma “guerra de denominações”, que consiste no jogo de contrariar as palavras coloniais como modo de enfraquecê-las. Assim, diz o autor, ao invés de desenvolvimento, que nos desconecta da natureza, deve-se usar a palavra envolvimento, que nos envolve a todos, humanos e não humanos como habitantes de uma casa comum. Ao invés de troca, deve-se usar a palavras compartilhamento, pois não trocamos afetos, o compartilhamos; no lugar de saber sintético, o saber orgânico, que vem da natureza; no lugar de coincidência, a confluência, que é uma forma que rende, amplia, aumenta.
O discurso de Nego Bispo se radicaliza ao longo do texto a ponto de abominar as cidades – “a cidade é um território colonialista”, nela “só tem valor o que vira mercadoria”. E ele se pergunta: “Por que os povos da cidade não se relacionam com a natureza? Porque têm medo. Porque são cosmofóbicos”. As pessoas da cidade não têm confiança, nem nos noutros e nem na natureza, por isso acumulam. “Só precisa acumular quem não confia, quem tem medo da natureza não fornecer, medo da natureza castigar”.
Da verve de Nego Bispo não escapam nem a sociedade nem o humanismo. “Enquanto a sociedade se faz com os iguais, a comunidade se faz com os diversos. Nós somos os diversais, os cosmológicos, os naturais, os orgânicos. Não somos humanistas, os humanistas são as pessoas que transformam a natureza em dinheiro, em carro do ano”. Como não escapa a politica, tal como a entendemos. “Toda política é um instrumento colonialista, porque a política diz respeito a gestão da vida alheia. Política não é autogestão. A política é produzida por um grupo que se entende iluminado e que, por isso, tem que ser protagonista da vida alheia”. O Estado é um “ambiente colonialista”, por isso “não há diferença entre gestão de esquerda e de direita”.
Nego bispo acolhe as mudanças dos tempos na sua linguagem própria. Sinaliza a perda de centralidade do conflito capital x trabalho, e a emersão de uma bateria de novos conflitos que reconfiguram a sociedade moderna. “Falamos de cosmologia ao invés de falar de teoria ou ideologia. Falamos de território ao invés de falar de fábrica. Falamos de aldeia, quilombo e terreiro em vez de espaço de trabalho. O mundo do trabalho não é mais o mundo em debate, não está mais impondo a pauta, está sendo substituído pelo mundo do saber, pelo mundo do viver”. “O grande debate hoje é o debate decolonial”.
Contudo, à semelhança de Ferreira e Felício, o líder quilombola não propõe destruir o colonialismo, nem os colonialistas, pois ele/s já se encontra(m) em deterioração. E a tarefa é construir o novo, sem se importar com o fim do velho. “Não precisamos destruir os colonialistas. Deixemos que vivam desde que vivam com o sol deles e não venham roubar o nosso sol…”.
Um e outro livro que aqui apresentamos causa espécime, de tão insólitos que são. Discursos de defesa, mais que de ataque. Falas de proteção, e menos de enfrentamento. Defesa de formas pretéritas de vida, que não são coetâneas, mas contemporâneas, pois convivem no mesmo tempo, embora com ancestralidades distintas. Escritas de recusa, de rejeição da participação, de pregação de formas simples e mesmo simplórias de vida. Com excessos, como o desprezo pela política ou a condenação das cidades e do humanismo.
Os dois livros espelham, de forma próxima, a rejeição da sociedade moderna. Nesse sentido, fazem parte de um movimento atual, maior e mundial, de rejeição da sociedade moderna. Em sua linguagem específica navegam no mundo do pós-desenvolvimento, pois recusam o desenvolvimento, entendido como convite ao crescimento contínuo, à desconexão com a natureza, e declaram sua preferência pelo “envolvimento”. Nesse sentido, aproximando-se de Morin que afirma “O desenvolvimento favoriza o individualismo. O envolvimento favoriza a comunidade”. E mais ainda “O envolvimento significa a manutenção da inserção na cultura…o primado da qualidade poética de viver”.
Os autores comentados tentam espelhar a ideia de que é possível criar algo novo, desde agora, às margens da sociedade moderna, na vida rural, sem grandes meios. Algo marginal, utópico e restrito, sem possibilidade de disseminação. Não se pode afastar por definitivo a ideia de que talvez estejam certo, pois fazem parte de um movimento maior de recusa a uma vida centrada no lucro, no individualismo, com pouco respeito à natureza e claro desprezo pelos semelhantes; uma vida com pessoas mergulhadas em um mundo de extrema e crescente desigualdade e vergonhosa e inadmissível pobreza e miséria; um mundo repleto de feminicídio e racismo, em que seus habitantes tendem, cada vez mais, à obesidade, depressão, suicídio, ansiedade e persistem na guerra e na destruição de vidas.
No entanto, não se pode deixar de perguntar se eles estarão livres dos impactos das mudanças climáticas, inclusive porque muitos deles estão no semiárido. E como viverão sem os bens modernos que não fabricam. Porém, o mais importante não é discutir se eles estão certo ou não e como sobreviverão à crise ecológica. Mas antes, se seus discursos e percepções tendem a progredir em outros espaços e sob outras formas, ampliando a contestação à lógica da economia de mercado, à ausência de ética no avanço científico-tecnológico e às normas aristocráticas presentes na democracia liberal. Finalmente, porém, não menos importante, quais são as raízes que alimentam essas expressões, quais os seus fundamentos estruturais?


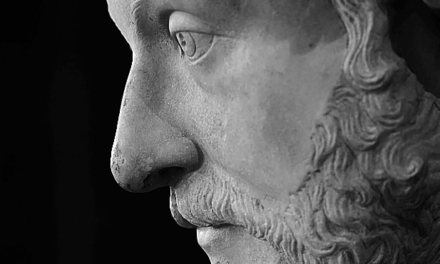












comentários recentes