
Jornaleiro.
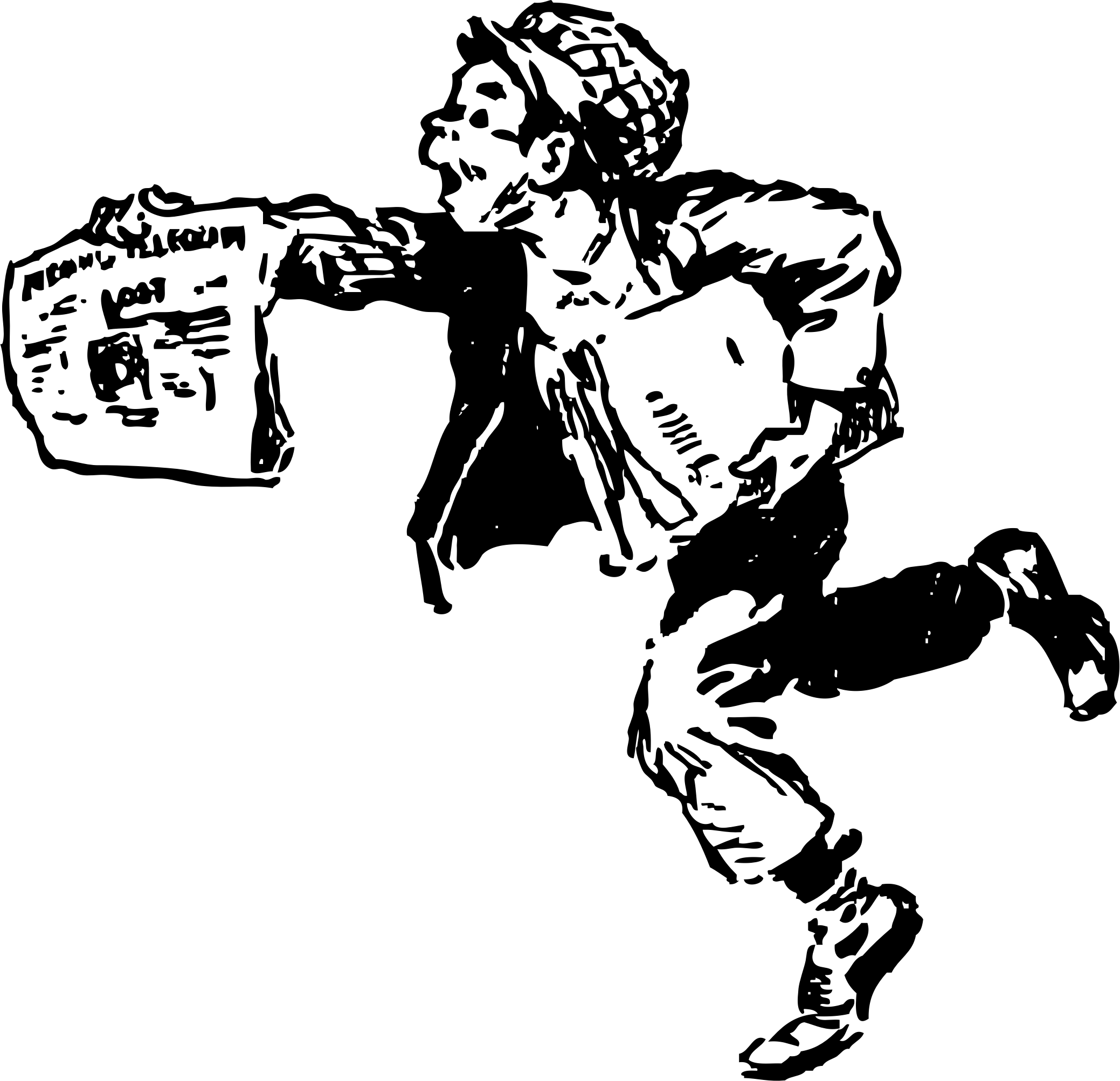 Acho que ninguém gosta de flanelinha. E até acho normal não gostar. Afinal, como não se sentir incomodado por esses camaradas que, de flanela na mão e aos gritos (muitas vezes uns com os outros), insistem em mostrar uma vaga que você mesmo acabou de ver?; que se põem a ajudá-lo a manobrar o veículo atrapalhando sua visão?; que, uma vez o carro estacionado, põem pedaços de papelão no lado de fora do para-brisa tornando desnecessário o uso do para-sol que você tem no carro para colocar no lado de dentro do mesmo para-brisa?… Não gosto. Sinto-me mal por sentir esse desgosto, mas, como diriam os latinos, nihil humani a me alienum puto. (Não se impressionem com essa “erudição” de orelha de livro: ela está no Google.) E no entanto, esse sentimento de antipatia, praticamente partilhado por todo mundo que conheço (ainda que em alguns casos apenas in petto [cf. Google mais uma vez]), foi um dia deste posto à prova a partir de uma conversa minha com uma dessas criaturas. Foi assim.
Acho que ninguém gosta de flanelinha. E até acho normal não gostar. Afinal, como não se sentir incomodado por esses camaradas que, de flanela na mão e aos gritos (muitas vezes uns com os outros), insistem em mostrar uma vaga que você mesmo acabou de ver?; que se põem a ajudá-lo a manobrar o veículo atrapalhando sua visão?; que, uma vez o carro estacionado, põem pedaços de papelão no lado de fora do para-brisa tornando desnecessário o uso do para-sol que você tem no carro para colocar no lado de dentro do mesmo para-brisa?… Não gosto. Sinto-me mal por sentir esse desgosto, mas, como diriam os latinos, nihil humani a me alienum puto. (Não se impressionem com essa “erudição” de orelha de livro: ela está no Google.) E no entanto, esse sentimento de antipatia, praticamente partilhado por todo mundo que conheço (ainda que em alguns casos apenas in petto [cf. Google mais uma vez]), foi um dia deste posto à prova a partir de uma conversa minha com uma dessas criaturas. Foi assim.
Saía de uma agência bancária e me dirigia ao meu carro, que tinha deixado um tanto longe justamente para escapar dos flanelinhas. Entre as razões acima expostas, porque não tinha comigo os dois real atualmente habituais nesse tipo de transação. Como a menor cédula que tinha comigo era de cinco reais, fiquei tenso observando o sujeito que, malgrado minha precaução, se aproximava. E resolvi, em vez de confrontá-lo, negociar:
“E aí, meu patrão, tem troco pra cinco?”
“O movimento tá fraco, acabei de pegar o serviço…”
“Pegar o serviço?… Como? Vocês são quantos aqui?”
“Uns quatro”.
Aí perguntei como é que eles se revezavam, mesmo se não lembro se o verbo que usei foi exatamente esse. Ele me explicou. Há um flanelinha antigo, “dono” do local, que distribui os turnos e cobra para permitir que eles explorem o estacionamento. Perguntei quanto mais ou menos ele (o “meu” flanelinha, não o dono) fazia por dia. “Uns vinte real”. E quanto o cara cobrava?
“É dez, é quinze real, meu patrão, daqui a pouco ele vem receber. É todo dia”.
“Tá, tá certo, e se vocês não pagam?”
“Ah, aí é na lei da faca”.
A conversa foi mais longa, mas o essencial foi isso. Ele terminou me dando de troco os dois reais que tinha no bolso e ficou me devendo um real para a próxima vez. Saí me sentindo mal por não ter dito que ele podia guardar o troco que faltava. E aquilo, que no início seria apenas um diálogo forçado para evitar um atrito, terminou sendo uma conversa espontânea e amigável. De verdade.
Mas o melhor, ou o mais inquietante, foi a série de pensamentos que tive enquanto voltava para casa, quando de repente me dei conta de que tinha ido ao banco pagar o… IPVA! O pensamento mais normal seria o de indignação: aqueles camaradas estavam me cobrando por um serviço pelo qual já pago ao estado! Mas me deu um tranco na cabeça: “Peraí, e por que eu pago isso ao estado?” – Porque ele me cobra. “E se eu não pagar?”. – Aí é também na lei. Não da faca, claro, mas da multa. Mas já foi também da faca. Não é assim, à base de uma violência original, que se instala toda soberania? (Não foi matando Remo que Rômulo fundou Roma?) O “dono” do estacionamento, é verdade, estava se apropriando de um espaço público. Mas o estado, que segundo Rousseau no célebre discurso de 1753 nasceu no momento em que alguém fincou uma estaca na terra e disse “Isso é meu!”, também não se apropriou de um espaço que antes disso era de todos – logo, público? Em que o “flanelinha antigo”, do ponto de vista da filosofia do direito, estava fazendo algo diverso disso? Deu um nó no juízo e me veio a idéia, para desatá-lo (afinal prefiro a multa à faca), de reler a resposta que Hans Kelsen, autor da célebre Teoria Pura do Direito, dá a uma pergunta que ele mesmo se faz (cito de memória): “o que distingue um comando estatal do comando de um salteador de estradas?”. Mas as boas intenções morreram quando cheguei em casa. Lá me esperavam, como verá o leitor no tópico seguinte, leituras mais apaixonantes. E fiquei sem a resposta Kelsen.
***
Paz. Que palavra bonita! Estou relendo Guerra e Paz, de Tolstói – que, além de imenso escritor, foi uma figura humana desconcertante. Conde, se sentia um miserável vivendo na opulência à custa do trabalho dos servos. E não era só conversa de salão. Inventou uma pedagogia para ensinar os filhos dos seus mujiques a ler, escreveu uma versão subversiva dos Evangelhos, foi excomungado pela Igreja Ortodoxa, teve a polícia do Czar invadindo sua casa para fazer buscas etc. etc. Criou o “tolstoísmo”, uma doutrina que misturava socialismo (inspirado no cristianismo primitivo), pacifismo, vegetarianismo e… abstinência sexual! Caminhando para o fim da vida, entrou em sérios conflitos com sua mulher e sua numerosa progenitura (com exceção de uma das filhas) porque queria renunciar a todos os seus direitos autorais em favor da… humanidade. O bicho era doidão. Octogenário, e não suportando mais as desavenças domésticas, fugiu de casa a pé e terminou se refugiando numa estação de trem, de onde pensava partir para longe sem que a família pudesse rastreá-lo. Mas, doente e fragilizado, terminou morrendo ali mesmo. Há um belo filme sobre essa história, A Última Estação, com Christopher Plummer (Tolstói) e Helen Mirren (Sofia, sua mulher). É cinemão hollywoodiano. É, portanto, espetáculo, e assim embeleza bastante as coisas. Mas, no geral, é fiel à história. E, de todo jeito, como diria Truffaut, “o cinema é mais bonito do que a vida”. Por isso ele se refugiava no primeiro, como eu me protejo da feiura do mundo barricado atrás dos meus livros. Como diz um primo meu, “preciso de um trago!”















comentários recentes