
Jornaleiro.
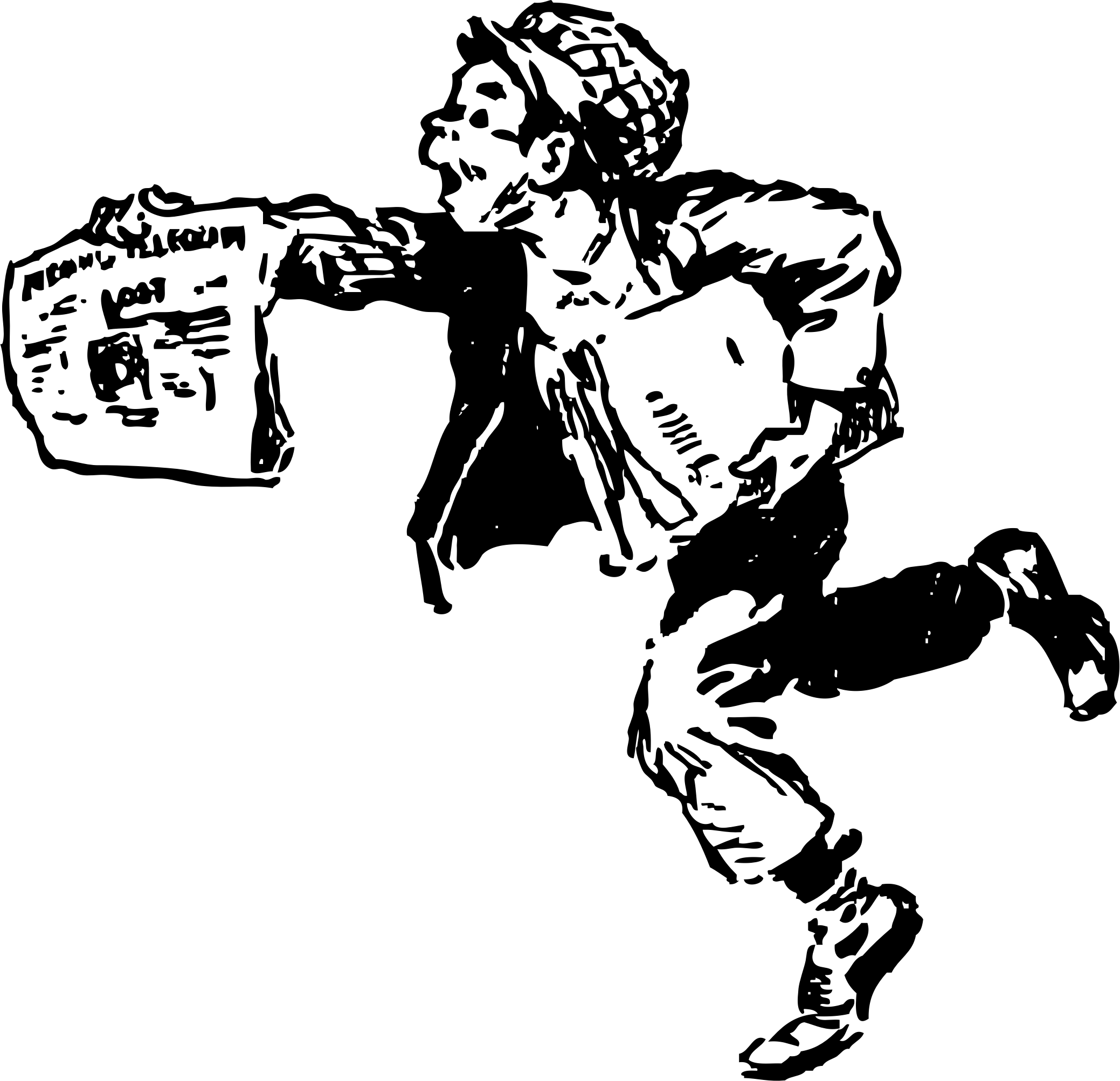 Curto, grosso e sem luvas de pelica: eu acho Jair Bolsonaro, como fenômeno político, uma coisa horrível; e o fato de haver não-sei-quantos por cento de brasileiros dispostos a votar nele para presidente da república, uma coisa horripilante. Lembram da história do “ovo da serpente”? Pois eu acho que ele é a serpente que finalmente saiu do ovo da nossa indigente democracia. Mas se amanhã ou depois ele for executado com quatro tiros de 9 milímetros na cabeça, nunca cometerei a vilania de dizer publicamente ou escrever, jubilando-me, que ele provou o próprio veneno. Como costuma dizer Vânia, minha mulher, “a morte é sagrada”. Tão sagrada, acrescento eu, que até nossos inimigos, quando morrem, têm o direito ao nosso respeito. No mínimo sob a forma do silêncio. “Na morte a gente esquece” (Aldir Blanc).
Curto, grosso e sem luvas de pelica: eu acho Jair Bolsonaro, como fenômeno político, uma coisa horrível; e o fato de haver não-sei-quantos por cento de brasileiros dispostos a votar nele para presidente da república, uma coisa horripilante. Lembram da história do “ovo da serpente”? Pois eu acho que ele é a serpente que finalmente saiu do ovo da nossa indigente democracia. Mas se amanhã ou depois ele for executado com quatro tiros de 9 milímetros na cabeça, nunca cometerei a vilania de dizer publicamente ou escrever, jubilando-me, que ele provou o próprio veneno. Como costuma dizer Vânia, minha mulher, “a morte é sagrada”. Tão sagrada, acrescento eu, que até nossos inimigos, quando morrem, têm o direito ao nosso respeito. No mínimo sob a forma do silêncio. “Na morte a gente esquece” (Aldir Blanc).
E no entanto, pelo que vi rapidamente no Youtube, percorrendo-o (sexta-feira, dia 16) para saber mais alguma sobre Marielle Franco, vi que ele está cheio de filmetos (não sei se é assim que se diz) veiculando o famoso “discurso de ódio”, o mesmo tipo de material que empanturra as famosas “redes sociais” – pântano que, como já disse aqui uma vez, não frequento. O essencial dos argumentos é esse: Marielle foi morta pela bandidagem que ela mesma protegia! Essa gente, claro, é constituída pela tulha de imbecis que, graças à internet, saiu do obscuro e merecido anonimato em que vivia – como diria Umberto Eco. Fiquei enojado. Mas por mais que a gente pense que já viu tudo, não viu. Desliguei o Youtube e fui ler a Folha. E li, na coluna de Mônica Bergamo, que uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, uma senhora que responde pelo nome de Marília Castro Neves, escreveu no seu feicebuque que Marielle (que ela tratava de “tal Marielle”), “não era apenas uma ‘lutadora’, ela estava engajada com bandidos! Foi eleita pelo Comando Vermelho e descumpriu ‘compromissos’ assumidos com seus apoiadores”. E teria sido morta por isso. No final do post (parece que é assim que se diz), rematou-o com uma pérola digna de figurar num livro que Jorge Luis Borges escreveu chamado História Universal da Infâmia: “Qualquer outra coisa diversa [outra coisa diversa é da lavra da desembargadora] é mimimi da esquerda tentando agregar valor a um cadáver tão comum quanto qualquer outro”. Repugnante!
Mas quando foi hoje (segunda, dia 19), li na mesma Folha que sua excelência, confrontada com a forte reação que seu comentário abominável provocou, meteu o rabinho entre as pernas e mudou de opinião. No seu mea culpa (que foi mais um “meia culpa”…), diz que repassou, “de forma precipitada, notícias que circulavam nas redes sociais”. E, claro, não faltaram as tais emendas que melhoram os maus sonetos: lamentou “a morte trágica de um ser humano”, afirmou que os “algozes merecem o absoluto rigor da lei” – etc. etc. Bem… Tudo bem. Na retratação a gente esquece.
Ou não! Porque, pensando bem, não dá para simplesmente deixar o dito pelo não dito, como se nada de grave tivesse acontecido. Malgrado a marcha-à-ré da segunda-feira, o que a desembargadora escreveu na sexta-feira me meteu medo. Porque essa senhora não é apenas mais um imbecil metendo os pés pelas mãos no pântano das “redes”. Ela é, como se diz hoje, uma mulher empoderada (detesto esse anglicismo!), exercendo o ofício de desembargadora de justiça, dispondo, portanto, do poder (terrível até para um sábio) de julgar. A leitura do que ela escreveu na sexta me fez mal. Mal mesmo. Naquele dia e naquele momento, voltei ao Youtube (porque ali não há apenas lixo) e procurei uma valsa de Chostakovitch que me toca profundamente. O título técnico da música é Jazz Suite nº 2 – Valsa nº 2, e não sei se ela é conhecida por alguma alcunha. Mas o público que gosta de bom cinema deve conhecê-la, porque ela é tocada na cena de abertura do último filme de Stanley Kubrick, De Olhos bem Fechados. Achei-a e ouvi-a várias vezes (dura apenas cerca de três minutos). E num determinado momento senti-me apascentado ao lembrar uma frase famosa de Dostoiévski (não sei mais se n’Os Demônios ou n’O Idiota): “o que pode salvar o mundo é a beleza”.
***
Como veem pelo menos meus cinco leitores, ando (apesar de Putin) bastante russófilo esses últimos tempos. É Dostoiévski, é Chostakovitch, é Tolstói… Ainda não terminei de ler o Guerra e Paz. Até suspendi sua leitura esta semana, porque peguei outro livro para ler. No número anterior deste hebdomadário falei sobre o filme A Última Estação, que conta o final da vida do grande escritor, morrendo numa estação de trem depois de ter fugido de casa para escapar do inferno em que tinha se transformado sua vida doméstica. Na ocasião lembrei a frase de Truffaut sobre o cinema ser mais bonito do que a vida. E é mesmo. Porque esta semana, vejam só, deparei-me por acaso com o livro do qual o filme é uma adaptação, escrito por um americano chamado Jay Parini e publicado entre nós pela Rocco. Li-o avidamente. O livro tem o mesmo título do filme, acrescido de um subtítulo esclarecedor: “os últimos dias de Tolstói”. Pois bem. No filme, Tolstói é interpretado por Christopher Plummer, ator dotado de um charme irresistível que protagonizou, no longínquo ano de 1965, o capitão Von Trapp d’A Noviça Rebelde. (“Ó tempo / suspende teu vôo”, como diria o poeta Lamartine… Ainda hoje, quando revejo esse filme, tão bobinho, me emociono! – acreditam?) O “Tolstói” de Plummer é um coroa enxuto, numa forma danada, ainda capaz de meter com sua mulher Sofia, a sensualíssima Helen Mirren (no filme, naturalmente). Na vida real, porém, o conde Lev Nicoláievitch, que sua mulher chamava carinhosamente de Lióvotchka (esses nomes russos são de matar!), era um velho decrépito que roncava ruidosamente e que não tinha mais nenhum dente na boca… O que, segundo Sofia, só fazia piorar o ronco. Truffaut, tu avais raison!


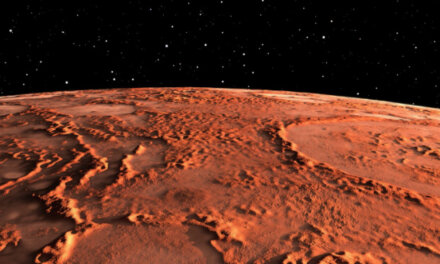












comentários recentes