10 de julho de 2019
Hoje Chico de Oliveira estará sendo velado no espaço mais nobre da Universidade de São Paulo. A Academia, o PT, o PSOL, o MST, editoras onde publicou, jornalistas que o entrevistaram, amigos, parentes, todos estarão lá lhe prestando a última homenagem. Não pude ir me despedir de meu amigo e intimei Pedro, meu filho, a cumprimentar Rebeca e cada um de seus oito filhos em meu nome. Chico foi um dos presidentes do Cebrap. Fernando Henrique Cardoso, que, com Ruth Cardoso, fizeram parte da banca que lhe concedeu o título de Professor Titular da USP, hoje correria o risco de ser vaiado com a plateia ululando Lula Livre. Que país é esse, dividido por fronteiras da sociedade pensante?
Chico se debruçou sobre essa sociedade desde que foi para isto instigado nos mesões do Cebrap. Lá se fez intelectual, trazendo a bagagem da Sudene e do exílio no México e em São Paulo, que a tantos nordestinos acolheu.
Mas hoje, no calor da hora, com a tristeza da perda, não quero falar desse Francisco Maria Cavalcanti de Oliveira que revolucionou a teoria da questão regional, ao pensá-la e escrevê-la com a pena da dialética. Quero falar do poeta Chico de Oliveira. Aquele que escrevia ciência social com paixão. O homem de olhar miúdo e doce, de sorriso aberto, cangaceiro quando carecia de brabeza. Que em todos os natais do Cebrap se vestia de Papai Noel para alegrar a meninada. Com quem organizei muitas festas de São João naquela casa. Em uma delas, apaixonado ele por Rebeca, fizemos um casamento matuto: ele, o noivo, vestido de coronel, terno branco; Juarez e Elza de pais da noiva; Procópio de padre. E nós, Flora, Rita, filha do Chico, Dalva, Quim, Andrea e eu, formando um coro de beatas cantando músicas antigas de igreja.
Tecemos uma convivência de vizinhos de sala no Cebrap, menos assentada na ciência do que na poesia. Alegramo-nos a cada novo livro publicado do conterrâneo João Cabral de Melo Neto. Quando, dissertação de mestrado pronta para ser entregue, não sabia o título, foi Chico quem a batizou de “Cassacos e Corumbas”. E eu precisei correr atrás, no último dia, na última hora, para ver onde cabia a palavra cassaco, encontrada enfim no poema “O Rio”, de nosso poeta. Depois veio a tese. Chico encantou-se com as quatro historinhas que escrevi entremeando os capítulos sociológicos e queria que a nomeasse “Eu mesmo, dona moça”. Teria naquele momento, aceitando a sugestão, assumido o que só fui me descobrir depois de setenta anos? O romance de estreia dirá.
No livro, que no seu entender, atendo-se apenas às historinhas, seria “Eu mesmo, dona moça” e que virou “Agreste, Agrestes”, pedi para o conterrâneo escrever a orelha. O que lá ele disse se aplicava, na verdade a ele próprio, “uma reflexão crítica, engajada, que recusou as prebendas do autoritarismo, foi pro campo, fez pesquisa, com mais rigor ainda, e resgatou a paixão. Não substituiu pesquisa por paixão, nem paixão por pesquisa. Juntou as duas, nessa forma admirável, em que as fronteiras do que é ciência e do que é a arte de contar se diluem”.
Meu último livro já estava na última etapa de publicação pela Cortez, que me pedia o texto da orelha. Fátima, sua filha mais velha, insistiu para que eu fosse visitá-lo, ele ficaria contente. E ficou. Foi a última vez que estive com Chico. Andava afastado das atividades por problemas de saúde. Eu lhe enviara os originais do livro, mas ele não havia lido. Li pra ele alguns trechos. Ouviu-me atentamente. Sentou-se ao computador, mas, depois de várias tentativas, disse-me que não conseguia ver bem a tela. “Escreva à mão, Chico”. E ele escreveu à mão mais um de seus poemas. “João e Josué. Como é difícil rejuntar o que não é separado. Teresa o fez e o Recife, cidade lendária como cantou Capiba, emerge de suas águas mágicas e pobres, antigo encantamento de Olinda e Olanda”.



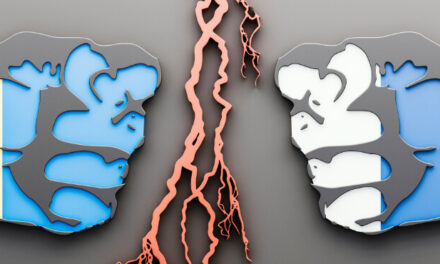










Lindo Teresa.
Meus momentos com ele foram efêmeros mas, de longa data pelo seus escritos e pela Sudene.
Bjs.
Obrigado Teresa por esse relato! Eu também estive em várias daquelas festas juninas. Vocês sempre me trataram muito bem no Cebrap, você em especial. Agora a festa junina será no céu, ele com João Cabral.
Chico de Oliveira arguto e inquieto tinha uma especial capacidade de superar paradígmas. Assim fez com “Elegia para uma Re(li)gião” em relação ao GTDN e “Crítica a Razão Dualista” na discussão com a “Teoria da Dependência”. mas o que gostaria de ressaltar em Chico era a genersidade em dedicar o seu prestígio acadêmico para apoiar as novas gerações e inciativas, oriundas da Região Nordeste. Residindo e com vida profissional em São Paulo sempre foi uma presença marcante em cursos e seminários promovidos pelos programas de Pós-graduação e ONGs da região, estimulando avanços teóricos sem partenalismo ou regionalismo. Guardo um sentimento pessoal de gratidão pela forma como ele tratou meu trabalho de dissertação . Primeiro me incentivando a publicar e dando ao trabalho um ´titulo mais atrativo para as editoras. Por fim, conseguiu a publicação por uma grande editora nacional, que eu jamais teria condições de ter contato. Publicado,( A Frente do Recife o Govrno Arraes- Paz e Terra). O Livro foi resenhado pelos cadernos e páginas literária de todos os órgãos de imprensa do Centro Sul do País. Em Chico razão e sentimento caminhavam juntos –
CHICO deixa em todos os que o conheceram um sentimento de perda, doída. O sociólogo perspicaz, o poeta cotidiano, o generoso amigo, o crítico arguto. Chico era tudo isso e muito mais. O belo texto da Tereza diz um pouco deste personagem que o Brasil não escutou suficientemente. E, no entanto, precisava, e muito.
Ângela, Miguel, José Arlindo e Elimar, desculpem se apenas hoje agradeço o comentário de vocês à minha homenagem ao Chico. Valeu.