
Mesquita Azul Istambul – Mesquita do Sultão Ahmed.
Sr. Editor, longe de ser eu a pessoa mais abalizada para dar referências ao eclético meio literário português, recebi com alegria o desafio que me lançou de deslindar num arrazoado breve as razões pelas quais vossa estimada Casa deveria publicar “Crônicas turcas“, de autoria da escritora e linguista francesa Pascale Malinowski. No que dependesse de mim, posto que não vejo nas minhas palavras lastro suficientes para respaldar uma decisão, preferia que tivesse distribuído os originais entre dois ou três colaboradores versados nessas lides, para que eles próprios dessem uma chancela conclusiva sobre a preciosidade que o senhor tem em mãos. No entanto, se a apresentação parte de mim, por positiva que venha ser, imagino que quando muito, o livro será submetido a uma segunda avaliação, pelo que vejo minha interferência como gesto de cortesia e deferência de sua parte, que de pronto agradeço.
Ora, ter histórias para contar já não é coisa fácil. Na maioria das vezes, os relatos podem diluir-se fragilmente numa crônica anódina, dessas que não vão além do compartilhamento entre familiares e amigos. Tê-las e saber contá-las, porém, é tanto uma dádiva para o escritor quanto uma missão que lhe pesa como um suplício. Isso porque as vinhetas passam anos a lhe pregar peças nos labirintos da memória, ou nos escaninhos do coração. À sua maneira, como o coelho treloso dos desenhos animados, elas surgem de forma fortuita em sonho, escapam ao amanhecer ante os imperativos do viver o aqui e o agora, mas reaparecem à tarde, como se dissessem que resgatar o lá e o ontem é também condição fundamental para que a vida siga o curso. Só o escritor de verdade sabe o que é essa pulsão infernal. E uma hora, se tudo correr bem, a auto-delação ansiará pelo prêmio da memória lavrada.
Nesse contexto, sr. Editor, ao cabo das noites que passamos a prosear em Estrasburgo, a autora e eu, não rara vez tive dificuldade de adormecer na sequência de nosso bate-papo policrômico. Mais do que os eflúvios dos bons vinhos, borboleteavam na minha imaginação aqueles relatos cheios de aromas, cores e sons que emanavam das margens do Bósforo, em algum momento silente da Guerra Fria, do saguão do hotel Pera, e dos salões de um restaurante idílico, de onde se divisavam das embarcações que singravam ao largo da ilha onde morou Leon Trótski. Ora, sendo eu próprio um viajante magnetizado por Istambul, a narrativa oral da autora predizia que tinha muito a contar. De mais, meticulosa e memorialista desde sempre, no dia que se dispusesse a digitar uma fração de suas reminiscências, páginas de enlevo e emoção veriam afinal a luz do dia. Foi o que aconteceu aqui, permita-me adiantar.
Dizer, pois, que essas “Crônicas Turcas” se leem de uma sentada é mais do que um clichê imperdoável e perigoso. Pois seria como convidar o leitor a ceder à compulsão da gula, como é comum que nos inspirem as delícias otomanas. E isto seria grande pena porque o que temos aqui é um presente em cada capítulo. E, como presentes especiais que são, temos que desembrulhá-los um a um, examinando-lhes a qualidade do papel, a beleza da fita de acetato, e os odores que exala a caixa quando aberta. Assim sendo, mesmo viajantes de longo curso, seja no campo físico ou virtual, haverão de apreciar a riqueza oriental que emana desse texto econômico, despojado e também divertido. Lavrado com leveza por uma prodigiosa menina ocidental, de vocação marcadamente universal, asseguro que até Ohran Pamuk, contemporâneo da autora, se emocionará ao lê-lo, se a tanto tiver o privilégio.
Tudo começa na mítica Gare du Nord parisiense, ao lado do não menos mágico Expresso do Oriente. Antes de embarcar, porém, assomam as digitais da amiga da humanidade de ontem e de sempre. Ao ver um argelino ser brutalmente carregado por policiais por conta de um delito menor e questionável, algo no olhar da vítima parece querer segredar à menininha de traços delicados que não o considerasse um delinquente. Este olhar singular e acolhedor, pelas muitas décadas que daí se desdobrarão, acompanhará a autora por diversas partes do mundo. Mais do que uma epifania, ficou-lhe como um traço determinante, como a sinalização identitária de que, se tivesse que ter um lado, este seria o do vulnerável, jamais o do opressor. E esse compromisso para com os párias, os desvalidos, os sem vez nem voz, sem lugar à pieguice, haverá de se lhe colar como tatuagem. Pascale gosta de gente tout court.
No vagão, nada lhe escapa. Das alcatifas macias que a tentavam a andar descalça à prataria aparatosa do jantar, tudo remete a uma chegada triunfal a Veneza, cidade que parece ser escala inelutável de todo grande escritor e cineasta. Numa prosa sem artificialismos nem edulcorantes, chegamos à praça San Marco, então sob espesso manto de neve, não sem antes cruzarmos um inusitado cortejo fúnebre aquático, pincelado com estupor palpável pela garotinha de dez anos. Se o trajeto ferroviário fora feito au grand complet, o mesmo não se pode dizer do navio que levou os cordiais Malinowski a superar os vagalhões do Adriático rumo às águas calmas dos remansos do Mediterrâneo. Percorrendo então uma geografia que ainda hoje lhe é cara, num relato repleto de referências deliciosas a enjoos, mas também a descobertas, chegamos por sua mão a Atenas. E, de lá, por fim, ao Chifre de Ouro.
Ora, conheci Pascale nos anos 1970 no Recife, Nordeste do Brasil, onde ela era professora na Aliança Francesa. Mal sabíamos então, os numerosos alunos que lhe compunham um sólido e fiel fã-clube, que por trás do sorriso permanente, da voz bem modulada, toda feita para facilitar nossa compreensão e eliminar barreiras de quaisquer ordem, vicejava uma menina que também vinha de uma infância como a nossa, a dos adolescentes brasileiros. Qual seja, toda ela fora ornada de sabores de sorvete, pregões de amoladores de faca, pequenos ritos colegiais que traíam um pouco de ridículo, liturgias de camaradagem forjadas em períodos de férias e as delícias dos que tiveram o privilégio de crescer em lares cheios de ternura, de suporte mútuo e, sobretudo, de incontido amor pelo conhecimento, pela linguística, pela cultura, pelas artes e pela História das Civilizações.
E de onde vinha tudo isso? Da endiabrada menina que, não contendo a curiosidade, especulou sobre o que faziam dois franceses no terraço de sua casa certas horas da madrugada, a bisbilhotar pelos binóculos o movimento do Bósforo em plena Guerra Fria. Repreendida pelo zelo materno, os próprios russos haveriam de se expor além do que queriam. Ao recusar o acesso de um prático de manobra à bordo, um carregamento militar se estatelou contra uma mansarda, deixando a nu – de forma Felliniana – que Istambul era sim uma encruzilhada da comunidade de informações, da geopolítica, enfim, um termômetro de seus tempos. E isso não lhe escapava. Ricamente pontuados por palavras turcas e seus significados, os relatos recendem a pistache e cardamomo. Sem ajuda de glossário, a autora nos faz saborear a textura das palavras otomanas no corpo da narrativa, que se revela sensual.
Que distinção e responsabilidade apresentar esse pequeno tesouro que agora o senhor tem em mãos. Em algum lugar de minha vaidade, ecoa uma voz a dizer que, em parte, à custa de tanto insistir, ajudei a catalizar este encontro da Pascale globe-trotter e inquieta, com a memorialista de grande talento que aflorou de dentro dela. “Crônicas Turcas” irá para minha mesa de cabeceira ao lado de Montesquieu, Marco Polo, Ibn Battuta, Edward Saïd e Elias Canetti. Discreto hino de amor à diversidade, tenho certeza de que sua própria editora pedirá, na sequência, que ela lavre suas reminiscências dos Bálcãs, da América Central e, como não poderia deixar de ser, do Brasil e do Nordeste, que ela conhece como poucos. Enfim, dê-se ao prazer de também lançar-se à leitura de alma despojada. A Turquia aqui vibra e impregna o ar da chamada à reza dos muezzins.
No final, a exemplo dos muitos leitores que o livro terá, o senhor também dirá: eis uma vida bem vivida.



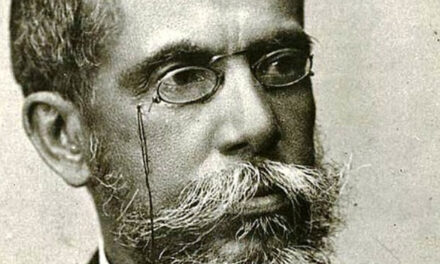











Certa ocasião, perdida nos meus pensamentos desorientantes que custam se calar, perguntara para o analista: o q venho buscar? Disse-me palavras. E hoje o q busco? Palavras? Continuo, de sala em sala não de analistas, mas onde posso ter um pouco de não pensar numa desvairada loucura. Limpo onde o pó se instala, pois estou a colecionar palavras, palavras, palavras… algumas lidas outras a ler. Às vezes encontro nelas um ponto e me faz andar, por caminhos escuros, sem saber o q vou encontrar.
# faltaram colocar
: dois pontos
no comentário
# o que venho buscar?
Disse-me: palavras