I
Em meados de janeiro, morreu a filha de um amigo escritor. Longe de São Paulo, fui tomado pelo desespero de não poder estar com ele naquela hora. Não que soubesse o que dizer, ou que sequer intuísse com que palavras tentaria aplacar a dor de um pai a caminho dos 80 anos, diante de uma vida que era também parte da sua, ceifada aos 50. Na verdade, o que eu queria era apenas estar ao lado dele, perguntar do que precisava, providenciar um remédio, desvencilhá-lo de providências práticas de qualquer ordem, e assegurar que tudo corresse bem. Mas eu não estava no Brasil. Confinado num ponto remoto da Europa Central, tudo o que pude fazer foi trocar mensagens por telefone com os demais amigos que estavam fazendo as honras, e, remotamente, inteirar-me sobre como ele estava, e quais os prognósticos que o cercavam dali em diante. Foi então que um dramaturgo, amigo comum a ambos, disse: “Ele se salvará. Ele sobreviverá à morte dela no médio prazo, o que quer que isso signifique aos 76 anos. A única coisa que eu consegui aconselhar foi que ele se aferrasse à literatura. Você sabe, a cada um seu Deus. E a literatura é o Deus dele.”
Em fins de fevereiro, numa curta temporada em São Paulo, pude então levar-lhe meu abraço e ouvir de viva voz sua descrição do infarto que a fulminou. “Era para mim, rapaz, não era para ela. Era minha vez, você sabe disso. Há quantos anos já não tenho esse coração operado? Será que não teria sido mais justo que fosse eu a embarcar? O que me resta agora é escrever sobre ela. É o que estou fazendo, é no livro que me seguro para aguentar a onda. E você, o que me conta?” É claro que nada há de simples numa hora dessas. Por mais de uma vez, ele esteve à beira do choro. Por outro lado, riu com vontade com uma singela piada nordestina que lhe contei, e, ao vê-lo gargalhar com o corpo todo, me senti o mais afortunado dos homens. Só depois falamos de escrever, das vicissitudes de ser editado e distribuído, e da proximidade emocional que vem unindo os artistas de forma geral. “Pode até ter uma polêmica ou outra estourando por aí. Mas me parece que a classe está mais unida. Deve ser uma espécie de resposta a esses tempos em que ser ignorante virou moda, e em que a pouca educação, se alguma, é pré-condição para o sucesso.”
*
O tempo passou. Dias depois, já de volta à Europa, reuni-me com um candidato a agente literário. Em janeiro, tentáramos uma reunião em Timisoara, na Romênia, mas o encontro não aconteceu porque ele cancelou-o à última hora, o que me desagradou bastante. Em Viena, tudo correu bem – pelo menos na minha perspectiva. Já na dele, não estou seguro de que tenha voltado para a Alemanha muito feliz. Explica-se. Ora, ele é um agente de longo curso. Apesar de não trabalhar com grandes nomes da literatura, sabe ser um homem de negócios prendado e pragmático. Quanto a mim, convenhamos, nada sou. Faço pequenos experimentos aqui acolá, colocando o que chamo de literatura sempre a reboque de imenso voluntarismo, quando não de certa vaidade. Sem qualquer método de trabalho sério no que tange à produção literária, o que faço é escrever textos de caráter jornalístico um pouco duvidosos para revistas, sites, jornais e redes sociais – o que me alija cabalmente do cenário em que se encontram os chamados escritores sérios, gente que está disposta a sacrificar muito em nome de um livro que se somará a outros, perfazendo um simulacro de obra.
“Eu gostaria de ser sincero com o senhor. Não posso me permitir trabalhar para diletantes, por talentosos que sejam. Quando recebi seu Lebenslauf, certamente me impressionou sabê-lo bem rodado de mundo, o que é um bom ponto de partida para a vida artística de forma geral, e também para a vida não-artística. Mas quando vi sua dedicação às práticas um pouco mundanas, chamemos assim, cheguei aqui com séria dúvida se estaria diante de um escritor ou de um escrevinhador inspirado, que nunca se importou em colocar valor no que produz? É essa a pergunta central de nossa conversa. Dela dependerá o resto, se me permite ser tão direto. Dito de outra forma: o que o senhor quer ver publicado? Que motivações profundas, ou não, o movem a ponto de querer um agente de certa envergadura, se me permite a imodéstia? O que há de tão premente a apresentar às editoras que um diletante não possa fazer só? Tem algum trabalho que precise ver a luz do dia ou se trata tão somente de saber que tem quem zele pelos seus interesses para, só então, se debruçar sobre a confecção de um trabalho de peso?”
*
Preciso dizer que Budapeste é a capital que mais amo na Europa? Acho que não. Seja qual for a estação, chego aqui de alma alegre, como se de alguma forma a imortalidade me tocasse, como se eu fosse um homem quase indestrutível, cheio de reservas internas para fazer face às adversidades mais variadas, e a reatar a qualquer instante com a alegria de viver. Senti isso ao chegar na estação de Keleti, ao ver os prédios da região ainda polvilhados de fuligem. Senti isso ao caminhar pelas margens de Buda para de lá ver Peste à noite, mesmerizado diante do Parlamento – tal e qual me senti aos 19 anos, no mesmo ângulo do Danúbio. Voltei a sentir isso no café Gerbeaud, enquanto comia uma torta de abricó e tomava um chá verde, cercado pelos óleos vetustos de uma das mais tradicionais confeitarias da Europa Central. À minha mesa de trabalho, de onde agora escrevo, pico fatias finas de salame. São todos caseiros – alho, páprica, pimenta. A toda hora, corto um pedacinho e esse aroma me transforma. Se estou com sono, desperto imediatamente. Se estou pesaroso, a angústia (tão rara) se dissipa. Se estou encalacrado num impasse criativo, eis que o salame magiar me dá um empurrão. Que ninguém nos ouça.
Aqui gosto de ir para a rua, de caminhar pela ilha Margit, de deambular pelas margens do Danúbio, e de subir os contrafortes de Buda. Gosto sobretudo de passear em Peste, de entrar nas livrarias para folhear livros nessa língua do cão, trocar um olhar com uma dona de casa cheia de sacolas, pegar um ônibus sem destino e ver onde termina a linha. É como se os minutos que passo longe da rua fossem me fazer falta mais adiante, e eu deplorasse até o tempo que gastei na cama. O que mais dizer, se lá fora é quase primavera, se o termômetro está a dois dígitos bem suportáveis, e os passarinhos começam a se animar nas calçadas da Andràssy, essa rua mítica que me fascina desde 1978, quando caminhei por ela pela primeira vez e, embriagado, tive a sensação de ver e escutar os tanques do Pacto de Varsóvia, que vieram espezinhar um fiapo de democracia? E o que dizer daquele restaurante magiar da Victor Hugo, onde comi truta dos Cárpatos e dei uma gorjeta milionária ao violinista (talvez U$1), o que causou comoção no pequeno lugar? E os cílios chamuscados que levei da rua Gogol quando, meio lento, deixei o gás escapar e risquei o fósforo com imperdoável atraso? Ah, Budapeste, pena que não poder ficar.
II
Depois da primeiro encontro com meu amigo enlutado, tão pronto percebi que ele estava sob controle aparente e que a vida seguia seu curso, contei-lhe que logo voltaria à Europa. “Deve rolar mais um livro de contos esse ano, lá por abril, acho eu. Quando estou lá, piloto bem as coisas do Brasil, evito o desgaste do calor e da política, economizo dinheiro e me divirto muito mais.” Ele ficou me contemplando e só então percebi uma formação de catarata que desceu-lhe sobre o olho esquerdo. Seria uma especie de somatização das dores recentes? “E os livros, meu caro? Como vai aquele projeto bojudo, o tal romance que você vivia dizendo tanto dever a você mesmo?” Poucas perguntas podem me causar tanto embaraço quanto essa. Como responder? O que dizer? Sempre que ocorre, lembro do livro “São Bernardo”, de Graciliano Ramos. Em dado momento, Padilha, dono da propriedade cobiçada por Paulo Honório, diz que vai plantar na fazenda, e que logo quem chegasse ali veria tratores, descaroçadores de algodão, mandioca à farta. Pressionando-o para abdicar de seus planos algo idiotas, e ansioso por concluir a transação, o credor espezinha a moral do farrista com zombaria. “Aliás, onde estão as máquinas, seu Padilha?” Este, então, corava de vergonha, tergiversava, pigarreava e se saía com um “carece mangar, não” – ou algo assim.
Meu romance, portanto, é como o maquinário de Padilha. Não existe, sorveu recursos a fundo perdido e me dilacerou a autoestima. Fixando o olhar mortiço de meu amigo, parece que não soube o que dizer. “Sei lá, bicho, está lá, não toco nele há muitos meses, mais de ano, se quer saber. Desde que o comecei, já escrevi outro. E tenho encontrado mil desculpas para deixá-lo para depois. Fico parecendo, perante mim mesmo, aqueles maníacos que poupam para fazer uma viagem um dia e, de tanto poupar, deixaram suas reservas para os herdeiros e nunca conseguiram levar a termo os planos. Isso porque sempre ficaram esperando por condições ideais para desencadeá-los.” Ele tratou de me consolar como pode. “É assim mesmo. Tempo desses, passei um ano escrevendo só lorota. Deploro hoje cada minuto jogado fora. Agora assumi uma missão tão severa comigo mesmo que voltei a temer a morte. Só preciso de um mínimo de saúde para resgatar em livro minha história com a minha filha. Antes disso, não posso morrer. Não há escritor de verdade que viva sem esse elemento, meu caro. Se você não o tem, sugiro que pendure as chuteira, vá ler bons livros e ganhar dinheiro. É mais negócio.”
*
Gostei daquele homem chamado Lothar? Ora, não era uma questão de gostar ou não. “Eu tenho um livro dentro de mim, HerrKappel. Nada me amedronta tanto quanto deixá-lo inconcluso. Temo uma enfermidade incapacitante por todos os motivos óbvios, mas, especialmente, por não poder terminar o tal livro. Só que…” “Es gibt nur…was?”, perguntou ele com o olhar cravado no meu, e, por um momento, me ocorreu que ele não tinha catarata alguma, como o amigo de São Paulo. “Só que o processo criativo parece que estancou.” Ele é mesmo do ramo. “Estancou ou o senhor não tem se dedicado a ele, mein Herr? Seria atrevido demais dizer que artigos de jornal e de revista trazem uma gratificação mais imediata, o que o faz relegar o livro a segundo plano – só cabendo-lhe o primeiro plano em seus sonhos, para não dizer devaneios?” Antes tivéssemos enfrentado a pequena fila do Café Central, pensei. O barulho do ambiente e os cochichos dos orientais teriam desviado um pouco o foco, desanuviando aquele quadro de semi-confrontação que se anunciava. Lothar Kappel é um homem feioso, apesar de elegante. Tem algo de matador nele, devo admitir. Mas também uma simpatia provocadora que custa a aflorar.
“Quer mais um chá?”, perguntei-lhe enquanto falava com o garçom do hotel, um austríaco com ares de aldeão que por pouco não trabalhava de calça de couro, à moda bávaro-tirolesa. “Danke schôn, nein.” Nessas horas eu queria voltar a fumar. Acender um cigarro como eu fazia, teria propiciado um minuto valioso de reflexão. “O senhor tem razão, Herr Kappel. A dificuldade não se prende tanto a fazer o livro, senão à de me acercar das condições de continuar o trabalho iniciado. Admito que me disperso com outras publicações e seria insano negar que horas preciosas terminam indo para o ralo em função de trabalhos que estão longe de ter a transcendência de um bom livro.” Ele pareceu triunfar, mas o ar algo soberbo não durou segundos, dando lugar a um sorriso. “Nossas pesquisas nunca falham. Um passeio pelas redes sociais já nos diz muito do que precisamos saber hoje. Gostei do senhor. O que posso dizer, portanto, é que arregace as mangas e esqueça todo o mais. Termine seu romance e torça para que a feira de Frankfurt aconteça normalmente em 2020. Quem sabe não nos veremos por lá? Agora se me permite…”
*
Eu ainda estava no trem quando me dei conta de que não podia ficar na capital. Quando muito, poderia lá fazer uma escala para matar as saudades, mas era impraticável permanecer ali. Se não fosse para o interior, na região do Balaton, e se não me hospedasse num lugar de escassas amenidades, o trabalho pouco sairia do lugar. E, mês após mês, o desespero tomaria conta de mim tanto quanto acomete um insone ao se aperceber da passagem do tempo, e do perigo que representa a chegada da manhã. O que era para ser um dia, foram dois, quase três. Evitei as livrarias, fugi dos jornais, e mal liguei a televisão. Imprimi as dezenas de folhas de que constava o livro – o que tinha até então escrito dele, em todo caso – e o levei para todos os lados. Podia até não lê-lo, sequer folheá-lo, mas contava com os benefícios cruzados dessa osmose. Então peguei outro trem e viajei para as margens frias de águas azuladas. Do que precisaria doravante? A rigor, de nada. A sós com meu projeto de livro, dei-me então uma quinzena para colocá-lo nos trilhos, consolidando a estrutura e me atendo ainda pouco à forma. Nunca uma missão tida por prazerosa pareceria tão torturante.
Hoje levantei às cinco horas da manhã. Fazia noite fechada e um frio de 4 degraus. Aqueci a água para um chá e pensei em como estaria meu amigo que perdeu a filha. Passeando pelos cenários recentes, me perguntei se Lothar chegou em segurança a Hamburgo, e se ficou muito enfurecido com a reunião pífia de Viena. Queria ele me espicaçar os brios ou essa seria uma forma de viver meu narcisismo? É provável que sim porque é certo que ele tenha muito mais com que se preocupar. Trabalhei continuadamente até as dez horas, quando me lembrei de que é prudente calçar a meia de compressão nessas horas, para estimular a circulação nas pernas. Saí então para uma caminhada de um par de horas, e fui almoçar nesta cidade que todos dizem ser feérica no verão, e que hoje hiberna em paz. À tarde, senti vontade de dormir por uma hora. Ao despertar, fiquei na cama a matutar sobre algo que jamais me ocorrera como tal: o romance é uma categoria nobre da produção intelectual. Levar a cabo um de razoável ambição, não acontecerá sem dores e renúncias. Mantido distante de ambas por anos, entendi por uma vez o olhar baço de meu amigo e a provocação instigante de Lothar Kappel.
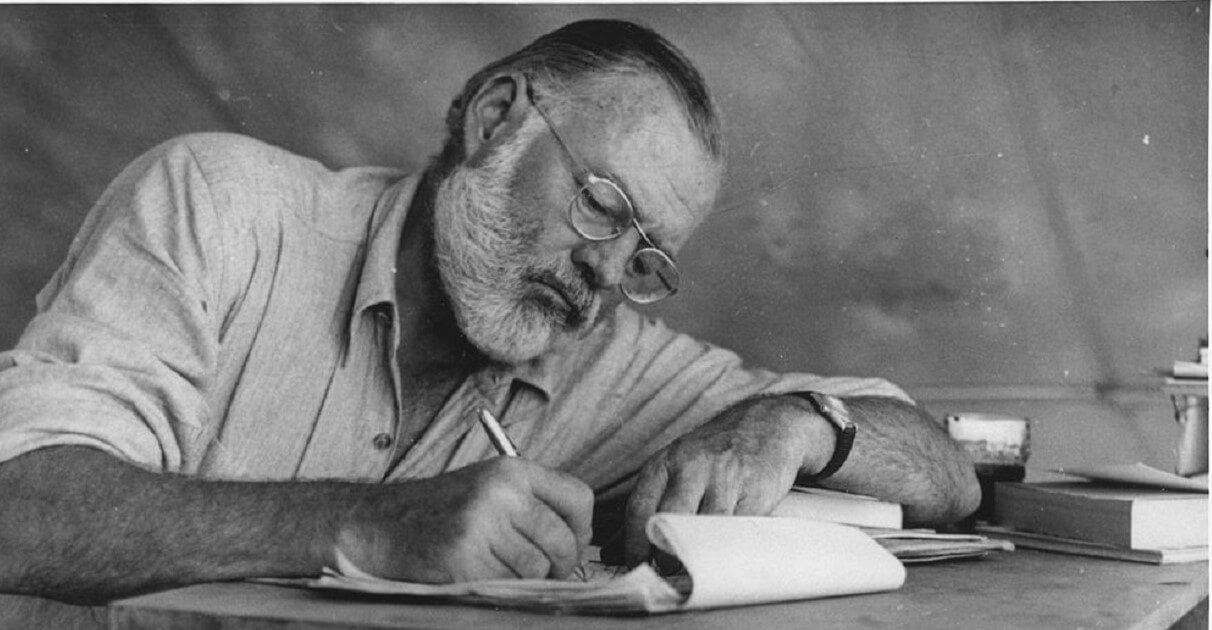
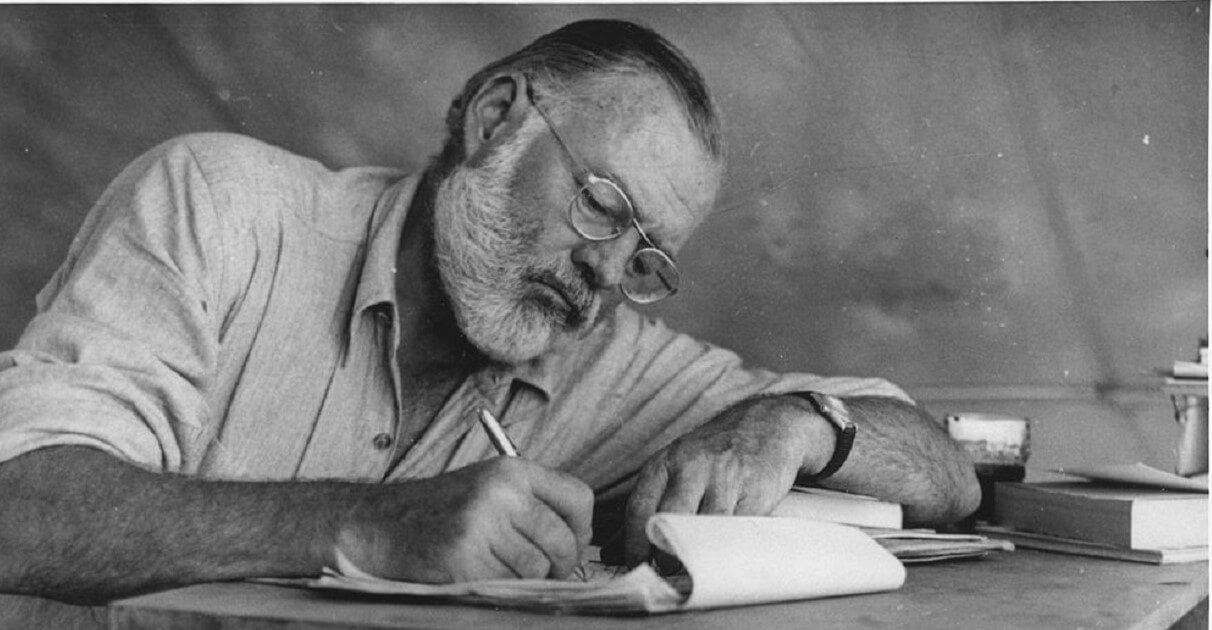
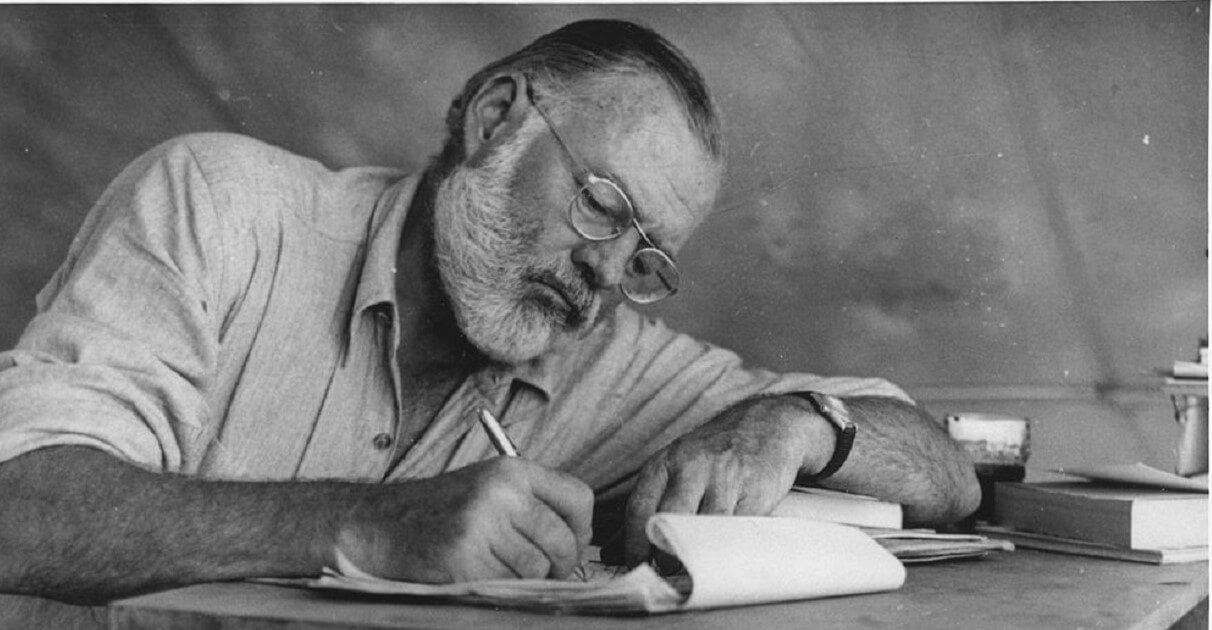

comentários recentes