Jean Marc von der Weid, outubro de 2023
Muita gente qualificada ou não já gastou um amazonas de tinta (metaforicamente, é claro, ninguém escreve mais com tinta) a partir dos mais diversos ângulos (militar, político, diplomático, geopolítico, sociológico, histórico, …). Abordagens pró e contra Israel, com ou sem inclusão dos Estados Unidos e pró e contra o Hamas tenderam a dominar as mensagens. Uma parcela minoritária da esquerda condenou o Hamas e defendeu a causa palestina e foi execrada nas redes. Será que existe algo de novo ou de diferente a ser apresentado neste tema? Provavelmente não, mas vou assumir o risco de chover no molhado, sem pretensão de ter uma abordagem diferente ou de trazer novas informações. É no arranjo dos argumentos que espero fazer uma diferença e, sobretudo, na avaliação dos possíveis desdobramentos.
Antes de entrar na matéria, gostaria de analisar alguns argumentos que encontrei, mais ou menos explícitos entre os defensores das ações do Hamas. De forma sintética, eles podem ser reduzidos a algumas frases:
Os fins justificam os meios.
O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
A violência dos oprimidos se justifica pela violência dos opressores.
Guerra é guerra.
Estes argumentos concernem a definição de terrorismo neste debate. Na esquerda ninguém discute a existência de um terrorismo de Estado aplicado pelo governo israelense; os fatos falam por si. Mas uma parte da esquerda recusa-se a condenar o Hamas e a caracterizar sua ação como terrorista. Os mais explícitos defendem o direito do Hamas de massacrar civis israelenses como parte de sua estratégia político-militar, aceitando, no limite, que esta ação terrorista seja admissível no contexto desta guerra desigual. Outros discutem se o termo terrorismo é aplicável neste caso. A meu ver trata-se da busca da divisão em quatro de um fio de cabelo, ou seja, jogo de palavras para disfarçar uma posição altamente impopular de apoio à atos de violência contra inocentes.
Acho que, não fosse esta camisa de força ideológica, os fatos também falariam por si na caracterização da violência do Hamas. Só o negacionismo mais cru e cruel pode desconhecer que o assassinato a frio de mais de mil civis israelenses, quer na rave quer nos Kibutz ou nas estradas e vilas, foi um típico ato terrorista, em qualquer dicionário de política que se acesse. Argumentos querendo minimizar os atos como excessos de (alguns) palestinos revoltados por décadas de violência e opressão não fazem sentido quando se olha a amplitude do massacre. Bastante claro, as mortes foram planejadas pela direção do Hamas e executadas pelos seus quadros militares. Não é uma “reação visceral”, explicável com sociologia e psicologia, mas um ato preconcebido e com objetivos políticos e sobretudo militares.
Qual o objetivo político? Indicar para a população israelense que ela está vulnerável e, com isso, enfraquecer o governo de ultradireita de Netanyahu. Do ponto de vista da população de Israel, segundo pesquisas de opinião que ninguém questiona, a tática deu certo e o primeiro-ministro tem quase 80% de desaprovação. Mas e daí? Em que este impacto favorece os objetivos estratégicos do Hamas? Só para lembrar, o Hamas defende a liquidação do Estado de Israel e é de todo impossível que os cidadãos israelitas, de todas as posições políticas e ideológicas, venham a aceitar esta posição, por mais que fiquem preocupados e mesmo deprimidos com o estado de guerra interminável com as organizações palestinas.
E o objetivo militar? É claríssimo o fato de que a força armada do Hamas, que pode dispor de alguns milhares de combatentes, não tem poder para derrotar o exército israelense, não só muitíssimo mais bem armado como muitíssimo mais numeroso. O Hamas provocou o exército israelense com os massacres, e recuou para o labirinto de ruelas e túneis da faixa de Gaza, onde se aglomeram mais de dois milhões de pessoas. O governo de Israel adotou, até agora, uma posição de retaliação punitiva através de bombardeios pretensamente cirúrgicos para destruir a infraestrutura civil e militar do Hamas. É uma ação de baixa eficiência militar e alto custo político, já que a população civil é quem paga o preço nos bombardeios. Abrigados em túneis, os militares e militantes do Hamas estão a mais de 50 metros de profundidade, e podem esperar razoavelmente intocados que Israel reduza a parte norte de Gaza a um monte de escombros.
O governo de Israel acusa o Hamas de usar a população como “escudo humano” para inibir os bombardeios e se exime da responsabilidade das baixas civis provocadas pelas suas bombas. É isso mesmo que o Hamas está fazendo, mas o objetivo não é impedir os bombardeios porque nos muitos anos de ação da artilharia e da força aérea israelense isto nunca aconteceu. O objetivo é desgastar politicamente as forças armadas israelenses e este objetivo está sendo amplamente alcançado no plano internacional.
O governo israelense sabe que os bombardeios têm efeito politicamente negativo e têm efeito pífio militarmente, mas não tem alternativa a não ser a invasão da faixa de Gaza. Esta decisão parece que já foi tomada desde os primeiros dias da crise, mas vem sendo adiada por várias razões. A primeira foi a ordem de evacuação da população da região norte, com o objetivo de isolar os militantes e militares do Hamas e permitir um bombardeio ainda mais pesado. Há controvérsias sobre as novas bombas americanas adquiridas por Israel, e que seriam capazes de atingir os mais profundos túneis. De toda forma, até para chegar a este ponto da destruição da infraestrutura de proteção do Hamas, o impacto sobre o conjunto das edificações neste território vai deixar o monte de escombros de Stalingrado no chinelo. E calcula-se que ainda sobram quase 500 mil civis palestinos, homens, mulheres, crianças, velhos, doentes na futura “no man’s land”. O bombardeio pré-invasão terrestre vai ser um banho de sangue e o isolamento político e diplomático de Israel no mundo vai se aprofundar.
Como o exemplo citado de Stalingrado já demonstrou, o combate entre escombros de uma cidade arrasada diminui as vantagens do combatente mais equipado, impedindo a ação de blindados, por exemplo. Fica favorecido o combatente com mais mobilidade, como deverá ser o caso dos militantes do Hamas usando os túneis e, sobretudo, os mais aguerridos. Apesar da fama de super força armada, o exército de Israel não tem uma infantaria com experiência neste combate de rua, de túneis e de escombros e o grau de entusiasmo dos seus jovens é certamente menos intenso do que aquilo que a imprensa ocidental chama de “fanatismo” dos militantes do Hamas. Vai ser outro banho de sangue, incluindo um contingente de soldados israelenses em proporções nunca vistas nas suas guerras anteriores.
O Hamas pode estar apostando, também, na expansão dos combates, atraindo ataques do Hezbolah a partir do sul do Líbano e do oeste da Síria. Seria um enorme aumento na pressão militar sobre as forças armadas de Israel que teriam que lutar em três frentes.
Muita coisa está ainda em especulação, inclusive a invasão de Gaza, depois dos conselhos dos militares americanos em contrário, acompanhados pela oposição pública de Biden, apesar de todo o seu “apoio total” a Israel.
“Last but not least”, é preciso avaliar os impactos geopolíticos e diplomáticos desta crise. Há quem atribua a ação do Hamas a um “estímulo” do governo iraniano, cujo objetivo seria evitar os acordos sendo negociados com os auspícios do governo americano, entre Israel e a Arábia Saudita, que isolariam a posição dos aiatolás no Levante. De fato, governos com acordos com Israel já consolidados, como os do Egito e Jordânia, somaram-se aos do Líbano, Síria, Turquia, OUA (Organização da Unidade Africana), Arábia Saudita, Emirados Árabes entre outros, para condenar Israel.
O isolamento de Israel está arrastando a diplomacia americana para o mesmo buraco, como ficou patente no veto (um contra 12 e duas abstenções) no Conselho de Segurança da ONU. A proposta brasileira da criação de um corredor humanitário foi extremamente hábil e representou uma espetacular vitória política do Brasil na presidência do Conselho. Vitória tão mais importante por colocar a nu a caduca estrutura decisória do Conselho, com os poderes de veto atribuídos aos países vitoriosos na Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China). Esta posição anacrônica é dura de entender para quem não estuda a história da ONU. Afinal de contas, quando esta decisão foi tomada em 1945, nem a França nem a China podiam ser consideradas forças vitoriosas na II GM. Mas o temor dos EUA de uma expansão comunista nos dois países levou a valorizar sua participação como parte de uma política de neutralização, que deu certo na Europa, mas não na Ásia. O presidente Lula tem repetido a crítica a este sistema ultrapassado pela evolução da geopolítica, pleiteando uma redistribuição de responsabilidades com maior destaque para forças como Índia, Japão, Indonésia, África do Sul, Egito, Alemanha, Canadá, México e Brasil. O absurdo do poder de veto ficou mais do que evidenciado neste episódio.
A discussão mais importante nesta crise deve ser a da busca de uma solução para o impasse que já está fazendo quase 75 anos.
As resoluções da ONU definindo a existência de dois Estados, representando a nação israelense e a nação palestina, são tão velhas que é preciso que sejam revistas em função das transformações ocorridas desde então. A alternativa de um Estado laico, unificando os territórios hoje em disputa, com direitos iguais para os dois povos vem sendo levantada por alguns analistas, mas será possível neste quadro com três gerações de conflitos?
O problema de fundo está na origem da criação do Estado de Israel. O movimento sionista, iniciado sem muita expressão no final do século XIX, tem como princípio o “direito” dos judeus a uma nação e um Estado próprios, localizado na região imprecisamente definida como Palestina. Com base nesta ideia, promoveu-se uma migração de judeus de todo o mundo, que foram se estabelecendo em terras, inicialmente parte do império Otomano e, após a primeira grande guerra, sob o controle de um “protetorado” britânico. A mobilização de recursos dos judeus da diáspora, sobretudo dos Estados Unidos e da Inglaterra, comprando terras dos nativos da Palestina permitiu a formação de assentamentos judaicos, os kibutz. Com o fim da segunda grande guerra e o impacto político do Holocausto promovido pelo nazismo, este movimento ganhou muita força e os assentamentos foram se multiplicando com a migração dos sobreviventes, sobretudo dos países do leste europeu e da antiga União Soviética. A pressão pelo reconhecimento do direito à nação judaica foi crescendo, inclusive no território sob controle britânico, com o uso do terrorismo por organizações judaicas como a Hagana e o Likud. A decisão de criar o Estado judaico, intitulado Israel, foi tomada sem se considerar que a população judaica, seja de nativos da região ou de migrantes de outras partes, era muito inferior à população muçulmana. A propaganda pró Israel falsificou esta realidade com uma narrativa absurda onde foram apresentadas as manchas de terras compradas pelos judeus em contraste com espaços supostamente vazios. Nestes espaços, ditos vazios, mais de dois milhões de não judeus viviam há séculos, mas foram deslocados manu militari, em ações com características terroristas, nos anos imediatamente posteriores à fundação de Israel. Empurrada para Gaza e para o Líbano, esta população foi viver em acampamentos de refugiados que estão na origem do movimento permanente de retomada das suas raízes territoriais. Este movimento de ocupação foi sendo estimulado pelo novo Estado, com maior ou menor ação agressiva, inclusive guerras que levaram à expansão territorial de Israel, tomando a Cisjordânia da Jordânia, as colinas de Golã da Síria e pedaços (menores) do Egito e do Líbano. Nestes territórios as colônias judaicas foram se espalhando e expulsando mais e mais palestinos.
A questão não é apenas a expansão das colônias e a expulsão dos não judeus. Apesar de momentos em que governos israelenses buscaram acordos para garantir espaços para os palestinos (Camp David, Oslo), a ideologia dominante entre os israelenses foi se perfilhando sempre mais próxima ao princípio do direito inalienável dos judeus a estas terras. Este princípio tem como corolário a limpeza étnica que foi sendo adotada por governos sempre mais à direita em Israel. Os não judeus remanescentes dentro do território sempre foram cidadãos de segunda classe, sem direitos e hostilizados pelos segmentos mais extremados do sionismo. Com este quadro de distribuição populacional, não existe mais, no mundo de hoje, espaço para um Estado Palestino, cujo embrião é a paródia de uma administração dividida entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, com muitos milhares de potenciais cidadãos ainda aglomerados em acampamentos nas fronteiras.
A estratégia de Israel é o controle total do espaço contínuo entre as fronteiras do Egito, da Síria, da Jordânia e do Líbano e o mar mediterrâneo. Para alcançar este fim vai ser preciso expulsar três a quatro milhões de pessoas. Para completar este quadro, não podemos esquecer que Israel tende cada vez mais a se tornar um Estado teocrático, regido pelas normas da religião. Como poderiam conviver com uma população não judia e em sua maioria amplíssima composta por muçulmanos?
Do outro lado, a população não judaica, com uma identidade política definida pela busca de um Estado Palestino, não tem como conviver com um Estado Judaico. A criação de um Estado palestino exigiria a retirada maciça dos colonos da Cisjordânia e de outras partes do território.
A solução alternativa à criação de um Estado Palestino é a criação de um Estado laico com direitos iguais para os defensores das diferentes confissões, não esquecendo que existem ainda minorias cristãs variadas. Mas com uns e outros cada vez mais dominados pelos diferentes fundamentalismos (Sharia para uns e Torá para outros) admitir um Estado laico e coexistir com diferentes crenças é cada vez mais uma possibilidade remota.
Tudo isso aponta para o prolongamento do impasse ad aeternum. Israel não tem condições políticas e mesmo militares, apesar do seu poderio, de realizar a limpeza étnica que lhe permitiria ter uma fronteira separando os judeus dos outros. Por outro lado, embora o Hamas não tenha a adesão clara da maioria dos palestinos, até porque não se submete a eleições desde que ganhou-as na faixa de Gaza em 2006, ele tem o suficiente de adesão, sobretudo da juventude. Esta não tem qualquer perspectiva de uma vida normal à sua frente e vive submetida a uma opressão e miséria que tem um alvo claro, o governo de Israel e um instrumento de combate também claro, o Hamas. Israel pode destruir a infraestrutura do Hamas e liquidar sua liderança, mas enquanto o sentimento de revolta estiver persistindo e enquanto houver Estados islâmicos dispostos a financiar, tudo isto pode ser reconstruído.
Resta a questão inicial deste debate: qual o limite ético de uma guerra com estas características? Massacres de civis, seja pelo Hamas ou Estado israelense, não deveriam ser admitidos, seja pelos judeus, seja pelos palestinos, mas o que transparece é a predominância das auto-justificativas. E uns como outros transmitem suas narrativas para a audiência mundial, levando à identificação do bem contra o mal por um e por outro lado. O apoio ao Hamas por ser uma força antissionista e antiamericana, esquecendo sua brutalidade contra civis desarmados e sua ideologia fundamentalista é, a meu ver, uma adesão perigosa à uma ética ou falta dela, justificando qualquer violência contra o “inimigo”, seja ele quem for, militar ou civil. Por outro lado, o apoio ao governo israelense no seu terrorismo de Estado atingindo milhões de pessoas com uma crueldade consciente, através de bombardeios, bloqueios de comida, água, energia e medicamentos, é o outro lado da moeda, agravado pelo fato de ser muito mais poderoso.
Neste complicado imbróglio, a atitude do governo Lula de defender (sintetizando a proposta) um corredor humanitário, é absolutamente correta e pode abrir um canal a ser explorado e ampliado, isolando os extremismos. Parabéns à nossa diplomacia.


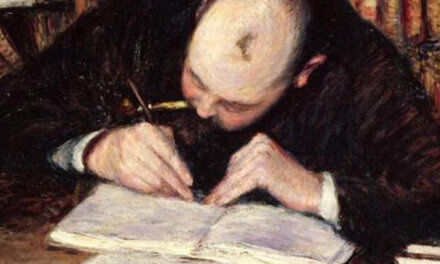











https://www.chumbogordo.com.br/435286-o-bombardeio-do-hospital-em-gaza-por-meraldo-zisman/
O bombardeio do hospital em Gaza. Por Meraldo Zisman
By Chumbo Gordo 1 dia ago
A tendência de atribuir a Israel o massacre do Hamas em Gaza é influenciado pela mentalidade antissemita que associa o ódio aos judeus à extrema direita e extrema esquerda. Mahmoud Abbas (chefe da Autoridade Palestina) apontou, em suas falas, que os nazistas não eram antissemitas, mas se opuseram aos judeus devido ao seu papel na sociedade, acusando-os de usura e sabotagem, o que significaria que os judeus provocaram o Holocausto. E completou, que Israel, provocou o ataque dos palestinos devido à sua ocupação, racismo, colonialismo e apartheid, criador das animosidades dos palestinos.Acusar Israel de estado de apartheid é simplista. Ignorar que árabes e judeus vivem juntos em muitas partes da sociedade israelense não são aludidas. Para entender a sobrevivência de Israel, será imperativo lembrar que está situado em uma região hostil com ameaças terroristas do Irã e não se resume apenas ao conflito judaico-palestino.
Gostaria de relembrar a tradicional culpa atribuída aos judeus pelos seus sofrimentos pessoais. Desde os tempos dos assassinos de Cristo até a era nazista. Sobre o gatilho da mídia por aceitar a versão do Hamas sobre o projétil que pipocou num hospital em Gaza causado por um projetil israelense, agora desmentida. Porém, sem o destaque midiático. A falsa acusação serve ao ódio ancestral aos judeus e criou um elo que une a extrema direita e a extrema esquerda. A mídia está cobrindo o conflito, disfarçando os preconceitos tradicionais antissemíticos. O antijudaísmo está sempre presente.
O conflito provoca a polarização de opiniões, unindo ideologias extremas de direita e esquerda, união aos dois extremos das ideologias políticas. Essa é uma perspectiva específica sobre o conflito que ameaça este contemporâneo. É um morfólogo que tende a atribuir a culpa aos judeus. Este que eu saiba é o mais antigo preconceito dos preconceitos da História. A culpabilização da vítima é prejudicial não apenas para as vítimas individuais, mas também para a sociedade como um todo, pois perpetua padrões de injustiça e impede a busca da justiça.
É fundamental fomentar uma cultura pautada no respeito, na responsabilidade e no apoio aos israelenses, visando à construção de uma sociedade mais justa e mais humana.
O Likud é um partido político criado em 1973. Como ele pode ter se envolvido em terrorismo durante o mandato britânico na Palestina?
Não foi o Likud. Foi o IRGUN, organização terrorista israelense que dinamitou o hotel King David, e sequestrou e matou o mediador da ONU na guerra de 1948, o Conde Bernadotte.
Minha resposta ao Clemente Rosas não foi publicada. Imagino que tenha acontecido algum problema técnico. Deste modo, tomo a liberdade de escrever, de oitiva, meu texto original, a saber: novo engano. não foi o IRGUN mas o LEHI quem atentou contra a vida do Conde Bernadotte. Nunca ouvi falar que ele tenha sido sequestrado. Vou estudar um pouco mais para entender o que aconteceu”.
É bom que estude, amigo.